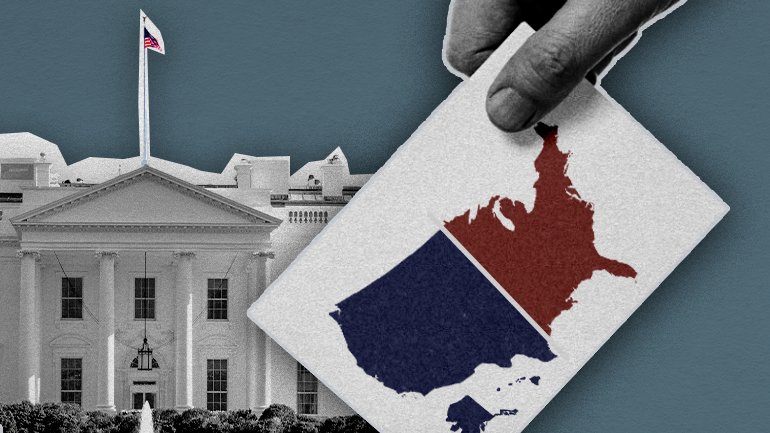|
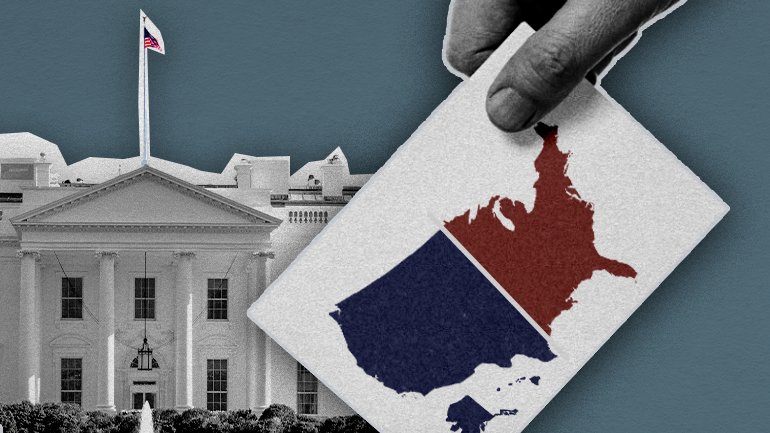
|
|

|
O que é um swing-state e porque é tão importante nas eleições? |
“Mas por que carga de água é que os democratas haviam de se preocupar com a Califórnia?!” |
Pelo conteúdo, via-se que a pergunta era retórica. Pelo tom, entendia-se que era um tanto quanto desesperada. Quem a lançou foi Dietram Scheufele, politólogo e especialista em opinião pública da Universidade de Wisconsin-Madison. Já no final da entrevista que lhe fiz na semana passada, este académico e eleitor democrata queixou-se de, em 2020, haver quem no “seu” partido pareça disposto a cometer os mesmos erros de 2016. |
“Em 2016 ganhámos o voto popular por quase 3 milhões e isso não serviu de nada porque o Wisconsin foi deixado para trás. Agora já oiço gente do partido a dizer que, desta vez, vamos ganhar o voto popular por 5 milhões”, aponta. Em 2016, essa vantagem de quase 3 milhões deveu-se muito a estados como a Califórnia — onde agora se prevê que votem com ainda mais preponderância em Joe Biden. “Mas isso serve de quê se voltarmos a perder no Wisconsin e no Colégio Eleitoral?”, inquietava-se o entrevistado. |
A perplexidade de Dietram Scheufele tem um fundo lógico: a Califórnia pode muito bem ser o estado com maior população e mais votos no Colégio Eleitoral (55 dos 270 necessários para ganhar as eleições), mas onde verdadeiramente se perde ou ganha umas eleições nos EUA é em estados como o Wisconsin. Sim, mesmo que seja apenas o 20.º mais populoso e só tenha 10 votos no Colégio Eleitoral. |
Tudo isto porque toda a gente sabe que o vencedor na Califórnia será Joe Biden (com mais de 99% de probabilidade, de acordo com o modelo do FiveThirtyEight), ao passo que, no Wisconsin, as previsões são muito mais difíceis e muito menos assertivas. E porquê? Porque o Wisconsin é um swing-state. Ou seja, um estado em que não há uma tradição forte de voto num partido ou no outro. Por isso, é ali que se decidem as eleições. |
Não só ali, claro. O número de swing-states é dinâmico e nem sempre consensual. O Real Clear Politics situa-o nos seis, o Washingston Post coloca-o nos sete, o especialista David Schultz coloca a barra nos 10 e o seu colega Scott L. McLean refere-se a 12. Certo é que são todos de extrema importância, porque cada um deles pode vir a ser decisivo. Os candidatos, por norma (mas nem sempre, como veremos), sabem disto e, por isso, não hesitam em canalizar para ali grande parte dos seus meios. Estima-se que 75% do dinheiro de campanha seja gasto ali. |
Há swing-states para todos os gostos. Os mais badalados de 2016 foram os do Rust Belt, a outrora cintura industrial dos EUA, onde se contam a Pensilvânia, o Michigan ou o Ohio — sendo que este último “acertou” no vencedor em todas as eleições desde 1896, à exceção de 1944 e 1960. Depois, há estados com zonas rurais muito vincadas, mas também núcleos urbanos decisivos, como o Wisconsin e o Iowa. Há também aqueles que, por razões demográficas, são cada vez mais swing: o Arizona e Colorado (pelo crescimento dos latinos) e a Carolina do Norte (com uma população afro-americana cada vez maior). E depois há também outros casos isolados, como o New Hampshire (estado com forte tradição libertária) ou a Flórida (com uma grande fatia de eleitorado latino, sobretudo cubano, mas tendencialmente conservador por oposição ao regime de Havana), que foi crucial nas eleições de 2000, as mais renhidas de que há memória. |
Escusado será dizer que foi precisamente por ter vencido na maioria destes estados (tirando o New Hampshire e o Colorado) que Donald Trump conseguiu vencer as eleições de 2016. Mais importante ainda, a vitória do republicano foi possível porque, daqueles oito estados, sete tinham sido conquistados na reeleição de Barack Obama em 2012 — isto é, todos menos a Carolina do Norte. |
Mas nem eram preciso tantos. Basta olhar para três estados que Donald Trump conseguiu mudar do azul (cor dos democratas) para o vermelho dos republicanos em 2016: Michigan, Pensilvânia e o Wisconsin. Há quase quatro anos, o atual Presidente dos EUA ganhou ali por 0,2%, 0,7% e 0,8% respetivamente. Ou, visto de outra forma, por 10.704, 46.765 e 22.177 votos, também por esta ordem. Tudo somado, dá 79.646. Repito: foram o votos de 79.646 pessoas que decidiram as eleições de 2016, embora o total de eleitores tenha sido 128.838.342 pessoas. Só mais um número, antes que desmaiemos todos: entre todas as pessoas que votaram há quatro anos, foi a escolha de 0,06% dos eleitores que fez a diferença. Em 2016, antes das eleições, o especialista David Schultz dizia que “são 10% dos eleitores de 10 estados que decidem quem será presidente”. Pelos vistos, às vezes até é menos do que isso. |
É por essa razão que Dietram Scheufele tinha motivos para, enquanto eleitor democrata, estar algo desesperado quando falámos na segunda-feira. Por aquela altura, Donald Trump aterrava em Kenosha (a cidade do Wisconsin que foi palco depois de violentos motins), depois de um jovem membro de uma milícia armada ter morto dois manifestantes que protestavam a propósito do caso de um afro-americano alvejado sete vezes nas costas por um polícia durante uma detenção. E, enquanto isso, Joe Biden hesitava em dar esse passo (que acabou por dar dias depois, como poderá ver mais à frente nesta newsletter). |
Esta hesitação reavivou rapidamente algumas comichões que remetem para um grande trauma democrata: o Wisconsin em 2016. É que, apesar de ser um estado renhido, os democratas venciam ali desde 1988. Em 2016, essa história mudou de figura, com Donald Trump a “roubar” o Wisconsin para o seu lado. Porque é que isto aconteceu? As explicações são várias: o eleitorado das minorias não participou tanto quanto o que se esperava; Donald Trump conseguiu ganhar eleitores na abstenção; os brancos sem escolaridade saíram massivamente para votar no republicano; etc. É tudo verdade, mas também há outra coisa que desde então se tornou numa das frases mais ditas entre os corredores democratas (e não só) da política norte-americana: “Ela não foi ao Wisconsin”. “Ela”, isto é, Hillary Clinton, que durante a campanha não pôs os pés naquele estado. |
No livro de memórias da campanha de 2016, “What Happened”, a democrata recusou ter ignorado estados, mas admitiu surpresa sobretudo no Wisconsin: “Se houve um sítio em que fomos apanhados de surpresa, então esse sítio foi o Wisconsin. As sondagens mostravam-nos confortavelmente à frente até ao fim”. |
Por isso é que, do outro lado do telefone, Dietram Scheufele questionava: “Mas por que carga de água é que os democratas haviam de se preocupar com a Califórnia?!”. E, com tudo isto, outra inquietação que não foi dita, mas estava mais do que evidente: por que carga de água é que Joe Biden hesitava em ir ao Wisconsin? No fundo, metaforicamente, a preocupação era a de ver chover tanto no molhado da Califórnia quando no Wisconsin há um grave risco de seca. A verdade é que, no final de contas, acabou por ir na quinta-feira. Desde então não voltei a falar com Dietram Scheufele, mas talvez agora esteja mais calmo. |
O que aconteceu esta semana |

|
|
Na terça-feira, Donald Trump aterrou em Kenosha, no Wisconsin. Quando o Presidente dos EUA chegou àquela cidade de 99 mil habitantes, os motins já tinham parado há quatro dias. Mas, como escreveu a Associated Press, o cheiro a cinzas ainda pairava no ar. A primeira paragem de Donald Trump foi frente a uma loja de fotografia — uma das 30 que foram vandalizadas durante os motins. Mais tarde soube-se que o homem que foi apresentado como dono da loja, na verdade, já a tinha vendido há 9 anos a ex-empregados. |
De qualquer modo, Trump aproveitou o momento para fixar o seu ponto: o de que os problemas criados pelos autarcas e governadores democrata seriam resolvidos pela sua administração republicana. Primeiro, sobre o envio de agentes federais para fazer frente aos motins, mas que só podem ir para o terreno se os governadores assim o pedirem, disse: “Infelizmente, passaram alguns dias sem que nos chamassem. Eles não queriam que nós viéssemos. Não nos queriam cá e a destruição ficou feita. Se tivesse sido um dia antes, teríamos salvado a sua loja”. Depois, que seria o Governo federal a resolver o problema: “Vamos trabalhar convosco. Vamos ajudá-lo. Okay? Vamos ajudá-lo na reconstrução. É uma zona excelente, é um estado excelente. Isto nunca devia ter acontecido. Uma coisa destas nunca devia acontecer. Eles têm de nos chamar mais cedo”. |

|
- … e Biden também (e começou a campanha fora de portas)
|
O plano inicial dos democratas era pôr Joe Biden a fazer campanha fora de portas só a partir desta terça-feira (8 de setembro), mas rapidamente o ex-vice-Presidente se apressou. Primeiro foi a Pittsburgh, na Pensilvânia, onde praticamente só falou de Kenosha e das suas ondas de choque. E depois foi a Kenosha, na quinta-feira (3 de setembro). |
Primeiro, esteve com a família de Jacob Blake (com o qual falou, também, por telefone) e depois fez uma visita a uma igreja luterana frequentada sobretudo por afro-americanos, onde falou sobre racismo perante um grupo muito reduzido de pessoas. Ali, garantiu que ia “dar tudo por tudo pela igualdade racial” e acusou Donald Trump de “legitimar um lado negro da natureza humana”. E sobrou ainda espaço para uma gaffe. Numa altura em que falava do seu plano para a redução de impostos aos mais pobres e via que a plateia começava a perder o foco nas suas palavras, disse: “Podia dar aqui os detalhes, mas não vou, ou ainda me dão um tiro”. Mais gaffe, menos gaffe, a verdade é que Biden saiu à rua — o que pode levar uma aceleração da campanha que só terminará a 3 de novembro, dia de votos para estas eleições. |

|
- Acusado de insultar veteranos de guerra, Trump defende-se
|
A revista The Atlantic publicou um artigo onde cita “várias fontes”, sempre em anonimato, que apontam para uma suposta postura de desprezo por parte de Donald Trump perante veteranos de guerra, em especial para aqueles que ou morreram ou ficaram feridos em combate. Numa viagem oficial a França, em 2018, Donald Trump terá rejeitado ir a um cemitério onde estão enterrados vários soldados norte-americanos. “Porque é que eu haveria de ir a um cemitério? Está cheio de falhados”, terá dito, de acordo com uma daquelas fontes. Numa reunião, também naquele ano, quando planeava uma parada militar em Washington D.C., Trump terá insistido para que não estivessem lá soldados amputados. “Ninguém quer ver isso”, terá dito. |
O Presidente norte-americano negou quaisquer acusações deste tipo e recorreu ao Twitter para se dizer vítima de uma “campanha de desinformação maciça de uma dimensão nunca antes vista” e disse que a The Atlantic é uma revista “da esquerda radical que é dirigida por um aldrabão (Goldberg) e que expele NOTÍCIAS FALSAS & ÓDIO”. |
Entretanto, Jeffrey Goldberg mantém o conteúdo dos seus artigos e disse à CNN que “nos próximos dias e nas próximas semanas” dará conta de “mais confirmações e mais informações”. |