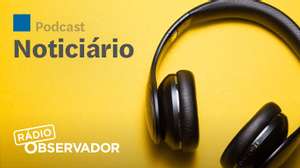“A educação não deve ter como objetivo fazer com que as pessoas se sintam confortáveis, mas fazê-las pensar.”
Hanna Holborn Gray
1 O momento Halloween
É provável que todos aqueles que acompanham o que tem vindo a acontecer nos campi norte-americanos tenham o seu momento-de-verdadeiro-espanto, isto é, aquele momento em que os olhos se reviraram nas órbitas, a boca se entreabriu e demos por nós a pensar que isto não é normal, que tem de haver alguma coisa de muito errado com aqueles jovens, que o mundo se tornou num lugar demasiado estranho. O meu momento-de-verdadeiro-espanto é a controvérsia sobre o Halloween que teve lugar na Universidade de Yale em 2015. (Por uma questão de espaço e tempo, terei de resumir o que aconteceu, mas o artigo publicado na The Atlantic é muito completo.)
Como quase tudo na nossa nova vida digital, esta história começa com um e-mail. Neste caso, um e-mail enviado, pouco antes do Halloween de 2015, por membros da administração da Universidade de Yale com indicações sobre o tipo de trajes que os estudantes deveriam evitar nessa noite, considerando as novas preocupações morais relativas à apropriação cultural e aos comportamentos ofensivos para as minorias. Em resposta, Erika Christakis, responsável, juntamente com o seu marido Nicholas, pelo Silliman College (uma das residências da universidade), enviou um e-mail aos estudantes dessa residência com o objetivo de provocar a reflexão: como especialista em desenvolvimento infantil, Erika recordou que o Halloween foi sempre um momento de transgressão das crianças e dos jovens que os adultos tentaram controlar, e desafiava os estudantes a refletir sobre se aquele e-mail com indicações sobre o que vestir não seria mais uma tentativa de os adultos exercerem controlo sobre os mais jovens, limitando a sua liberdade.
“Será que não há espaço para uma criança ou um jovem ser um pouco desagradável… um pouco inapropriado ou provocativo ou, sim, ofensivo? As universidades norte-americanas foram outrora um espaço seguro não apenas para o amadurecimento, mas também para uma certa experiência regressiva, até mesmo transgressiva; cada vez mais, ao que parece, tornaram-se espaços de censura e proibição. E a censura e a proibição vêm de cima, não de vós! Será que estamos todos de acordo com essa transferência de poder? Será que perdemos a fé na capacidade dos jovens – na vossa capacidade – de exercer autocensura, através de regras sociais, e também na vossa capacidade para ignorar ou rejeitar coisas que vos incomodam?”
Partilhava ainda a posição do marido:
“O Nicholas diz: se não gostarem de um traje que alguém está a usar, desviem o olhar ou digam a essa pessoa que ficaram ofendidos. Falem uns com os outros. A liberdade de expressão e a capacidade de tolerar ofensas são os pilares de uma sociedade livre e aberta.”
É provável que nenhum professor a lecionar em universidades norte-americanas hoje, oito anos volvidos, se atrevesse a dizer algo como isto, tentando promover a reflexão, com apelo ao bom senso, diálogo e livre troca de argumentos. Mas Erika e Nicholas ainda não estavam preparados: em resposta ao seu e-mail, o casal foi sujeito a uma campanha de humilhação pública, com protestos, insultos e pedidos de demissão.
Os vídeos que mostram Nicholas Christakis a tentar conversar com os estudantes são pungentes pela sua tentativa frustrada de aplicar com aqueles jovens os tradicionais termos de discussão racional e equilibrada. Mas os estudantes, debaixo de uma enorme carga emotiva, pretendiam tudo menos uma conversa razoável:
“ – Na sua posição de responsável, é sua função criar um espaço de conforto e de lar para os estudantes que vivem em Silliman. Você não fez isso. Ao enviar aquele e-mail está a ir contra a sua posição de responsável. Entende isso?!
– Eu não concordo com isso, respondeu Nicholas.
– [aos gritos] Então por que [palavrão] aceitou a posição?! Quem [palavrão] o contratou?! Deveria demitir-se! Se é o que pensa sobre ser responsável, deve demitir-se! Isto não é sobre criar um espaço intelectual! Não é! Entende isso? É sobre criar um lar. Você não está a fazer isso!”
Para o caso de a minha descrição não ter sido suficientemente clara, vou repetir-me: eles estão a protestar porque se sentiram ofendidos, magoados, violentados… com um e-mail. Passemos ao ciclismo.
2 Trauma, dano e violência
Para quem nasceu na década de 1980 em Portugal, é difícil que as memórias de infância do Verão não misturem calor, saudades da escola e demasiado tempo livre com imagens da Volta a Portugal, seguida com entusiasmo por todos. Henrique Casimiro deve guardar memória desse tempo: com 37 anos, foi um dos ciclistas mais experientes na Grandíssima de 2023 e falou à RTP sobre diferenças geracionais:
“Não gosto de dizer ‘no meu tempo’, porque ainda estamos aqui todos, mas noto que desanimam mais facilmente. Eles nos momentos difíceis vão-se abaixo. Se calhar porque as coisas foram muito facilitadas; hoje em dia tenta-se dar todas as condições e não se passa aquele processo. É preciso ter algumas desilusões ou ter alguns momentos menos bons para crescer.”
Há quem levante obstáculos a este tipo de reflexão por entender que se está a generalizar comportamentos e a culpar os mais novos. Mas afasto-me dessa crítica: em sentido contrário, se há algum problema com as gerações mais novas, ele será responsabilidade das gerações mais velhas, que, procurando criar uma vida e um mundo melhor para as novas gerações, acabaram por gerar uma série de problemas. E embora neste tipo de análise se corra sempre o risco de generalizar, não deixa de ser importante identificar as tendências que se notam entre os mais novos, uma vez que essas reflexões já estão a ser feitas em outros países ocidentais e podemos usá-las para compreender melhor o que está a acontecer entre nós.
Em bom rigor, não se trata de uma reflexão nova. Num dos textos canónicos do feminismo, publicado em 1963, Betty Friedan afirma:
“E novos e estranhos problemas têm vindo a ser relatados sobre as gerações de crianças que estão a crescer com mães que estiveram sempre presentes, conduzindo-os de um lado para o outro, ajudando-as com o trabalho de casa – uma incapacidade dos rapazes e raparigas que estão a entrar nas universidades hoje para suportar a dor ou a disciplina ou de procurar qualquer autossuficiência.”
Mas o tema tem sido revisitado com cada vez mais frequência em estudos que revelam um mesmo padrão social: a aceitação generalizada da ideia de que as crianças são extremamente frágeis e que precisam, por isso, de ser superprotegidas.
É precisamente sobre este argumento que se debruçam o psicólogo social Jonathan Haidt e o jurista Greg Lukianoff em The Coddling of the American Mind (infelizmente, ainda não traduzido entre nós), de 2018: os autores procuram explicar a mudança que se tem vindo a verificar nos campi norte-americanos com as novas gerações de estudantes a exigir cada vez mais limitações à liberdade de expressão (desde cancelamentos de conferências, avisos para possíveis conteúdos traumatizantes ou criação de espaços seguros).
A particularidade da sua abordagem é que não se dedicaram a uma análise política dessa mudança, mas focaram-se nas justificações que eram dadas para essas exigências: os estudantes utilizam uma linguagem medicalizada, considerando que “certos tipos de discursos – e mesmo o conteúdo de alguns livros e disciplinas – interferiam com a sua capacidade de funcionamento (ability to function). Eles queriam ser protegidos de material que acreditavam poder pôr em risco a sua saúde mental ao ‘espoletar traumas’ ou ao fazê-los ‘sentirem-se inseguros’”.
O livro reflete sobre vários fatores que terão concorrido para a criação de uma geração emocionalmente tão frágil. Alguns deles resultam do contexto especificamente norte-americano, mas os restantes são pontos de partida fundamentais para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, devemos ter em conta o surto de problemas mentais (sobretudo associados a ansiedade e depressão) que marca esta geração. Razão importante para este surto encontra-se no facto de esta ser a i-Gen (geração-internet), que cresceu com telemóveis-espertos nas mãos e, nessa medida, com menos vida social e menos vida não supervisionada por adultos. Particularmente relevante é o facto de os estudos revelarem que este surto afeta com mais prevalência as raparigas (o que, por sua vez, tem sido relacionado com o surto de transição sexual ou de género que as afeta mais). Em segundo lugar, os autores referem a “paranoia parental” que tende a superproteger as crianças, controlar todos os aspetos das suas vidas e estimular muito pouco a sua autonomia, supervisionando todas as atividades e relações sociais. Em terceiro lugar, os autores avançam o argumento do declínio do jogo, isto é, o facto de as crianças brincarem cada vez menos e pouco sem a supervisão dos adultos, o que se traduz em limitações sociais graves: não aprendem a criar regras autonomamente e não desenvolvem competências psicológicas essenciais para se tornarem adultos mentalmente saudáveis e capazes de funcionar adequadamente.
3 Prepare a criança para a estrada, e não a estrada para a criança
O argumento de Haidt e Lukianoff parte da seguinte metáfora: da mesma forma que o aumento da intolerância ao amendoim (nuts em geral) registado nas últimas décadas resultou da decisão de evitar que as crianças entrassem em contacto com nuts, também a crescente fragilidade emocional das gerações mais jovens resulta do facto de eles terem sido demasiado protegidos das adversidades. Assim como as crianças devem ser expostas gradualmente a substâncias capazes de causar intolerância alimentar para que o sistema imunitário se vá desenvolvendo, também as adversidades, as dificuldades, os obstáculos, o esforço e mesmo a dor ou sofrimento devem fazer parte da vida das crianças para que elas se tornem emocionalmente mais resilientes.
É desnecessário dizer que os pais, familiares ou professores não têm como objetivo prejudicar as crianças: os atos de proteção são sempre justificados com amor, preocupação e a biológica necessidade de oferecer uma vida mais segura e confortável. Os efeitos têm sido, no entanto, muito prejudiciais. Em I find that offensive, Claire Fox consagrou a expressão “generation snowflake” (geração floco de neve) para se referir a essa geração que, tendo sido educada na cultura do cuidado (“care”), nomeadamente com a obsessão em torno do bullying e dos traumas, se tornou incapaz de lidar com as dificuldades da vida real, nomeadamente com opiniões diferentes das suas, fazendo equivaler ideias ou palavras a atos de violência.
Em sentido contrário, deveríamos educar as crianças para saberem lidar com a adversidade e regressar a um modelo educativo em que o objetivo não seja proteger emocionalmente os estudantes mas torná-los mais fortes ao sujeitá-los a ideias exigentes, provocativas e até ofensivas.
4 A geração fada-dos-dentes
A mesma geração que se lembra da Volta a Portugal recorda-se também de uma liberdade perdida: ir a pé para a escola, brincar com os amigos na rua até à hora de jantar, não ter telemóvel. Em Portugal, as últimas décadas têm sido marcadas por um modelo de parentalidade que, à semelhança do que tem acontecido em muitos países ocidentais, visa proteger as crianças das adversidades, o que exige o controlo de quase todas as dimensões das suas vidas. Basta pensar nos pais que ajudam os filhos a fazer os trabalhos de casa quando já estão no secundário; ou naqueles que sabem todas as datas e notas dos testes; naqueles que os levam sempre à escola de carro e no Verão os vão buscar à discoteca de madrugada. Ainda que carregados de boas intenções, o problema é que quando os alunos chegam à universidade são muito pouco autónomos e continuam a exigir a proteção dos adultos (quantos professores não são contactados pelos pais de alunos universitários? e como interpretar o número crescente de jovens adultos que não tiram carta de condução?).
Esta diferença geracional pode ser simbolicamente representada entre nós pela generalização da figura da fada-dos-dentes, que passou de uma presença residual na nossa cultura para um recurso quase obrigatório no crescimento das crianças. E tal como Haidt e Lukianoff afirmam, a relevância não está na presença deste mito, que tem uma longa história na tradição cultural de muitos países, mas nas justificações que são dadas para usá-lo: o que encontramos nos blogs sobre parentalidade é a ideia de que a fada dos dentes é uma forma de tornar a queda dos primeiros dentes menos traumatizante, pois ajuda a diminuir a ansiedade, a lidar com a angústia emocional e o medo de perder coisas e sentir dor. O resultado é que um acontecimento que deveria ser encarado como normal e banal na vida das crianças passa a ser enquadrado como possível trauma e fonte de dano emocional – exigindo dos pais uma proteção imaginativa.
É esta geração que chega hoje às universidades portuguesas, agravadas emocional e intelectualmente pelos anos de pandemia: são emocionalmente mais frágeis, revelam dificuldade em lidar com o stress e as exigências do ensino superior e tendem a interpretar qualquer adversidade como um desafio inultrapassável. Não é por isso surpreendente o estudo, noticiado pelo Público, que releva níveis elevados de stress e dificuldade emocional nos alunos da Universidade de Lisboa.
A experiência de quem leciona no ensino superior é a de que o número de alunos que chega impreparado é cada vez maior e isso acontece não só em termos de competências intelectuais e de conhecimento, mas também em termos de competências emocionais. A consequência tem sido a de pressionar as universidades para que acomodem as características das novas gerações e corrijam a sua missão e a sua exigência, nomeadamente facilitando no processo de avaliação para que não se torne traumatizante para os alunos. E como aprendemos com os outros países, não levará muito tempo até que isto se reflita nas dimensões do pluralismo político e intelectual: aliás, a notícia do Expresso sobre o protesto na Universidade do Minho contra o assédio universitário referia o caso de uma aluna que “pegou no megafone para mostrar o descontentamento com um e-mail antiaborto que circulou no mail da instituição” e que “sentiu ‘vergonha’ pela instituição não se pronunciar sobre o assunto” (subentende-se: não condenar o envio de um e-mail com ideias tão inaceitáveis).
Boas intenções têm muitas vezes maus resultados. Mas se não estamos a preparar os mais novos para a estrada, não está na altura de falarmos sobre o assunto?