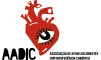O AVC uma das principais causas de morte e incapacidade em todo o mundo, arrastando consigo um vasto impacto, não só na saúde física, mas também na vida emocional e social dos sobreviventes e das suas famílias.
O caminho da recuperação é muitas vezes um desafio, mas quase sempre pesado demais para quem o tem de vencer e exige muito mais do que a reabilitação física e cognitiva, na medida em que carrega alterações na qualidade de vida e adaptação a novas limitações.
Sou assistente social há 31 anos e trabalho desde sempre na área hospitalar. Foi sempre a minha primeira escolha e, por isso, considero-me uma afortunada, mas muito consciente do quão complexa e emocionalmente desgastante é esta profissão. Neste percurso hospitalar cruzei-me com centena de vidas, com centenas de sobreviventes de AVC e, posso assegurar que todos exigiram, uma intervenção diferente e, em todas aprendi sempre algo de profundo, que guardei com muito carinho na essência do meu ser.
Neste artigo, decidi partilhar a minha experiência, como filha de uma sobrevivente de AVC, e do modo como vivenciei de perto os aspectos sociais, humanos e afectivos que envolvem essa condição.
Recordo-me de que o dia amanheceu cinzento, era véspera de Natal. Até então, uma época envolta numa aura de magia e de sonho, e que naquele ano, me presenteou da pior forma. Uns anos mais tarde tomei consciência de que na verdade o que aconteceu foi quem sabe um milagre de Natal, porque apesar dos pesares, a minha mãe foi uma sobrevivente.
Lembro-me das palavras que antecederam a minha saída: “Vai e diverte-te filha …estás tão bonita!”. Eu saí, sorri e despedi-me com um “até já mãe, feliz Natal”. Foi entre risos e conversas soltas que recebi a chamada que mudaria a minha vida, a da minha mãe e a de toda a restante família.
A minha mãe não se encontrava bem e necessitava de ajuda imediata… Senti no peito o aperto da pressa e da ansiedade. Quando ao lado dela, na maca, não me reconheceu, as lágrimas teimaram em cair, apesar do esforço e da dor na garganta para as conseguir engolir.
Ficou internada. Nem ela passara até aquela data uma noite sozinha, nem nós, uma noite sem ela. E independentemente de ser assistente social num hospital, estava completamente perdida. Era somente refém do medo, da dor e do desespero. Por momentos olhei aquele corpo deformado na maca, pareceu-me mais pequeno, mais magro. Os olhos vagueavam perdidos num nada, onde apenas se ouviam os apitos sonoros dos monitores a que se encontrava ligada. Dei comigo a pensar que aquele corpo, em nada parecia a minha mãe.
Onde se escondia a mulher forte alegre e sempre pronta para nos apoiar? Onde estava o alicerce da família? Foi o que tivemos de descobrir através duma árdua, difícil e, sofrida caminhada. Aos poucos, o olhar da minha mãe mostrava sinais de vida. Porém, a sua fala continuava distorcida e a impedir a comunicação connosco da forma como antes o fazíamos. Só metade do seu corpo obedecia a ordens e limitava a autonomia a que estávamos habituados. A minha mãe era naquele momento refém do seu próprio corpo.
Compreendi que tinha chegado a nossa vez de ser o pilar, a estrutura forte e bem sedimentada para sustentar e balizar toda a tristeza, preocupação e frustração, que frequentemente tomava a minha mãe de assalto, lançando-a numa espiral de desesperança.
O apoio emocional foi crucial para a ajudar a lidar com emoções inesperadas, garantindo que mantivesse uma atitude positiva face à sua recuperação. A nossa presença constante, o encorajamento e o amor foram um estímulo poderoso, para que conseguisse enfrentar os desafios da reabilitação com determinação, esperança e fé.
Quando a alta surgiu, uma centelha de luz dançou no seu olhar e no nosso, mas o medo e a insegurança também. Chegara o dia tão esperado e tão temido, era mais que certo que só o apoio emocional não chegava. Tínhamos, tal como ela, novos desafios e dificuldades e era preciso reinventar novos modos de estar e sentir.
Passámos a ter um papel mais importante na sua assistência prática e nos cuidados diários, como preparar as refeições, ajudar na higiene pessoal, estar presentes no acompanhamento às consultas médicas, reabilitação, gestão e organização da terapêutica.
Tinha 25 anos quando via a minha mãe despida, pela primeira vez, no primeiro banho que lhe dei. Foi difícil! Não pela tarefa em si, mas essencialmente por ter receio de devassar a sua privacidade, ela que sempre tivera tanto pudor em se mostrar. Houve um primeiro momento, em que ambas estávamos envergonhadas, mas ao mesmo tempo, foi nesse instante que nasceu uma nova cumplicidade entre as duas.
O tempo, a repetição das tarefas e o humor acabaram por trazer alguma normalidade nesta rotina. Abraçámos com união e empenho esta nova fase da família. Deixou de haver um sobrevivente de AVC, mas sim uma família que queria sobreviver a esse AVC, e tornar-se mais forte.
Fomos, aos poucos, tornando-nos porta-voz da minha mãe garantindo que os seus desejos, preocupações e necessidades fossem comunicados de forma clara e assertiva. Tornámo-nos os seus “advogados” por forma a assegurar, que tivesse acesso a todos os recursos disponíveis para a sua reabilitação e bem-estar.
Tudo isto agora parece ter sido fácil. A verdade é que todas estas alterações nos trouxeram momentos de grande cansaço, frustração, por vezes, algum desânimo.
O tempo foi passando indiferente, e o que inicialmente nos parecia tão pesado, já não assumia uma proporção tão assustadora. Em paralelo, os laços familiares entre nós estavam muito mais fortalecidos. A superação conjunta dos obstáculos, o apoio mútuo e a partilha de experiências criaram uma maior conexão e compreensão entre todos, transformando-nos numa fonte de conforto, força e resiliência.
Aprendi a importância do amor e da união familiar perante as adversidades.
Aprendi que a sociedade ainda não está totalmente preparada para apoiar o sobrevivente de AVC e não está em nada preparada para apoiar as suas famílias ou cuidadores, tantas vezes, tão injustamente esquecidas, negligenciadas e mal interpretadas.
Eu fui cuidadora, filha, mulher, amiga, enfermeira, advogada, da minha mãe e reconheço que é imperativo que se reconheçam os desafios enfrentados por nós, cuidadores, que possamos ter um suporte integral, com grupos de auto-ajuda e partilha, workshops, sobre como prestar cuidados, estratégias para se ligar com sentimentos e emoções negativas, grupos de apoio voluntário, para assumir cuidados durante umas horas ao utente, para os familiares terem um pouco de tempo para si. Que se criem condições especiais para trabalhadores cuidadores. Que existam equipas de apoio domiciliário, com maior cobertura e multiprofissionais de acordo com as necessidades de cada sobrevivente, mas também de cada família.
A minha mãe foi uma sobrevivente, mas nós também fomos uma família sobrevivente de AVC. Por ela.
Madalena Barros licenciou-se em Serviço Social, em 1991, e começou por trabalhar no Hospital Garcia de Orta. Aceitou depois o convite para integrar a equipa de Serviço Social do Hospital Professor Dr. Fernando da Fonseca, onde trabalha há quase 30 anos. Foi cuidadora da mãe depois de ter um AVC.
Arterial é uma secção do Observador dedicada exclusivamente a temas relacionados com doenças cérebro-cardiovasculares. Resulta de uma parceria com a Novartis e tem a colaboração da Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca, da Fundação Portuguesa de Cardiologia, da Portugal AVC, da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral, da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose e da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. É um conteúdo editorial completamente independente.
Uma parceria com:

Com a colaboração de: