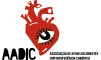25 de dezembro de 2014. É impossível esquecer a data e o momento em que tudo aconteceu. O mais parecido que tinha sentido até àquele momento foi uma paragem de digestão. A pressão que sentia no peito passou para o braço esquerdo, algum tempo depois. Decidi ir com um primo à urgência do Hospital Amato Lusitano – Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, mas o diagnóstico não foi célere.
Inicialmente fui medicada para sintomatologia gástrica. Mas, como não melhorei, e perante a resposta afirmativa de que tomava a pílula e fumava, fizeram-me um eletrocardiograma e análise ao sangue. Os resultados indicaram a suspeita de que estaria a ter um enfarte agudo do miocárdio. Eu tinha 34 anos.
Só um dia depois é que fui referenciada para o Hospital de Santa Marta, em Lisboa, para a realização de um cateterismo. Fui transportada de ambulância, acompanhada por uma enfermeira. No regresso, foi preciso fazer uma paragem forçada no Hospital de Vila Franca de Xira porque o oxigénio não era suficiente para o resto da viagem até Castelo Branco.
A confirmação definitiva de diagnóstico só chegou passado um mês com a realização de uma ressonância magnética que fui fazer a Coimbra.
A história que partilho é pessoal mas reflete desafios que muitos enfrentam. Como sobrevivente de um enfarte agudo do miocárdio, procuro incessantemente desde então saber mais sobre o que me aconteceu, na expectativa de aprender a gerir a minha condição e a lutar contra barreiras geográficas.
A minha experiência poderia ter sido fatal, dada a ausência de salas de hemodinâmica [sala específica para a realização de exames invasivos e intervenções na área de cardiologia] no distrito de Castelo Branco. Estive um mês internada e fui privada do acesso, e até do conhecimento da existência, a reabilitação cardíaca, essencial para melhorar a minha capacidade funcional, qualidade de vida e sobrevida.
A primeira fase de reabilitação cardíaca deve começar no internamento. À data que escrevo este texto, nove anos depois, esse serviço e a sala de hemodinâmica ainda não existem na cidade onde moro.
A disparidade entre ser doente cardíaco no interior de Portugal em comparação com o litoral é imensa. Atualmente não tenho acesso a cardiologista, a uma equipa multidisciplinar, nem à necessária reabilitação cardíaca vitalícia, como ditam as melhores práticas nacionais e internacionais.
Sinto-me lesada pelo Estado português no que respeita aos meus direitos de saúde. Basta aceder a vários artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Comissão Europeia dos Direitos do Homem, da Constituição da Organização Mundial de Saúde, entre outros, para perceber que não estou salvaguardada.
Só em 2017 tive conhecimento da existência e das mais-valias de reabilitação cardíaca, através de uma notícia na televisão. Nesse mesmo ano dirigi-me ao meu cardiologista no Unidade Local de Saúde de Castelo Branco para solicitar a minha referenciação para o Programa de Reabilitação Cardíaca, mas não foi possível fazê-lo através do Serviço Nacional de Saúde. Fiz a mesma tentativa junto da minha médica de família, mas também sem sucesso.
Em 2018, quatro anos depois de ter o enfarte, acabei por conseguir fazer 16 sessões de reabilitação cardíaca – fase II [realizada em ambulatório possibilitando o acesso, a curto-médio prazo, a serviços de prevenção e de reabilitação aos doentes após a alta], no Hospital de Santa Marta, em Lisboa, depois de ter enviado um e-mail a solicitar o devido acesso. Graças ao apoio familiar foi possível permanecer na capital durante a semana, para conseguir ter acesso a este tratamento.
Consoante fui realizando as sessões, fui percebendo que o meu cansaço foi diminuindo. Foi quando pensei que seria necessário levar a Reabilitação Cardíaca de fase III (comunitária e para o resto da vida) para a minha cidade. Falei com a então diretora da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, a quem sugeri esta possibilidade, mas apesar de a instituição ter uma clínica pedagógica, a hipótese foi descartada.
Diz a evidência que o benefício da fase II é tanto maior quanto mais se adotam novos estilos de vida. Mas, por outro lado, os ganhos obtidos nessas sessões são perdidos ao final de seis meses de interrupção da reabilitação. Foi o que aconteceu comigo. Depois do término das 16 sessões, devidamente monitorizada e acompanhada, fui perdendo paulatinamente a capacidade funcional e a qualidade de vida. Não consegui reproduzir o que me tinham ensinado e o que tinha realizado, em segurança, no hospital, sobretudo por medo.
Aos 19 anos, fui diagnosticada com hipercolesterolemia [taxas muito elevadas de colesterol total ou LDL, o “mau” colesterol], mas, ainda hoje, não sei se é ou não de base familiar. Apesar disso e de ter histórico familiar de patologias cardíacas e diabetes, o meu risco cardiovascular nunca foi estratificado no SNS.
Portugal é um país pequenino, mas as desigualdades do acesso a cuidados de saúde cardiovascular são imensos, seja na promoção, na prevenção, no tratamento, na reabilitação ou nos cuidados paliativos.
Em Castelo Branco, onde resido, as estatísticas apuradas pelo Perfil Local de Saúde 2021, realizado pelo ACES Beira Interior Sul, revelam “28% das mortes relativas a doenças cardiovasculares”. Existe apenas um cardiologista para cerca de cem mil utentes, com à volta de trinta mil pessoas a lutar contra hipertensão, a inexistência de sala de hemodinâmica e helicóptero de emergência médica… E, já sabemos, que neste tipo de patologias, cada segundo conta.
Não me sinto detentora dos meus dados de saúde que estão dispersos por diferentes unidades de saúde e por aplicações de sensores vestíveis [que permitem monitorizar a saúde em tempo real] e dispositivos médicos. Os meus dados deveriam estar centralizados no meu cartão de cidadão, sendo eu a única portadora, através de acesso personalizado, com definição de permissões, por uma questão de segurança.
Refiro-me a dados, como alergias, medicação crónica, doenças diagnosticadas, exames complementares de diagnóstico, histórico familiar de patologias, registos de medições como glicemia e hipertensão, etc, que podem garantir maior acessibilidade e segurança, colocando nas nossas mãos, algumas das soluções para gestão da nossa saúde.
Enquanto doente crónica, existem três medicamentos que preciso de tomar todos os dias para sobreviver, um deles, duas vezes ao dia. São fármacos caros.
- O rivaroxabano contém 42 comprimidos, tem um preço de venda ao público [à data de publicação desta crónica] de 91,42 euros e o Estado comparticipa 70%. Custa-me 28,35 euros.
- O sacubitril/valsartan, que tenho de tomar duas vezes ao dia, é disponibilizado numa embalagem de 56 comprimidos, custa 142,93 euros, o Estado comparticipa aproximadamente 70%. O que significa que para mim custa 44,31 euros.
- A dapagliflozina tem o PVP de 42,78 euros, numa embalagem de 28 comprimidos, com uma comparticipação do Estado Português em 90%, traduzindo-se num custo final de 4,28 euros.
Perante isto, existem duas dúvidas que me assolam. Se estes medicamentos devem ser tomados de forma prolongada diariamente porque é que as embalagens não têm todas 30 ou 60 compridos para que cheguem, pelo menos, para um mês? Por outro lado, se as doenças cardiovasculares são crónicas e até matam mais do que a diabetes, porque é que os medicamentos aprovados para maximizar os meus ganhos em saúde cardiovascular e qualidade de vida, não têm todos uma comparticipação de 90%?
Gostaria ainda de destacar outra questão que me preocupa. Os níveis elevados de peptídeo natriurético tipo-B no sangue foram associados à insuficiência cardíaca e a medição do BNP ou do NT‐proBNP tornou-se comum para o diagnóstico e avaliação da gravidade da doença. A análise, facilmente disponível, não é comparticipada nos cuidados de saúde primários e custa cerca de 50 euros aos utentes que não tenham acesso a cardiologista num hospital, como é o meu caso.
Apesar dos desafios e obstáculos que enfrentamos, acredito firmemente que, ao unirmos as nossas forças — sociedade civil, pacientes, profissionais de saúde, sociedades científicas e decisores políticos — podemos traçar um caminho rumo a uma realidade mais promissora para a saúde cardiovascular em Portugal.
Investir na reabilitação cardíaca não é uma despesa. É gerar qualidade de vida e caminhar para a Cobertura Universal de Saúde consagrada na Constituição da República Portuguesa. A minha jornada, embora individual, reflete um apelo global para garantir que ninguém seja deixado para trás na busca por uma saúde plena e acessível a todos.
Sofia Monteiro tem 43 anos, é sobrevivente de enfarte agudo do miocárdio, ativista pelos direitos dos doentes cardíacos, cuidadora informal e aluna da Academia Activos pela Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública.
Arterial é uma secção do Observador dedicada exclusivamente a temas relacionados com doenças cérebro-cardiovasculares. Resulta de uma parceria com a Novartis e tem a colaboração da Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca, da Fundação Portuguesa de Cardiologia, da Portugal AVC, da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral, da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose e da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. É um conteúdo editorial completamente independente.
Uma parceria com:

Com a colaboração de: