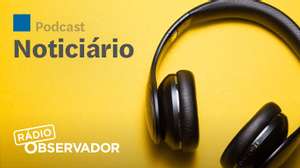Desde meados dos anos noventa do século passado, em consequência da queda do Muro de Berlim e da desagregação da URSS, as vitórias desportivas nas competições internacionais, para além das olímpicas disputas no âmbito da Guerra Fria entre os EUA e a URSS e seus satélites, começaram a ser valorizadas pelos Governos da generalidade dos países como, até então, nunca tinha acontecido. E as democracias liberais que estavam, sobretudo, interessadas em criar condições de acesso generalizado das populações à prática desportiva, começaram a olhar para os resultados nos grandes eventos porque, no quadro da economia global, as vitórias desportivas internacionais passaram a assumir uma inusitada importância política:
(1.º) Do ponto de vista interno, no âmbito do entorpecimento social, transformaram-se num dos melhores afrodisíacos para o poder instituído;
(2.º) Do ponto de vista externo, no quadro do neomercantilismo global, tornaram-se num excelente catalisador de negócios.
A partir de então, independentemente de os países serem grandes ou pequenos, ricos ou pobres, autocracias ou democracias, as vitórias nas competições desportivas internacionais começaram a fazer parte das agendas políticas dos países. De Seul (1988), os últimos JO em que a URSS esteve presente, a Tóquio (2021), participaram mais 46 países, competiram mais 2866 atletas em mais 10 desportos, mais 19 disciplinas e mais 102 eventos. E as competições pelos primeiros lugares começaram a ser mais renhidas. Relativamente a Seul, em Tóquio os dez primeiros países ganharam menos 15,07% das medalhas em competição e os 20 primeiros países ganharam menos 20,01%. Em consequência, mais 12,5% dos Países ganharam uma medalha. Portanto, em trinta e três anos, envolveram-se nos JO mais 46 países, não para fazer turismo desportivo ao estilo do ir aos JO com 92 atletas para ganhar uma medalha de bronze, mas para, no espírito do citius, altius, fortius, ganhar.
E, para ganhar, os países tiveram de:
(1.º) Centralizar no poder político as decisões de interesse nacional, relativas ao desenvolvimento do desporto, da base de prática ao alto rendimento; (2.º) A partir da base zero, realizar o levantamento e a análise da situação desportiva e extradesportiva; (3.º) Identificar dificuldades e estrangulamentos; (4.º) Tirar partido da análise racional do quadro condicionante; (5.º) Identificar e integrar as forças e superar as fraquezas; (6.º) Apurar as próprias competências distintivas e as competências comparativas relativamente aos demais países; (7.º) Esclarecer quais os desportos críticos de sucesso; (8.º) Clarificar os processos de tomada de decisão; (9.º) Determinar objetivos claros e metas quantificadas; (10.º) Garantir os recursos humanos, materiais e financeiros necessários; (11.º) Dividir o trabalho e atribuir responsabilidades; (12.º) Integrar e alinhar processos de coordenação e conjugação de trabalho; (13.º) Desencadear as necessárias sinergias e combater inúteis burocracias; (14.º) Estabelecer marcos de avaliação e correção da trajetória; (15.º) Envolver os diversos protagonistas quer direta, quer indiretamente interessados; (16.º) Instituir um sistema de controlo em paralelo, externo, independente e competente.
Ao tempo, o desporto português, ainda vivia sob o absurdo cultural dos anos sessenta proveniente da nova esquerda francesa contaminada pelo livrinho vermelho mais ou menos indecifrável de Mao Tsé-Tung. E, ao estilo das recomendações de Zhou Enlai (1898-1976) aos atletas chineses antes de partirem para os Jogos das Novas Potências Emergentes em Jakarta (1963) e Phnom Penh (1966), a equipa olímpica portuguesa partiu para os JO de Sydney (2000) sob o mantra: “não vos peço resultados, dignifiquem Portugal”.
Embora a nacional inteligência desportiva afirmasse ter sido “realizada a melhor preparação olímpica de todos os tempos” (Record, 2000-09-03), porém, por via das dúvidas, simultaneamente, cunhou uma das mais idiotas metáforas alguma vez produzidas no nacional olimpismo: “uma preparação (olímpica) adequada não é sinónimo de êxito”. Quer dizer, os resultados eram o que menos lhes interessava. O projeto olímpico devia ser avaliado, não pelo número de medalhas conquistadas, mas pelo volume de trabalho burocrático realizado que, hoje, a nomenclatura traduz e reproduz pelo eufemístico “acrescentar valor”.
E, a partir de então, o desenvolvimento do desporto português tem sido condicionado por um programa de preparação olímpica que, desde a hecatombe acontecida nos JO de Pequim (2008), passou a funcionar na lógica da Síndrome do Concorde, o avião supersónico anglo-francês que só voou porque o eventual cancelamento da sua produção e posterior operação provocaria incómodos políticos bem maiores do que aqueles que resultavam dos prejuízos económicos. E, à revelia do artigo 79.º da Constituição e de uma ética de autenticidade subjacente ao citus, altius, fortius da cultura olímpica, o programa evoluiu do medíocre “não vos peço resultados, dignifiquem Portugal” dos JO de Sydney (2000) para o não menos medíocre “não vamos discriminar atletas em nome de uma seleção de elite” institucionalizado desde os JO do Rio (2016). E esta olímpica cultura de nivelar por baixo, que de quatro em quatro anos se expressa nos eufémicos melhores resultados de sempre, desencadeou inimagináveis efeitos perversos no sistema desportivo nacional.
Vasileia Karachilou uma velejadora grega, porque se incompatibilizou com a Federação Grega de Vela foi aliciada a vir para Portugal. E, em novembro de 2003, declarou à agência Lusa: “Sou grega, mas estou supercontente por competir por Portugal, é um novo desafio. Uma fantástica oportunidade e um grande passo na minha vida” (Lusa, 2022-11-23). O que aconteceu foi que, mesmo sem ter nacionalidade portuguesa, a velejadora, não se sabe como, munida de uma licença passada pela Federação Internacional de Vela (World Sailing) que, do ponto de vista jurídico-diplomático, vale zero, sob o veemente protesto do Comité Olímpico Grego passou a competir sob a bandeira portuguesa, entre outros eventos, no Mundial de Vela Haia (2023). E o presidente da Federação Portuguesa de Vela (FPV), para além de afirmar que “seria “bom” poder contar com a velejadora nos Jogos Olímpicos”, ainda acrescentou que Vasileia já estava a dar “formação a velejadores portugueses…” o que revela o estado em que se encontra um dos desportos mais antigos senão o primeiro praticados em Portugal. Finalmente, ao estilo das tragicomédias gregas, segundo o Observador (2024-04-22), Vasileia acabou por ficar fora da equipa portuguesa para os JO de Paris (2024) uma vez que não lhe foi atribuída a nacionalidade portuguesa. E, pelos vistos, também não vai competir pela Grécia conforme se pode confirmar em (World Sailing | Paris 2024 Olympic Games – Who’s Qualified?) já que a quota para os JO conseguida pela velejadora grega na classe de embarcação ILCA 7 pertence a Portugal. Depois deste desfecho o que se espera é que a tutela político-administrativa já tenha mandado abrir um inquérito a fim de apurar responsabilidades uma vez que a velejadora foi aliciada para um projeto irrealizável desde logo porque a Grécia não é um país do Leste europeu, africano, da América central ou do Sul. E se o inquérito não foi levantado a velejadora já devia ter apresentado na Secretaria de Estado do Desporto um pedido de esclarecimento que, eventualmente, poderá transitar para o Ministério Público uma vez que, seguramente, existem responsabilidades a apurar já que a velejadora, no imediato, ficou com a sua carreira desportiva destroçada.
Outro exemplo dos muitos que caracterizam o estado de desorientação política em que o desporto nacional se encontra é o da atleta (saltadora / comprimento) de São Tomé e Príncipe, de seu nome Agate Sousa que, em maio de 2024, a dois meses e meio dos JO de Paris (2024), foi autorizada pela World Athetics (Federação Internacional de Atletismo) a competir por Portugal uma vez que, entretanto, sem que se saiba exatamente quando e em que circunstâncias, adquiriu a nacionalidade portuguesa. Embora este caso seja bem diferente do anterior, trata-se de mais um reconhecimento “just in time” da nacionalidade portuguesa que levanta questões acerca da maneira como as naturalizações de atletas estrangeiros estão a ser conduzida. Sobre Agate Sousa, depois de o contactar, recebi, com data de 23 de janeiro de 2024, do Presidente do Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, João Costa Alegre o seguinte email: “Se dependesse do Comité Olímpico de STP, ela não seria tão já. Mas como não depende de nós ela até pode vir a ser. Mas que fique claro que nós estamos dispostos a ir a onde for, para manifestar o nosso mal-estar e ver a justiça feita, porque esta atleta ainda não reúne requisitos, conforme a Carta Olímpica, para representar Portugal nos Jogos Olímpicos, Paris 2024. O nosso descontentamento foi tornado público, ao Comité Olímpico de Portugal, CIO, ACOLOP, ACNOA e outras organizações do Movimento desportivo e Olímpico. Nós estamos aguardando para vermos o desfecho desta novela. Infelizmente, Portugal como membro da nossa Comunidade, devia jogar outro papel e não este. Mas esperar quê de alguém que tem uma atitude neocolonial. Com este comportamento fica claro que os países mais pobres e com fracos recursos, não têm o direito e nem hipóteses nunca de sonhar chegar ao pódio num Jogos Olímpicos. Portugal com esta atitude, matou o nosso sonho, os esforços consentidos, e toda uma estratégia delineada para este efeito. Contrariou todas as nossas expectativas, porque o que nós esperávamos, era apoio e encorajamento. O que infelizmente não aconteceu. A história é longa e com vários contornos, o futuro dirá”.
Agate Sousa ganhou bronze nos Europeus de Roma (2024 de 7-6 a 12-6), já sob a bandeira portuguesa. Do ponto de vista pessoal, trata-se de um extraordinário feito e um orgulho para a atleta. Mas, do ponto de vista institucional, revela a degradação moral em que o desporto português está a cair.
Para Pierre de Coubertin (1863-1937) (Essais de Psychologie Sportive,1913) “o desporto é apenas um coadjuvante indireto da moralidade. Para que se torne seu adjuvante direto, é necessário atribuir-lhe um objetivo ponderado de solidariedade que o eleve acima de si mesmo. Esta é uma condição sine qua non para a colaboração entre o desporto e a moralidade”. O que seria realmente de louvar, como o próprio Presidente do COSTP alvitrou, era ver a atleta competir por São Tomé e Príncipe em Paris (2024) e, com a sorte dos deuses, até ganhar uma medalha pelo seu país de origem. Depois, como qualquer um podia pedir a nacionalidade portuguesa e usufruir para o resto da vida da dupla nacionalidade. Se assim fosse, seria, certamente, uma heroína no seu país de origem e muito bem-vinda em Portugal.
Entretanto, entre as várias perguntas a que as autoridades políticas e desportivas portuguesas deviam responder destacamos duas:
(1.ª) Porque é que Portugal recuou perante o Comité Olímpico Grego e não perante o Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe?
(2.ª) Do ponto de vista ético-moral qual a diferença entre a obtenção da nacionalidade portuguesa para fins de acesso um tratamento médico negado no país de origem ou para fins de acesso aos JO igualmente negado no país de origem?
As políticas públicas no âmbito do desporto, uma atividade com as suas idiossincrasias, devem esclarecer claramente as condições em que podem ocorrer as naturalizações de atletas estrangeiros. Porque, se não o fizerem, cortam as perspetivas aos jovens desportistas portugueses que, a todo o momento, correm o risco de ser preteridos por atletas estrangeiros que, numa solução de “outsourcing”, são naturalizados à última da hora.
Este esclarecimento tem tanto mais razão de ser quanto se sabe que, segundo dados oficiais (IPDJ), dos JO de Sydney (2000) aos de Tóquio (2021), a taxa de descarte dos jovens portugueses federados aumentou 16 pontos percentuais. E, nos últimos dez anos, de 2013 a 2023, cresceu mais de 4 pontos percentuais. E se expurgarmos modalidades como o xadrez, a columbofilia e outras do género a situação ainda é mais dramática.
O estado atual do desporto nacional resulta de uma visão medíocre do olimpismo, do “prefiro, sem hesitações, regressar à apologia da participação, à honra da presença nos Jogos, à nobreza que envolve o simples ato de competir sabendo-se que não se pode ganhar”, ideia expressa no Relatório de Missão aos JO de Sydney (2000) que nada tem a ver nem com o pensamento de Coubertin, nem com o espírito olímpico uma vez que entra em conflito a excelência do citius, altius, fortius que lhe é subjacente.
Em consequência, ao cabo de 24 anos, apesar dos volumosos recursos investidos, os resultados globais das participações portuguesas nos JO pouco ou nada melhoraram:
(1.º) Nos JO de Sydney (2000), participaram 61 atletas a um custo de 146 mil euros por atleta que competiram em 13 desportos. Portugal ganhou 2 medalhas (0,0,2) o que significa 30,5 atletas por medalha e colocou até ao oitavo lugar 7 atletas (11,47%) que obtiveram 28 pontos (0,45 pontos por atleta);
(2.º) Nos JO de Tóquio (2021) participaram 92 atletas a um custo de 201 mil euros por atleta que competiram em 17 desportos. Portugal ganhou 3 medalhas (0,1,2) o que significa (30,6 atletas por medalha e colocou até ao oitavo lugar 13 atletas (14%) que obtiveram 44 pontos (0,47 pontos por atleta) (as marcas dos atletas naturalizados na hora foram expurgadas);
Depois de participar nos JO do Rio (2016) com 92 atletas em 16 desportos e nos JO de Tóquio (2021) também com 92 atletas em 17 desportos, a menos de 2 meses dos JO de Paris (2024), já com poucas oportunidades de novos apuramentos, Portugal tem garantida a participação de menos de cinquenta atletas em 12 desportos.
A fim de, à última da hora, salvar esta situação que, há muito, se previa, Portugal foi aos Jogos Europeus Cracóvia (2023) com uma comitiva de mais de 300 elementos, entre os quais 206 atletas para competirem em 23 desportos de alguns dos quais (p/ex. muaythai ou teqball) a grande maioria dos portugueses desconhece até a sua existência. Apesar do número de atletas portugueses, que excedeu o da maioria dos países, Portugal não conseguiu apurar um único atleta para os JO de Paris (2024) e estavam a concurso noventa e uma presenças. Acabou por ficar em 21.º lugar atrás da Eslovénia, da Geórgia, da Irlanda, da Croácia, da Turquia e da Roménia. E, se considerarmos o rácio (n.º de atletas/medalha) Portugal, piora a sua performance uma vez que com um fraquíssimo rácio de 28 atletas por medalha passa do 21.º lugar para o 28.º ficando atrás da Sérvia, da Bulgária e do Azerbaijão, entre outros.
A estratégia obriga a opções. Todavia, a participação portuguesa, dos JO Sydney (2000) aos JO de Tóquio (2021), aumentou 64% dos desportos e 50% dos atletas. Durante o período, dos 22 diferentes desportos em que os atletas portugueses competiram só sete estiveram sempre presentes (oito se considerarmos o triatlo desde 2004) em todas as edições dos JO. Esta situação revela um programa de preparação olímpica, em roda livre, a correr atrás dos acontecimentos, sem qualquer capacidade para organizar o futuro. Quer dizer, estamos perante uma oportunista e demagógica conceção estratégica de “pesca à rede” que, para além de não produzir resultados e promover injustiças sociais, provoca estragos na prática desportiva de base dos portugueses, uma vez que, inutilmente, se estão a consumir recursos que deviam ser aplicados na promoção da atividade física e desportiva.
Nas últimas seis edições dos JO, Portugal esteve presente com 480 atletas sendo que só 113 (23,54%) ficaram entre os dezasseis primeiros. Isto significa que Portugal levou aos JO quatro vezes mais atletas do que aqueles que devia ter levado. Ir aos JO é para quem tem uma forte probabilidade de ficar entre os dezasseis primeiros. Admitindo-se algumas exceções. Por exemplo, Nelson Évora (triplo salto) nos JO de Atenas (15,72 m) não se classificou para a final. Nos JO de Pequim (17,67 m) ganhou a medalha de ouro.
Atendendo a que os custos de cada uma das edições dos JO foram; Sydney (2000): 8,9 M€; Atenas (2004): 10,9 M€;
Pequim (2008): 14 M €; Londres (2012): 15,1 M€; Rio (2016): 16 M€; Tóquio (2021): 18,5 M€, conclui-se que, durante o corrente século, houve um excesso de despesa no programa de preparação olímpica de 62,55 M€. Em consequência, de tais excessos, porque já não existem “árvores das patacas”, as federações desportivas acabaram subfinanciadas e modalidades coletivas de enorme potencial como o andebol e, entre outras, o rugby, acabaram prejudicadas.
E não foi por falta de dinheiro. Segundo os últimos dados do Eurostat, em 2021: (1º) A taxa média das despesas das administrações públicas relativas aos serviços recreativos e desportivos dos países da UE foi de 0,7%; (2º) As taxas mais elevadas foram registadas na Hungria (1,7%), na Estónia (1,3%), na Suécia (1,2%), nos Países Baixos (1,2%); (3º) As taxas mais baixas verificaram-se na Bulgária (0,3%) e na Irlanda (0,4%); (4º) Portugal despendeu 0,8% pelo que ficou acima da média dos países da UE (0,7%); (5º) Portugal ficou acima da Bélgica (0,7%), da Bulgária (0,5%), da Alemanha (0,5%), da Irlanda (0,4%), da Itália (0,5%), da Letónia (0,5%), da Áustria (0,5%), da Eslovénia (0,6%) e, da Eslováquia (0,4%).
Os 0,7% da despesa pública portuguesa representa € 822 milhões. Tendo em consideração os 1 982 613 praticantes de atividade física e desportiva de base que decorrem do cruzamento entre os dados de prática atividade física e desportiva do Eurobarometer e os dados demográficos (INE /PORDATA), Portugal aplicou uma verba de €415 per capita em serviços recreativos e desportivos.
Com €415 per capita Portugal ocupa a 14ª posição entre os países da UE (24): (1.º) Suécia: €755; (2.º) França: €737; (3.º) P. Baixos: €732; (4.º) Estónia: €700.; (5.º) Hungria: €684; (6.º) Grécia: €621; (7.º) Áustria: €588; (8.º) Finlândia: €559; (9.º) Bélgica: €552; (10.º) Dinamarca: €544; (11.º) Itália: €519; (12.º) Chéquia: €472; (13.º) Espanha: €420; (14.º) Portugal: €415; (15.º) Croácia: €379; (16.º) Alemanha: €377; (17.º) Polónia: €331; (18.º) Lituânia: €287; (19.º) Roménia: €279; (20.º) Irlanda: €242; (21.º) Eslovénia: €227; (22.º) Bulgária: €222; (23.º) Letónia: €206; (24.º) Eslováquia: €198.
De há quase trinta anos a esta parte, o desenvolvimento do desporto nacional tem estado condicionado por um inútil programa de preparação olímpica que nunca foi objeto de uma avaliação externa independente e competente. Só continua a existir porque a sua extinção causará incómodos políticos bem maiores do que aqueles que resultam de uma prática desportiva de base vergonhosa e resultados no JO medíocres abafados. Apesar disso, de acordo com a Síndrome do Concorde, o Governo que se cuide porque, de acordo com alguma comunicação social cega, surda e muda, está sob “escrutínio apertado”.