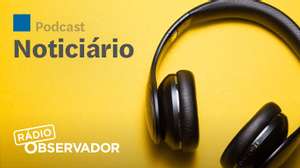1 Youthquake
Nos últimos meses, o processo eleitoral e a comemoração dos 48 anos de democracia colocaram os mais jovens no centro da análise política: eles foram simultaneamente acusados de terem alimentado o resultado do Chega nas eleições de 10 de março e apresentados como a geração que mais valoriza o 25 de Abril. São estes dois elementos contraditórios? Ou é possível apoiar a posição antissistema do Chega e considerar que o 25 de Abril teve mais consequências positivas do que negativas? Estarão os jovens simplesmente mais cativos da mensagem de Abril que lhes é ensinada na escola ou, uma vez que o estudo foi realizado em 2023, terão mudado de ideias no espaço de um ano? Ou será precisamente por valorizarem Abril que os jovens apelam a uma mudança?
Dois dias antes das nossas eleições, um artigo no The Washington Post usava o caso português, destacando Rita Matias, para retomar uma ideia muito explorada pelos media no último ano (por exemplo, aqui e aqui): a de que a adesão dos mais jovens à direita radical constituiria um terramoto político juvenil [youthquake].
Definir direita radical implica um outro artigo, mas parece-me razoável aceitar que um dos aspetos mais significativos da sua mensagem é o apelo a regras e ordem, mesmo que isso signifique a existência de um líder forte ou autoritário – como se o caos social e moral das sociedades contemporâneas se tivesse tornado insustentável. Lá fora, usa-se muitas vezes a expressão ultraconservador: aceitemo-la.
Assim entendida, as posições defendidas pela direita radical seriam críticas dos excessos da democracia liberal, marcadamente individualistas e desregrados, e mais propensas a aceitar um certo apelo à autoridade, que pode ser traduzido pela imagem de chamar um adulto à sala para pôr as coisas em ordem. Talvez Platão tenha razão quando diz, na República, que a democracia gera caos e o caos desperta o desejo por ordem.
Os académicos vêem-se, então, confrontados com a seguinte questão: são as gerações mais novas menos democráticas?
2 A desconsolidação democrática
Em 2016, Roberto Stefan Foa e Yascha Mounk chamaram a atenção para os dados que apontavam para a reversão do processo de consolidação democrática:
“Em muitas democracias supostamente consolidadas na América do Norte e na Europa Ocidental, os cidadãos não se tornaram apenas mais críticos dos seus líderes políticos. Também se tornaram mais cínicos quanto ao valor da democracia como sistema político, menos esperançados de poder fazer alguma coisa que influencie as políticas públicas e mais dispostos a manifestar apoio a alternativas autoritárias.”
O princípio estabelecido por Linz e Stepan de que a consolidação democrática resultava de a democracia se tornar “the only game in town” [o único jogo válido, a única opção] parecia posto em causa. E isso era particularmente evidente nas gerações mais novas:
“Os dados de opinião pública sugerem uma inversão geracional significativa. Ainda não há muito tempo, os jovens eram muito mais entusiastas dos valores democráticos do que os mais velhos: nas primeiras vagas do World Values Survey, em 1981-84 e 1990-93, os jovens inquiridos eram muito mais favoráveis à proteção da liberdade de expressão e muito menos propensos a abraçar o radicalismo político. Atualmente, os papéis inverteram-se: de um modo geral, o apoio ao radicalismo político na América do Norte e na Europa Ocidental é maior entre os jovens e o apoio à liberdade de expressão é menor.”
A ideia de que o apoio à democracia estava a diminuir entre os mais novos foi recebida com surpresa e muitos avançaram a hipótese de se tratar de uma mera fase no ciclo de vida. Mas este argumento tem vindo a ser refutado por trabalhos mais recentes, como o de Pedro Magalhães e Christopher Claassen, publicado em 2023, que analisa dados para o contexto norte-americano:
“As gerações mais jovens já apresentam um apoio democrático substancialmente inferior ao das gerações mais velhas que irão substituir. (…) Este declínio justifica preocupações com a resistência futura das instituições democráticas face a potenciais crises políticas, sociais e económicas e com a disponibilidade do público norte-americano para afastar os líderes e os movimentos que pretendem minar a democracia liberal.”
3 Brincar, brincar, brincar
É possível avançar diferentes razões para estes resultados e a Verdade encontrar-se-á na confluência de vários fatores. Mas uma das leituras mais interessantes parece-me ser a apresentada por Jonathan Haidt e Greg Lukianoff num artigo publicado no The New York Times, em 2018. Reunindo vários contributos, Haidt e Lukianoff chamam a atenção para um aspeto fundamental da dinâmica política: a brincadeira infantil. Surpreendido?
De acordo com Haidt e Lukianoff,
“os mamíferos jovens brincam e, ao fazê-lo, gastam energia, magoam-se e expõem-se aos predadores. Por que razão não tentam manter-se seguros? Porque os mamíferos chegam ao mundo com sistemas nervosos inacabados e precisam de brincar – e muito – para terminar esse trabalho. O jovem cérebro humano “espera” que a criança se envolva em milhares de horas de brincadeira, incluindo milhares de quedas, arranhões, conflitos, insultos, alianças, traições, competições de estatuto e até (dentro de limites) atos de exclusão, para desenvolver todas as suas capacidades.”
Brincar é fundamental para nos tornarmos adultos saudáveis e autónomos, mas nem todas as formas de brincadeira são iguais. Haidt e Lukianoff recorrem ao psicólogo desenvolvimentista Peter Gray para reforçar a importância da brincadeira livre, o mesmo é dizer, da brincadeira não supervisionada por adultos:
“A ausência de adultos obriga as crianças a praticar as suas competências sociais [e] deixa espaço para as crianças correrem pequenos riscos, em vez de assumirem que os adultos estarão sempre presentes, como barreiras de proteção, a dizer-lhes onde estão os limites da segurança.”
O problema é que, como os autores recordam, a partir da década de 1980 as crianças foram perdendo gradualmente a liberdade de brincar sem supervisão e a infância tornou-se cada vez mais superprotegida. Sem oportunidades para aprender a lidar com o risco, os jovens foram-se tornando menos resilientes e menos capazes de reagir a desafios e fracassos. E também se tornaram menos capazes de gerir conflitos e negociar. Afinal,
“se houver sempre um adulto que assume o controlo, é provável que se crie uma condição a que os sociólogos chamam “dependência moral”. Em vez de aprenderem a resolver os conflitos de forma rápida e privada, as crianças que aprendem a “contar a um adulto” são recompensadas por recorrerem às figuras de autoridade no caso de terem sido maltratadas.”
Ora, este aspeto tem claras implicações políticas. Recorrendo a Steven Horwitz, Haidt e Lukianoff recordam que as democracias liberais se caracterizam por priorizar a cooperação em detrimento da coerção – mas, uma vez que temos impedido as crianças de desenvolver competências de cooperação, só lhes resta a coerção.
4 A geração fada-dos-dentes
Entre nós, Carlos Neto, com quem José Manuel Fernandes conversou recentemente no Clube dos 52, apresenta um longo trabalho na defesa da importância da brincadeira para as crianças. No livro Libertem as crianças diz-nos:
“Brincar é adaptar-se a situações incertas, é treinar para o inesperado e imprevisível, é a vivência do instante, através de ações diversas na utilização do corpo em espaços físicos (naturais e construídos) e na relação com os outros.”
A brincadeira revela-se, nesta medida, fundamental para o desenvolvimento de áreas importantes do córtex pré-frontal, nomeadamente “a edificação de um cérebro pró-social, essencial, entre outras coisas, para adequadas tomadas de decisão”. Como Neto diz, repetindo uma expressão que as educadoras de infância usam cada vez mais, sem brincadeira livre as crianças tornam-se totós.
Este contexto de supervisão e superproteção constantes agravou-se na última década com a introdução de telemóveis-espertos no processo de crescimento da criança – tendo em conta que se trata de uma ferramenta que responde de forma quase perfeita ao desejo de proteção. E notemos o problema de uma infância-baseada-no-telemóvel (para usar a expressão de Haidt em The Anxious Generation) a partir do fator tempo: o tempo que as crianças gastam com o telemóvel é o tempo que perdem em outras atividades, nomeadamente, na brincadeira livre e não supervisionada.
Não é, por isso, surpreendente que tenha aumentado a pressão para que se repense a utilização dos telemóveis-espertos, não só pelas crianças mais novas, mas também pelos pré-adolescentes. O impacto destes aparelhos não só no desenvolvimento do cérebro, mas também na dimensão emocional está já sob amplo escrutínio e tem motivado decisões políticas, só aparentemente radicais, em muitos países (mais sobre isto em texto futuro).
Mas importa ter em conta que esse impacto é também político: ao substituir a brincadeira pelo telemóvel, as crianças perdem a oportunidade para desenvolver as competências sociais que são necessárias para um contexto democrático: nomeadamente, saber lidar com o conflito e a diferença e saber promover o diálogo e a negociação.
Sem essas competências, os jovens tenderão sempre a procurar “um adulto”, isto é, uma figura de autoridade, que faça valer as regras. E ao contrário do que algumas abordagens dão a entender, este não é um problema da direita radical: basta pensarmos nos delírios wokistas, profundamente iliberais e antidemocráticos. Mas devemos assumir a nossa responsabilidade: em última instância, a culpa não é deles – nós é que precisamos de repensar o que andamos a fazer com as nossas crianças. O futuro da democracia liberal passa também por aí.
PS: Colocarei este argumento à discussão numa sessão da Pint of Science, em Braga, na próxima semana, num dos muitos encontros que esta associação promove para a divulgação da ciência (entre os dias 13 e 15 de maio há sessões por todo o país, como pode ser consultado aqui).