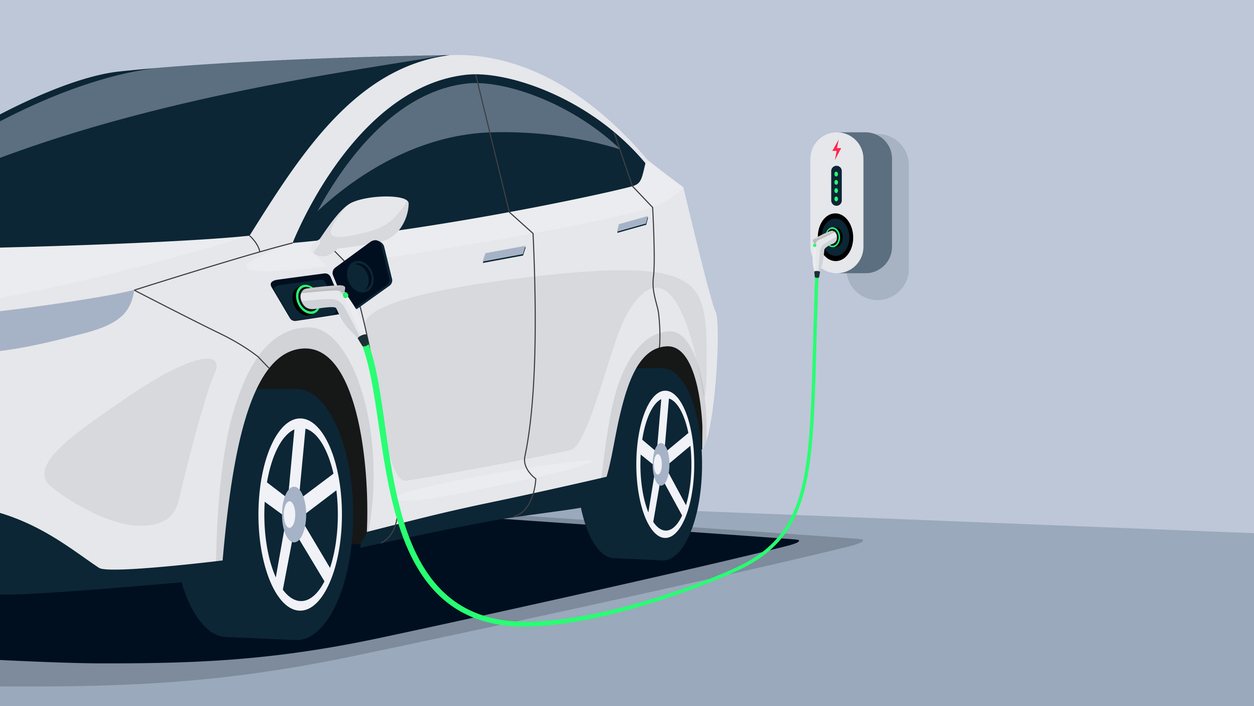Há 10 anos pouca gente falava em veículos automáticos. Pouco contava como tema de investigação em Portugal, quanto mais como tema jornalístico, ou que andasse nas bocas do cidadão comum. Passados estes anos pode dizer-se que o tema passou a ser popular um pouco por todo o mundo. O grande momento de transição deu-se em 2012, com o famoso Google car, (o projeto tornar-se-ia mais tarde na empresa de mobilidade partilhada Waymo); de repente, era possível! Se uma empresa de sucesso como a Google – uma empresa que nos pôs a encontrar coisas na internet em milésimos de segundo quando as outras levavam uma eternidade – dizia que era possível, então não estaríamos longe de poder navegar as estradas dentro dos nossos veículos aproveitando o tempo para ler ou ver um filme.
A Tesla não demorou muito a colocar um auto pilot nos seus veículos, já famosos pelas suas baterias de alta eficiência. Os veículos produzidos entre 2014 e 2016 já vinham de fábrica preparados para um sistema de apoio à condução automática. Elon Musk, em 2015, previa numa conferência: “Eu não penso que nos temos de preocupar com veículos autónomos porque é uma aplicação mais limitada da inteligência artificial (IA). É algo que penso não ser muito difícil. Para que se possa fazer condução autónoma, que é, até certo ponto, mais segura que a de uma pessoa, é muito mais fácil do que as pessoas pensam”, disse o criador dos foguetões que regressam à terra sem se perderem pelo espaço, prevendo também que a completa autonomia de um veículo estaria disponível já em 2018. Estamos em 2021 e ainda estamos à espera. Elon é também o criador de um conceito tão fantástico como disparatado, de colocar automóveis dentro de túneis estreitos debaixo das cidades para podermos evitar o congestionamento rodoviário. Permitam-me a ironia, mas colocar passageiros em túneis a alta velocidade já foi inventado: chama-se metro e o primeiro é do século XIX em Londres. Em 2016 morria o primeiro condutor de um Tesla, que se esqueceu que veículos automáticos não existem. Estava a ver um filme e o seu veículo não reconheceu o branco de um camião como sendo um obstáculo devido ao reflexo do sol. Isto ocorreu dois anos antes da tal previsão de Elon sobre a existência de veículos totalmente automáticos.
Tempo aqui para um parêntesis sobre níveis de automação. A sociedade de engenheiros de automóveis (SAE) define vários níveis de automação, desde o zero, que são a maioria dos nossos veículos convencionais sem qualquer automação no apoio à condução, até ao nível cinco, chamado de automação total. No nível cinco, um veículo não precisará de ter sequer um volante porque este não terá qualquer utilidade. É aquilo a que costumo chamar de sonho ou, o que um colega, com décadas de investigação no assunto, tão ironicamente chama: “not in my lifetime automation” (automação que não ocorrerá na minha vida). Logo abaixo, o nível quatro, é também um nível de elevada automação, mas neste caso sujeito a um Operational Design Domain (em tradução livre: domínio operacional de projeto), que, basicamente, significa que os veículos são projetados para circular sem condutor, mas apenas em ambientes condicionados, como, por exemplo numa via segregada, ou a uma velocidade reduzida, etc; significa um conjunto de limitações, maiores ou menores, à circulação do veículo em modo automático. Este tipo de automação não é novidade , havendo vários exemplos pelo mundo fora, como por exemplo o sistema parkshuttle em Roterdão, que já transportou milhões de passageiros desde o seu arranque inicial, em 2006, efetuando a ligação entre uma estação de metro e um parque de escritórios, recorrendo apenas a veículos sem condutor. Este sistema de grande sucesso circula em pista própria com muito pouca interação com ciclistas e peões, como tem de ser, devido aos riscos inerentes à natureza experimental desta tecnologia. De notar que, em tempos, Portugal contou com várias experiências lideradas pelo IPN em Coimbra sobre shuttles automáticos, antes de se multiplicarem os pilotos criados por empresas como a Navya ou Easymile, um pouco por todo o mundo.
A verdade é que a condução totalmente automática não é – nem pode ser – fácil e certamente não está apenas dependente de um qualquer algoritmo de Inteligência artificial 2.0 que resolve bugs da versão 1.0. Deverá o leitor observar a minha utilização da expressão “condução automática” em vez da palavra “condução autónoma”, parecem sinónimos, mas não são. Autonomia pressupõe independência do veículo, ora os veículos deverão ser independentes para serem automáticos, contudo, dificilmente se prevê um sistema de mobilidade em que os veículos não comuniquem, ou cooperem, entre si, e que não tenham também de comunicar com a infraestrutura. De facto, essa comunicação é que pode originar grandes ganhos de eficiência, mas também de segurança nos fluxos de tráfego, antecipando todo o tipo de ocorrência que permita uma gestão eficiente e segura do movimento de cada veículo. Por outro lado, em condições de tráfego tais que veículos convencionais e veículos automáticos partilhem a estrada, os benefícios para a circulação não serão elevados devido à ausência dessa possibilidade de tomar decisões de forma coletivamente ótima. Apenas com grandes percentagens de veículos automáticos com ligação V2V (vehicle to vehicle) e V2I (vehicle to infrastructure) serão possíveis ganhos significativos nos tempos de viagem, conforme demonstram os modelos de simulação.
Mas toda esta discussão sobre a tecnologia associada à automação costuma estar focada num cenário de condução em estrada, ou mesmo autoestrada, como se vivêssemos todos perto de uma rampa de acesso à A1. A verdade é que grande parte da condução que fazemos é em ambiente urbano. Um ambiente que está repleto de situações inusitadas, inesperadas e repentinas: um ciclista, um peão, ou um cão que podem surgir “do nada”, mas também um veículo que desobedeça a um sinal vermelho, etc. Por certo que, em breve, a tecnologia estará preparada para a identificação destes obstáculos mais rapidamente do que a mente humana e poderá tomar decisões também mais rápidas, avaliando todas as possíveis consequências dessas decisões, associando a cada uma a sua probabilidade (qual excelente jogador de xadrez). Essa é a tal IA de que falava Elon Musk. Algoritmos muito rápidos podem potencialmente reduzir muito o número de acidentes: segundo os estudos, a IA poderá reduzir cerca de 80% a 95%, sendo que esta percentagem está ligada ao número de acidentes graves que ocorrem atualmente devido a erro humano do condutor nas estradas. Mas que redução será suficiente e aceitável para que deixemos as decisões de quem deve ou não morrer nas mãos de um computador? A condução ser “mais segura que a de uma pessoa” como dizia Elon não é o problema, isso está garantido.
A escolha de quem deverá um veículo atingir em caso de não calcular uma alternativa sem perda de vida humana, é objeto de estudo já desde há várias décadas no contexto da filosofia definido como um dilema: não será menos mau matar uma pessoa do que duas pessoas? E se for apenas uma pessoa, deverá ser o passageiro ou quem se atravessa à sua frente? Quem deve morrer num atropelamento, um idoso ou um jovem? Recentemente nos meus períplos online, deparei-me com um internauta que já teria resolvido o problema. Utilize-se o valor da vida humana estimado para aplicação em análises custo/benefício de projetos de transporte para decidir em tempo real quem matar. Segundo esta estratégia teríamos garantido como resultado do embate o custo mais baixo de perda de vida humana. Não tardaríamos a observar o aumento da morte de idosos na estrada já que estes, segundo um dos métodos de cálculo deste valor de vida humana (não há consenso sobre estes métodos) têm menos valor porque já não vão produzir grande coisa nos próximos anos. Seria a transformação do veículo automático no verdadeiro “mata-velhos”. E o que faríamos se entre um alemão e um português, o veículo decidisse matar o cidadão português porque este tem um salário mais baixo? É obviamente uma péssima solução para o tal problema filosófico e moral. Permito-me comentar que, se for para irmos por aí, então mais valerá lançar a moeda ao ar e deixar novamente a sorte escolher quem vai e quem fica.
De facto, há ainda muito para investigar sobre como será o sistema de mobilidade com estes veículos. Muito daquilo que é hoje o nosso sistema de transportes evoluiu lentamente ao longo de anos baseado num paradigma que é essencialmente humano, com toda a sua aleatoriedade, mas também benefícios. Se não, vejamos o que acontece quando queremos atravessar a estrada. Repare o leitor a próxima vez que for atravessar numa passadeira se não será com grande probabilidade que, para se certificar que o veículo vai parar, irá olhar para o condutor do veículo. Procuramos com o nosso olhar o olhar do condutor para termos a certeza de que fomos identificados. Com veículos automáticos isso deixa de ser uma possibilidade. Dirá, então, que no futuro este veículo tem de parar obrigatoriamente. Mas sempre? A qualquer distância? E também fora da passadeira? Já não vamos precisar de passadeiras? Então os carros vão estar a parar sempre para os peões? Até que ponto? Voltamos à discussão moral do parágrafo anterior.
Diz-se dos veículos automáticos, de forma um pouco ingénua, que permitirão que possamos aproveitar a viagem para trabalhar, ver filmes; no fundo converter o habitáculo do automóvel numa verdadeira sala de estar. Há uns anos orientei um trabalho de investigação sobre o efeito da automação no valor do tempo de viagem pendular num desses veículos do futuro (um indicador próximo da experiência de viagem). Perguntávamos nessa altura como é que as pessoas comparavam um veículo convencional com um veículo automático em que pudessem trabalhar ou efetuar atividades de lazer, tais como brincar com os filhos ou ver filmes. Os resultados foram promissores no que concerne ao veículo de trabalho: os condutores holandeses viram a possibilidade de despachar algumas tarefas dentro do automóvel, a caminho do trabalho, como algo de positivo, já o lazer teve pouco efeito, não se viam a brincar com os filhos dentro de automóvel. Mas devemos neste ponto perguntar: o que é lazer? Eu gosto de correr, por certo não vou querer correr numa passadeira dentro de um automóvel. Curiosamente os holandeses queriam trabalhar no carro, não porque sejam todos workaholic (muitos são certamente) e quisessem ganhar mais dinheiro, mas porque queriam cortar tempo de trabalho no escritório para que pudessem voltar a casa mais cedo e então, aí sim, passar algum tempo de qualidade com a família, numa sala de estar com todo o conforto.
Seja como for, é evidente que o tempo que gastamos dentro de um veículo convencional, embora não seja todo negativo (viajar tem utilidade em si mesma), é, em geral, perda de produtividade e de lazer. Resta agora saber o que se poderá mesmo fazer dentro de um automóvel. Como referido nem tudo é possível. Um operário fabril não pode mudar a sua unidade de produção para dentro do automóvel. Mas alguns futuristas parecem também esquecer que grande parte da população enjoa dentro de automóvel quando não viajando nos lugares da frente. Este problema não foi e não será resolvido em breve. Eu, pessoalmente, mal posso olhar para o telemóvel nos lugares de trás sem sentir náuseas.
Esta ideia de sala privada sobre rodas leva-me ao tema final deste artigo que é o da posse privada vis-a-vis partilhada dos veículos na mobilidade do futuro. Um tema a que tenho dedicado grande atenção nestes últimos anos. Os transportes partilhados têm efetivamente algum potencial de redução do congestionamento nas nossas cidades. Mas essa partilha tem de se dar não só no tempo, mas também no espaço. Os veículos têm de ser partilhados na mesma viagem por várias pessoas. Um estudo seminal do ITF (OCDE) liderado por uma equipa ligada a Portugal simulava há uns anos para Lisboa frotas de veículos automáticos partilhados e mostravam ganhos elevados de eficiência, mas num cenário em que o metro continua operacional e com partilha desses veículos automáticos por vários passageiros. A realidade atual com a Uber e com a Lyft é muito pouco animadora. Antes da pandemia, a operação destas empresas representava um aumento de congestionamento em grandes cidades norte-americanas como Nova Iorque ou São Francisco. Não tenhamos fantasias: não há nada mais eficiente do que um comboio cheio de passageiros.
Mas ignoremos por momentos esta necessidade de partilha, a qual impedirá muita gente de sequer considerar tal alternativa, e foquemo-nos na posse privada dos veículos. Acreditamos mesmo que as pessoas não irão desejar ter o seu próprio automóvel? Normalmente são os grandes defensores da automação que falam de um mundo ideal de partilha, esquecendo que começaram por dizer que vamos fazer o que quisermos nessas salas sobre rodas. Eu não sei o que leitor pensa, mas eu normalmente não gosto de ter estranhos na minha sala de estar. A guerra está aberta e as grandes construtoras automóveis já estão a preparar o design dos carros do futuro; se não for pela experiência de conduzir, que desaparecerá, as construtoras terão agora a possibilidade de nos vencer pela melhor sala de estar sobre rodas do mercado. De uma ou de outra forma, haverá sempre procura por automóveis privados. A seguir entra em cena a política de mobilidade e transportes. Mas essa é outra história.