Considerado um ‘catastrofista’ sobre tudo o que respeita à Economia ou às Finanças de Portugal, João César das Neves acaba de publicar um novo livro que seguramente vai colocar ainda mais destaque o seu lado pessimista. Em “As 10 Questões do Colapso. Portugal: a provável derrocada financeira de 2016-2017”, o economista e professor catedrático e presidente do Conselho Científico da Católica Lisbon School of Business & Economics antecipa aquilo que pensa que pode acontecer ao país até ao final deste ano e durante o próximo.
César das Neves fala da estagnação económica, da recuperação anémica, do financiamento da economia e do excesso de endividamento, mas também da falta de capital, da ausência de reformas e da poupança quase nula dos portugueses. Prognósticos, antes do fim do jogo, na linha do registo dos artigos que escreve semanalmente no Diário de Notícias, na coluna “Não há almoços grátis”.
O colapso é inevitável? Porque temos taxas de juro negativas? Porque se agrava a desigualdade? O que se passa com o Orçamento de Estado? Porque está a banca assim? Porque não cresce a economia portuguesa? O que vai acontecer? O que devemos fazer? Estas são algumas das perguntas que o levam a concluir, sem dúvidas, que Portugal vai em breve viver um colapso, “que porá à prova muito daquilo em que acreditamos”. Neste livro afirma que por ser o segundo choque em poucos anos, “após década e meia de desilusões e enganos, e quando está a chegar à sua plenitude a geração enganada dos filhos da adesão, o momento pode ser decisivo”. Segundo ele, o que fizermos determinará a vida e, mais, a identidade nacional das próximas décadas. “Um colapso, por muito assustador que pareça visto de perto, é apenas um percalço transitório numa longa história sólida e meritória. Cabe a esta geração preparar o caminho a seguir depois do tropeção.”
O economista e professor foi assessor económico de Cavaco Silva como primeiro-ministro entre 1991 e 1995, depois de em 1990 ter assessorado Miguel Beleza então ministro das Finanças. De 1990 a 1991 e de 1995 a 1997, foi técnico superior do Banco de Portugal. É autor de mais de trinta livros e de múltiplos artigos científicos.
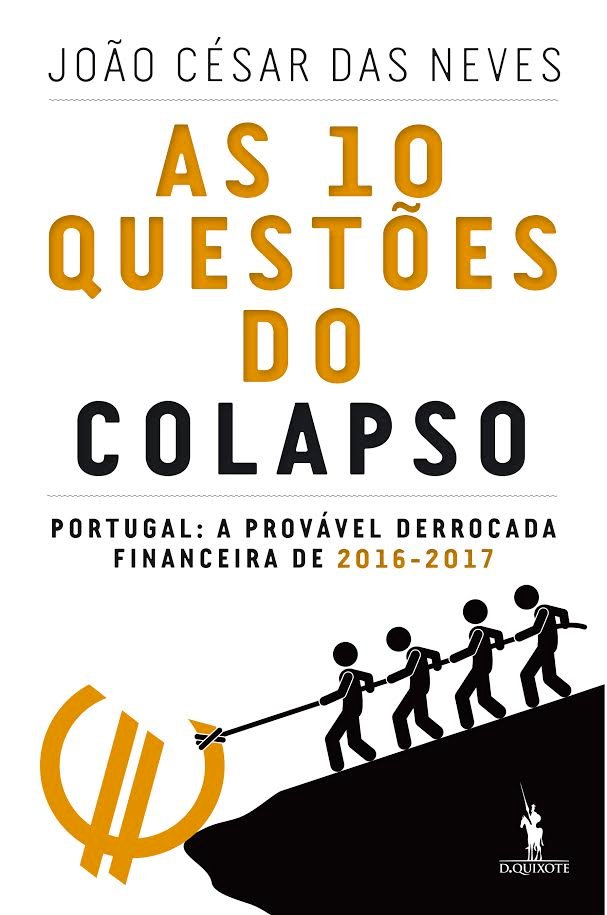
O livro de João César das Neves foi editado pela D. Quixote
Os portugueses nascem convencidos de que todos os seus males se devem aos políticos ou aos ricos, em especial aos banqueiros. Essa tese, se é plausível e sustentável, é também cómoda e desculpabilizadora. É preciso cada um assumir as suas próprias responsabilidades. Nunca podemos esquecer que, por muito maus que sejam, os dirigentes políticos e económicos vivem da boa vontade dos seus eleitores ou clientes. No final, precisamente por serem quem são, as massas determinam todos os outros aspectos.

João César das Neves tem 59 anos, é professor na Católica e colunista do Diário de Notícias
Uma economia estagnada
O problema financeiro que domina a conjuntura penetra fundo na dinâmica económica. Foi isso que estivemos a ver até aqui. Falta só considerar brevemente o que está a acontecer à evolução da economia.
Existem muitas coisas a acontecer no aparelho económico nacional. Muitas delas bastante boas. Embora a atenção esteja dominada pelas questões orçamentais e bancárias, existe muita actividade nas empresas portuguesas. Portugal é um país grande, com muitos e variados empreendimentos. Do turismo às novas tecnologias, da agricultura à indústria, muita gente anda por cá a produzir e a vender produtos de qualidade.
É muito importante nunca extrapolar da média para as partes. A dinâmica geral é o resultado de inúmeras porções, e nessas temos o excelente, o muito bom, o bom e o mediano, para além do mau e do muito mau. Mesmo quando estes dois últimos dominam, eles não eliminam os primeiros. Grandes empresas mundiais como a General Electric (1890), Walt Disney Studios (1929) e Microsoft (1975) nasceram durante recessões. Por isso é importante estabelecer o que está a acontecer na nossa economia.
A resposta à pergunta que motiva este capítulo parece ser simples: a economia está a crescer! Como já foi dito várias vezes atrás, nos últimos três anos a produção deixou a recessão e tem vindo a aumentar significativamente. No entanto, embora isso seja um alívio importante depois da queda sofrida, a verdade é que a nossa economia está a crescer menos do que em qualquer outra época da sua dinâmica moderna sem recessões.
Recessão por insolvência
A recessão que a economia portuguesa sofreu de 2011 a 2013 foi a mais violenta desde a Segunda Guerra Mundial. Não só foi a única que durou três anos, quando todas as anteriores só tinham tido taxa média anual negativa num único ano, mas a perda acumulada de 6,9% ultrapassa a queda registada em 1975, a maior até então, que fora de 5,1%. Mais, dado que 2009 também foi ano recessivo, se medirmos a queda total de 2008 a 2013, teremos uma redução total de produto de 7,9%. Esta contracção não é grande quando comparada com as verificadas em outros países, como na Grécia (26,5%) ou nos países bálticos (Letónia 20,6%, Estónia 19,3% e Lituânia 14,8%), e mesmo na Croácia (12,5%), em Chipre (10,8%), na Eslovénia (9,6%) e na Islândia (8,1%), mas mesmo assim doeu-nos muito.
Aliás, esta comparação com outras crises europeias permite voltar ao tema do confronto entre problemas de liquidez e solvabilidade que vimos atrás. Porque alguns destes países, que foram os que mais sofreram, recuperaram rapidamente, sobretudo porque sofreram muito com o aperto, mas sem problemas estruturais. Foi o caso da Islândia, que em 2015 já recuperara toda a queda e se encontrava 5% acima do nível anterior à crise, bem como os países bálticos, que, face ao pico de onde tinham caído, já estavam 3,3% acima (Lituânia) ou apenas 1,4% (Letónia) ou 1,2% (Estónia) abaixo. O mesmo se pode dizer da Irlanda, que foi um dos protagonistas da crise global, tendo perdido 5,6% na altura. No entanto, em 2015, o antigo «tigre celta» já recuperara totalmente da descida e encontrava-se 9,6% acima do nível de 2008. Em todos estes casos, a crise, mesmo tendo sido violenta, é já uma lembrança longínqua.
Pelo contrário, outras economias sofrem de graves dificuldades de solvabilidade, e por isso em 2015 ainda se encontravam muito abaixo do nível que tinham quando bateu a crise de 2008. Neste caso estão a Grécia (que ainda está 26,2% abaixo do ponto inicial), Croácia (11%), Chipre (9,3%) ou Portugal (5,7%). Mesmo países que sofreram menos no momento do impacto, como a Finlândia (que perdeu 7,6% com a crise), Espanha (5,2%) ou Itália (4,9%), ainda estão em 2015 com signi cativas perdas face ao ponto inicial (Itália 7,3%, Finlândia 5,4% e Espanha 4,4%).
Estes últimos países podem continuar a atribuir as culpas da sua situação à crise global, mas sem muita razão. De facto, existem inuências óbvias. Mas o choque de 2008 serviu aí sobretudo para revelar problemas que são locais e endémicos.
Recuperação anémica
O Instituto Nacional de Estatística (INE) disponibiliza estimativas trimestrais para o produto interno bruto desde o início de 1977. Se eliminarmos desses 160 trimestres os períodos de recessão, definidos da forma popular como dois trimestres consecutivos de crescimento em cadeia negativo, caímos com 103 trimestres. Aí encontramos 52 períodos de 12 trimestres, três anos, muitos deles consecutivos. Ora, o aumento que conseguimos em 2016 face a 2013 tem, de longe, a mais baixa de todas esses taxas. A média aritmética de todas as nossas taxas de crescimento acumulado de três anos sem recessão era, até aos anos mais recentes, de 12%, e o valor mais baixo registado de 4,8%, observado do início de 1994 ao início 1997. Ora, aquilo que estamos a conseguir desde 2013 anda abaixo de 3,8%. Nunca tivemos, desde a Revolução de Abril, um período sem recessão com crescimento tão debilitado quanto este.
Podemos provar a lentidão da economia de forma mais impressiva. Consideremos os valores anuais do PIB desde o m da Segunda Guerra Mundial, em 1945 e, mais uma vez, retiremos os 11 anos de recessão. Na amostra restante existem 45 períodos de três anos consecutivos. Mesmo se acreditarmos que este ano se vai cumprir a promessa de crescimento de 1,8% que o Governo fez no Orçamento para 2016, então o período mais recente, de 2014 a 2016, teria um aumento acumulado de 4,2%, que é o mais baixo das últimas sete décadas. Como muito provavelmente o crescimento deste ano será claramente inferior ao da previsão do Governo, as coisas serão bastante piores.
Estamos portanto a viver o crescimento mais fraco do horizonte visível. Isto acrescenta-se à estagnação de que o país sofre desde o início do século. Existiram 62 trimestres com taxas acima de 2,5% nos últimos 153 trimestres, desde 1978, mas apenas cinco desde o início de 2001 e nunca em trimestres consecutivos. É bom lembrar que a última vez que Portugal teve dois trimestres consecutivos com taxas homólogas anuais de crescimento do PIB superiores a 2,5% foi na segunda metade do ano 2000. Nessa altura não havia iPod, iPhone nem iPad, não havia Blu-Ray nem Facebook. O presidente americano era Bill Clinton, o papa era João Paulo II. Saddam Hussein ainda teria pela frente seis anos de poder e ainda faltavam 11 anos para caírem Khada e Mubarak. Pode dizer-se que crescimento económico sólido em Portugal começa a ser uma questão arqueológica.
Perguntar «porque não cresce a economia?» significa saber as razões por que, após uma queda tão aparatosa, o país não conseguiu uma dinâmica razoável, acima desta modorra em que estamos a viver. Nem sequer se vê uma aceleração. O crescimento em 2014 foi de 0,9%, em 2015 de 1,5%, mas este ano, muito provavelmente, será entre os dois valores, mais próximo do segundo que do primeiro. É isto, que acima se chamou a aposta perdida, que vamos analisar adiante. E as razões estão naturalmente ligadas ao que foi dito atrás, mas não só.
O financiamento da economia
Quando vimos os problemas financeiros do Estado e da banca, considerámos apenas um dos lados de relações biunívocas. O Estado só existe numa sociedade e os bancos dependem dos clientes. As contrapartidas dos desequilíbrios referidos são patentes na economia portuguesa. Também num colapso, como o que se aproxima, são sempre precisos dois lados. Nunca há excesso de despesa do Estado se não existirem muitos cidadãos prontos para a receber. Não pode haver problemas de crédito malparado nos bancos sem existir muito endividamento imprudente na economia. A verdadeira origem do colapso financeiro está num aparelho produtivo que não gera riqueza suficiente para pagar as suas contas.
Excesso de endividamento
A nossa economia está enormemente alavancada, numa dimensão que torna muito difícil a sua sustentabilidade. Se Portugal fosse uma empresa, teríamos de a declarar insolvente.
Esta análise pode ser realizada de várias formas, mas uma das mais impressionantes e objectivas é utilizar um dos instrumentos mais interessantes e menos recorrente da nossa base estatística: a central de balanços do Banco de Portugal. Esta base de dados inclui informação sobre «mais de 3 mil empresas por ano, representativas de cerca de 1% do número total de empresas, mas de 48% do volume de negócios das empresas não financeiras».
Os quadros seguintes apresentam alguns dos rácios básicos de análise financeiras de empresas, mas calculados para a totalidade das que compõem a referida amostra da Central de Balanços, que tomaremos como representativas da economia portuguesa. Para além da média nacional são fornecidos dados para as empresas privadas e as empresas públicas não incluídas nas administrações públicas. Relativamente às primeiras, elas são também ventiladas por sectores (indústria, electricidade, gás e água, construção, comércio, transportes e armazenagem e outros serviços) e por três tipos: sociedades gestoras de participações sociais, pequenas e médias empresas, e grandes empresas. Este breve estudo considera a situação em sete momentos, que resumem a evolução dos últimos dez anos. O ponto inicial da amostra, Dezembro de 2006, é claramente anterior à instabilidade global, a qual começou no segundo momento considerado, Setembro de 2008. O terceiro instante coincide com as eleições legislativas de 2009, a que se segue o início do programa de ajustamento, em Junho de 2011. A economia começou a crescer no quinto ponto, em Março de 2013, a que se segue o final do programa de ajustamento, em Junho de 2014. O último valor publicado na série, em Março de 2016, caracteriza bem a situação que precede o colapso.
O primeiro indicador, que dá uma ideia do peso da dívida sobre a operação das empresas, é o rácio de alavancagem (leverage ratio) que corresponde à dimensão relativa entre o financiamento e os resultados da empresa. Os valores são bastante impressionantes.
O indicador manifesta uma trajectória bem marcada. O peso de endividamento já vinha a subir antes da crise, atingindo um pico em meados de 2009. Recuperou um pouco em 2011, para depois disparar com o programa de ajustamento. Tem vindo a descer desde 2013, mas, em geral, ainda não chegou aos valores iniciais.
O mais perturbador, no entanto, é que mesmo os valores iniciais de rácio de alavancagem já eram demasiado altos. Nas análises empresariais comuns costuma-se usar um nível de 4 ou 5 como sinal de alarme. Uma empresa que deve cinco vezes mais do que ganha com a sua actividade vai ter dificuldade em cumprir as suas responsabilidades. Ora, apesar da instabilidade, toda a década mostra, para a generalidade dos sectores, um peso exageradíssimo de endividamento. Só as grandes empresas, as indústrias e ultimamente o comércio mostram algum equilíbrio. Pelo contrário, as PME, as sociedades gestoras de participações e a construção atingem níveis astronómicos. De notar ainda como a alavancagem das empresas públicas, que costumava ser substancialmente superior à das privadas, inverteu essa posição desde o início da recuperação, em 2013. Claro que é normal que a alavancagem seja maior nuns sectores que noutros, mas mesmo assim os valores são muito exagerados, A situação atingiu níveis aflitivos durante a vigência do programa de ajustamento, mas mesmo antes e depois ela permanece insustentável.
Neste sentido, a economia portuguesa pode ser declarada insolvente.
Uma outra forma de avaliar a mesma situação, de outro ponto de vista, é o rácio de autonomia financeira (shareholder equity ratio), calculado como a percentagem do capital próprio no total dos activos. Este indicador manifesta a percentagem da empresa que, em caso de liquidação, caberia aos proprietários. Valores abaixo de 35% são normalmente considerados preocupantes, o que define uma severa sentença para a nossa economia.
Neste indicador, a flutuação gerada pelos acontecimentos da última década é muito pouco sensível. Os valores iniciais já eram muito baixos, e mantêm-se como tal ao longo de todo o período. Os níveis andam sempre à roda de 30%, com excepção da construção, transportes e armazenagem e das empresas públicas, que estão na casa dos 20%, e as sociedades gestoras que sobem acima dos 40%. Aqui, as empresas públicas estão sempre abaixo da média das privadas.
Vale a pena notar a queda impressionante do sector das infra-estruturas, electricidade gás e água, que, começando com valores considerados confortáveis, acaba a década junto com os sectores mais desesperados. De alguma forma, o comércio ensaia o movimento inverso, embora menos pronunciado. As grandes empresas voltam a estar melhor que as pequenas, embora desta vez não estejam fora de perigo.
Um terceiro indicador que merece inspecção detalhada sob este aspecto é a chamada cobertura dos Encargos Fifinanceiros, o rácio entre o EBITDA e o total de juros pagos.
Aí, os valores são realmente assustadores: a economia como um todo chegou a ter resultados de exploração pouco mais do dobro dos juros pagos.
Voltamos a encontrar nesta variável o mesmo padrão de dois ciclos na década, aliás muito mais marcado que antes: um primeiro que desce até 2009, recuperando até 2011, e um segundo, muito mais violento, que tem o seu fundo no início de 2013, recuperando desde então, mas para níveis ainda inferiores aos iniciais. Também voltamos a encontrar aqui a inversão da posição entre empresas privadas e públicas. Inicialmente, as segundas estão em desvantagem, com valores claramente inferiores. Porém, desde que começou a retoma da economia, são as privadas que revelam valores menores.
A construção mantém-se como o sector mais desesperado, chegando em 2013 a ter lucros que foram apenas metade dos juros suportados, o que configura uma clara falência técnica. Mesmo depois da recuperação, os valores ainda se mantêm muito baixos. Pelo seu lado, as sociedades gestoras de participações mantêm-se como as mais voláteis, registando os níveis mais altos, mas também dos mais baixos da amostra. De novo são as indústrias e as grandes empresas as que mostram níveis mais razoáveis.
Muitas outras conclusões se poderiam retirar desta interessante base de dados, mas estas chegam para caracterizar o problema que o país defronta. Só para dar uma ideia breve de outros aspectos, o quadro seguinte apresenta para os mesmos momentos do tempo, mas apenas para a totalidade das empresas, a evolução de três outros rácios financeiros.
O primeiro é ainda um indicador de dependência financeira, o peso dos nanciamentos obtidos no total do activo, medido em percentagem. Aqui temos um padrão que parece diferente dos outros indicadores: existe uma subida ao longo de todo o período inicial até 2013, quando o nanciamento atinge uns impressionantes 40% do activo. A descida posterior apenas recuou para níveis de 2009. Na verdade, se tivéssemos seguido completamente o ritmo trimestral, veríamos que os dois ciclos estão lá, só que desta vez o primeiro foi muito mais curto e reduzido, com um pico de 38,4% em Junho de 2009 e um fundo de 36,8% em Setembro de 2010.
Os dois indicadores adicionais mostram a rentabilidade das empresas. O primeiro, a rendibilidade dos capitais próprios (return on equity), indica o peso percentual do resultado líquido do período no capital próprio. Estes valores, que os relatórios apenas calculam para o total da economia, média da amostra completa, desenham muito bem o padrão cíclico que já conhecemos. Uma rentabilidade média de 9% caiu para metade entre 2006 e 2009, para recuperar rapidamente em vésperas do início do programa de ajustamento. Este gerou uma queda para valores negativos em nais de 2012 e inícios de 2013. As melhorias mais recentes ainda apresentam valores abaixo de 7%.
Finalmente, o último rácio apresenta a rentabilidade bruta do activo, calculada como a relação entre o EBITDA e o total do activo. Esta rentabilidade ainda é bruta, porque lhe falta descontar impostos e outros encargos, mas dá uma indicação do funcionamento operacional da actividade. A trajectória segue exactamente o padrão da anterior: uma degradação nos primeiros anos, com uma recuperação até 2011, para depois cair estrepitosamente com o programa de ajustamento, de onde vem a recuperar desde 2013, embora mantendo-se signi cativamente abaixo dos valores iniciais. Isto indica que os descontos posteriores à exploração reduzem mas não alteram a linha dos resultados.
Esta análise um pouco morosa foi importante para esclarecer algo que com frequência passa despercebido: as dificuldades financeiras de Portugal não estão, antes de mais, na banca, no Estado ou em alguns sectores particulares. Elas representam uma característica de toda a economia. Os graus são diferentes, mas o problema é comum. Estamos agora a olhar para o outro lado das imparidades que identificámos na banca. Estão aqui as empresas aflitas para cumprir as obrigações que adquiriram num endividamento exagerado. E elas estão um pouco por todo o lado. As empresas públicas mais numa primeira fase, as privadas sobretudo na última, mas todas sempre.
A novidade que este exercício traz ao livro, se se pode chamar novidade, é a identificação de dois ciclos bem definidos nos últimos dez anos. A generalidade dos seis indicadores apresentados, cada um à sua maneira, desenha duas ondas consecutivas. Existiu uma decadência desde 2006 a 2009, que pareceu invertida subitamente até 2011; só que esse alívio mostrou-se ilusório, pois em seguida se cavou uma queda ainda mais dramática, até ao início 2013. A recuperação desde então ainda não permitiu regressar aos picos de 2006 e 2011.
Esta ondulação pode servir-nos para entender um pouco melhor a situação ambígua de 2016 e 2017, claramente paralela ao alívio de 2010 e 2011. A economia parece viver um momento de algum desafogo, mas os desequilíbrios mantêm-se e até se agravam. Precisamente como a curta primavera entre as crises não impediu a violenta ruptura após o colapso de meados de 2011, também as condições actuais não apresentam nenhuma segurança. Com um elemento adicional: no final de cada onda a situação é menos favorável que na anterior. Existe assim, por baixo do ciclo, uma tendência de fundo que é negativa. É pois provável que este colapso seja mais sério que o anterior.
Campeões da dívida
A análise da secção anterior considerou, com algum detalhe, a situação financeira das empresas não financeiras portuguesas ao longo da última década. É importante completar esse quadro com a comparação de Portugal com outros parceiros europeus. O Eurostat, organização europeia de estatísticas, não tem uma base de dados financeira tão detalhada como o Banco de Portugal, mas fornece um indicador que resume essa realidade, ao descrever o rácio da dívida líquida das empresas não financeiras face ao seu rendimento depois de impostos. Os dados estão em percentagem.
O quadro apresenta os valores portugueses junto com a média da Zona Euro (E19) e alguns países economicamente relevantes para comparação com a nossa situação. O panorama é desolador e confirma a grave condição do nosso endividamento. Desta vez nem a Grécia nos ajuda a mascarar a fragilidade. Usando de novo as referências que vimos para o rácio de alavancagem, que aqui seriam entre 400% ou 500%, a generalidade das economias europeias não apresenta problemas. É verdade que aqui se trata da dívida líquida, o que gera valores mais baixos e alguns até negativos, mas a referência pode manter-se. Só que, mesmo com essa menor exigência, Portugal tem os sinais de alarme todos a tocar, mesmo depois das melhorias recentes.
A Espanha acompanhou-nos no descalabro até 2009, mas conseguiu melhorar muito a situação desde então. A Itália tem vindo a agravar o endividamento das suas empresas e até nos ultrapassou em 2014. Mas estas são as duas únicas economias desta amostra que se cruzam connosco. Todas as outras, incluindo Grécia e Irlanda, estão não só abaixo, mas muito abaixo da situação portuguesa (a amostra original não inclui o Chipre). Mais uma vez, encontramos um caso onde Portugal se destaca em primeiro lugar: no endividamento das empresas somos um indiscutível campeão europeu.
Obtemos um quadro comparativo um pouco mais favorável quando consideramos o grau de endividamento das famílias. A série disponibilizada é para o rácio da dívida bruta das famílias face ao rendimento (gross debt-to-income ratio of households). Infelizmente, neste momento não há valores posteriores a 2013 nem indicações relativas à Grécia.
Vemos que Portugal se mantém na parte superior desta tabela, muito acima de países como a Bélgica, França e Itália, bem como da média da Zona Euro (E18). Mas, ao menos, desta vez temos outros parceiros que nos ultrapassam claramente, como é o caso da Holanda, Irlanda, Suécia e Reino Unido. Os nossos consumidores estão indiscutivelmente endividados acima do que deviam, mas não atingem a liderança destacada que se verifica nas empresas. Isto deve-se certamente a hábitos de consumo, que em algumas economias do Norte da Europa funcionam mais com crédito. O que pode significar que até esses valores superiores não nos devem descansar, por representarem situações mais saudáveis que a nossa.
Podemos concluir esta breve inspecção fechando o diagnóstico sobre a situação financeira nacional que temos vindo a construir ao longo dos dois capítulos anteriores. Portugal tem um Estado gravemente endividado e uma banca muito fragilizada, mas tudo isso repousa numa economia fortemente oprimida por uma herança de responsabilidades financeiras que tem e terá muita dificuldade em gerir.
Em particular, o aparelho produtivo apresenta uma situação assustadora. Quer a enfrentemos nas imparidades que envenenam os balanços bancários, quer a vejamos nos rácios das próprias empresas, a sombra de um passado esbanjador constitui um elemento central da nossa conjuntura. Ela será também um elemento decisivo no colapso que se aproxima.
Falta de capital
As duas questões anteriores e a primeira parte desta trataram quase exclusivamente de elementos financeiros. É verdade que eles estarão no centro do próximo colapso, que, antes de mais, será financeiro. Mas está na altura de tratar daquilo que realmente interessa: a vida das pessoas, a produção das empresas, a dinâmica da economia. Mesmo numa sociedade gravemente atolada em crédito, tem de haver vida para lá da dívida.
Lá iremos, mas ainda falta um último conjunto de considerações que, ligando a parte estritamente financeira à dinâmica produtiva, não apenas juntam esses dois mundos económicos, mas coroam e concluem toda a análise anterior. Porque a operacionalização de toda a esfera financeira está dependente das duas pontas do processo, a poupança das famílias e o investimento das empresas. O mundo bancário não é mais do que uma elaboração complexa e emaranhada para ligar estes dois agregados. Tomando o pulso a essas variáveis entenderemos não apenas as causas, mas também as consequências da nossa situação. E isso é especialmente importante se essas consequências incluírem um colapso.
Poupança anémica
Como vimos já num volume anterior, o nosso país foi recordista mundial da taxa de poupança nas décadas de 1950 e 1960, com o pico atingido nos 30% do rendimento disponível de 1972. Era um ponto do orgulho nacional ver os aforradores lusitanos a precaverem-se para o futuro. Na verdade, isso mostrava mais necessidade que opção e constituía um sinal de atraso. Numa sociedade sem segurança social, sem crédito a consumo e outras redes de protecção, uma pessoa ou poupava ou arriscava-se a ver-se numa situação desesperada por qualquer azar do caminho.
A revolução teve efeitos contraditórios neste indicador, simultaneamente empobrecendo e assustando os portugueses. Porque empobreceu, reduziu a base de onde poupar, mas porque assustou, motivou mais poupança. A taxa caiu para 22,6% em 1974, mas em 1976 já recuperara para 26,8%. Em 1982, quando a situação política estava normalizada, a taxa de poupança era 27,1%, e a média dos oito anos anteriores foi uns respeitáveis 24,2%. Começou então uma inexorável tendência de descida, que iria aproximar o nosso do mundo desenvolvido. Tinham terminado os tempos da estratosférica poupança portuguesa.
Dez anos depois, no início da década de 1990 e no lançamento do projecto do mercado único europeu, a nossa taxa de poupança estava à volta de 15%, que é o nível onde costumam andar os grandes países do continente europeu: Alemanha, França, Itália. Só que a dinâmica de endividamento que então começava fez-nos descer ainda mais esse indicador e na viragem do milénio já andávamos pelos 10%, o que nos punha no clube dos anglo-saxónicos, Grã-Bretanha e Irlanda, que usam muito mais crédito. Isso para nós era doentio, por não termos uma estrutura económica como a deles. Se a situação já era preocupante, as coisas agravaram-se a partir de 2005, quando começou nova tendência de descida, que nos trouxe a uns patológicos 5,2% no segundo trimestre de 2008. Portugal atravessara todo o espectro e passara do maior aforrador para o nível mais baixo da Europa.
Foi precisamente nesse momento que bateu a crise global e a taxa de poupança registou um comportamento surpreendente. No meio das dificuldades, que fizeram cair o produto nacional 3% em 2009 e a taxa de desemprego saltar três pontos percentuais, dos 7,2% do segundo trimestre de 2008 aos 10,6% do primeiro de 2010, a taxa de poupança conseguiu duplicar. No primeiro trimestre de 2010, ela já era de 10,1% e passou a utuar à volta de 8%. Esta evolução foi saudada por alguns analistas como um sinal de prudência e racionalidade dos agentes económicos. Enquanto o Estado lutava contra as imposições europeias no défice e os bancos escondiam as imparidades, ao menos as famílias compreendiam a situação e amealhavam para o que aí vinha.
Era aqui que se estava quando a economia se preparava para começar a recuperação. O volume anterior desta série, publicado em Fevereiro de 2103, concluía: «As famílias portuguesas mostraram assim, não apenas uma impressionante antevisão, exibilidade e rapidez de reacção, mas também uma forte resiliência debaixo das dificuldades. (…) A taxa de poupança permanece um dos pontos fracos da nossa situação económica, que a recuperação tem de ser capaz de resolver. Não será necessário voltar aos 20% de antigamente, mas é preciso aproximá-la dos 15% dos nossos parceiros» (p. 218).
Dificilmente este desejo poderia estar mais longe da realidade. Precisamente quando a economia começou a crescer, a taxa de poupança retomou uma tendência de descida. Dos 8,2% do primeiro trimestre de 2013 caiu-se para os 3,3% do início de 2016. Os lusitanos, antigos campeões do aforro, esqueceram-se de aforrar. Os sinais, referidos atrás, do aumento do crédito ao consumo no meio de um panorama de queda generalizada dos novos empréstimos, vão no mesmo sentido.
Mesmo com remuneração muito baixa ou inexistente, os consumidores de toda a Europa, certamente assustados por esses mesmos sinais estranhos, mantêm os seus níveis de precaução. Portugal está neste momento no mínimo da União, desde que se esqueça a pobre Grécia, que tem taxas de poupança negativas desde 2012.
Por outro lado, a política de austeridade seguida pelo programa de ajustamento e pelo Governo PSD-CDS foi assumidamente recusada pelo Governo PS apoiado pela extrema-esquerda. O poder actual rejeita que o país tenha «vivido acima das suas posses», atribuindo a crise ao cavaquismo e à austeridade, na linha do que vimos ser a explicação das nossas elites para a crise. A plataforma económica do actual executivo pretende estimular o consumo para obter crescimento, devolvendo rendimentos às famílias para, através dos seus gastos, obter dinâmica produtiva.
Talvez fosse bom explicar que, infelizmente, as famílias portuguesas já andam a fazer precisamente isso há três anos. Mesmo quando oficialmente se vivia em austeridade, já o consumo recuperava vigorosamente.
↓ Mostrar
↑ Esconder
Nos três anos desde o início de 2013 ao início de 2016, o consumo privado aumentou 8% acumulados, enquanto o produto só subiu 3,6%.
Podemos até fazer um exercício atrevido, procurando entender a reacção conjunta das famílias e das empresas durante as fases económicas recentes. Vimos atrás como o sector produtivo viveu dois ciclos financeiros, um mais curto que o outro. O gráfico da página seguinte apresenta essa dinâmica através de um dos indicadores que atrás foram estudados – o rácio de alavancagem, a tracejado. A linha a cheio é a taxa de poupança das famílias. Deste simples confronto das duas trajectórias sai uma conclusão muito curiosa.
Numa primeira fase, as duas linhas comportam-se de forma simétrica, subindo uma quando a outra desce, e vice-versa. A partir de 2013, porém, aparece um padrão diferente, descendo as duas variáveis simultaneamente. Esta transformação pode dar-nos uma perspectiva nova na compreensão da década recente.
As famílias portuguesas reagiram ao primeiro ciclo financeiro das empresas reduzindo a sua poupança, colocando-a nos mínimos em 2008. Nessa altura, as empresas aumentavam o seu endividamento, subindo o rácio de alavancagem. Ou seja, empresas e famílias moviam-se no mesmo sentido, agravando a sua dependência financeira. Quando a situação se inverteu, em meados de 2008, o comportamento de ambos mudou simultaneamente de sentido, mantendo assim o paralelo. Ou seja, durante o primeiro ciclo financeiro as atitudes dentro do sector privado eram semelhantes.
Esta coincidência de procedimentos foi quebrada a meio da primeira fase do segundo ciclo. As empresas aumentaram a sua alavancagem durante toda a fase recessiva do programa de ajustamento, do início de 2011 ao início de 2013, e passaram a descê-la quando a economia recuperou. Mas as famílias, que inicialmente subiram a sua poupança, inverteram o seu comportamento a partir do início de 2012. Nos últimos quatro anos, o endividamento das empresas e a taxa de poupança das famílias andam no mesmo sentido, o que pressupõe uma atitude financeira oposta. Em particular, as empresas têm usado o período de recuperação económica dos últimos três anos para reduzir a sua dependência de crédito, enquanto as famílias usam a mesma prosperidade para reduzir o seu aforro.
O comportamento da poupança das famílias desde 2013 é bastante preocupante. Com um endividamento elevado e uma situação económica bastante frágil, parece irresponsável reduzir a fatia amealhada de um rendimento que nalmente começou a crescer. Não é difícil entender como este constitui mais um dos aspectos que contribui para o prognóstico de um colapso eminente.
Investimento negativo
Já vimos atrás como este raciocínio linear pode ser rompido, quando o crédito bancário se dirige a projectos improdutivos. Agora devemos enfrentar um outro desvio nessa lógica, ao vermos o investimento cair.
À primeira vista, o problema não existe. Se, como se disse, o consumo privado aumentou 8% acumulados do primeiro trimestre de 2013 ao primeiro de 2016, o investimento bruto saltou 13,3%. Tudo parece ir bem. Mas as coisas mudam de figura quando as vemos mais de perto. Na verdade, os valores do investimento dão os sinais mais aterradores, nunca vistos na nossa economia.
Só é possível entender esse dramatismo se entendermos que a variável, desde o início deste século, sofreu a maior queda da história registada, que o reduziu quase a metade. A formação bruta de capital fixo contraiu, como se disse atrás, 47,3% desde o terceiro trimestre de 2001 ao primeiro de 2013. É verdade que a componente que mais contraiu foi a construção, que reduziu 56,3% nesse período. Mas o resto do investimento ainda reduziu 30% nesses anos, o que ainda é bastante violento.
Já vimos que grandes quedas costumam dar grandes ressaltos. A ausência desta reacção é que se mostra muito assustadora. Só perante aquela contracção tão forte é que o aumento recente parece medíocre e insuficiente. Apesar de a economia estar a crescer desde 2013 e a taxa de desemprego ter descido cinco pontos percentuais, de 17,5% para 12,4% em 2015, o investimento total caiu em seis dos últimos 14 trimestres e registou uma taxa homóloga de -3% em meados deste ano. Mais grave é a consideração da taxa de investimento, o peso dessa variável no produto nacional. Esse rácio, tal como a taxa de poupança, teve uma evolução perturbadora nas últimas décadas. Já atrás se referiu a impressionante trajectória dessa variável que a levou de mais de 30% nos anos 1970, até cerca de metade hoje. A culpa não é da descida da poupança, não é da revolução nem da CEE, pois o nível ainda estava em 25% à data da adesão em 1986, e 28% quando entrámos no euro em 1999. Agora anda pelos 15%. É sempre bom repetir que valores assim são evidentemente inferiores aos mínimos de depreciação, que permitem manter o stock de capital. Podemos pois dizer com segurança que Portugal está a desinvestir em termos líquidos desde 2011, deixando degradar a capacidade empresarial instalada. Comparando com os parceiros da União Europeia, surge de novo a anormalidade da situação. Portugal em 2001 ainda era o país dos 15 com taxa de investimento mais elevada, na altura 27,4%. Desde 2012, com 15,8%, está no fundo da tabela, só ultrapassado, de novo, pela pobre Grécia, que anda com valores abaixo de 12%. Na taxa de investimento, ainda mais que na poupança, a evolução dos últimos 15 anos levou-nos literalmente do topo ao fundo da lista dos nossos parceiros mais directos. Isto não pode deixar de ser a questão mais candente da conjuntura nacional.
Existe, pois, na actual economia portuguesa uma questão peremptória, central, decisiva, que subjaz a todas as outras e determina a situação produtiva: porque não cresce o investimento? É espantoso que ela esteja quase ausente do debate político e mediático, o que diz muito acerca do seu alheamento face ao interesse nacional. Com todos os sinais de perigo no máximo, era de esperar que o problema dominasse as atenções de todos os responsáveis governamentais ou económicos; mas, a julgar pelo que dizem, estão beatificamente alheados da questão. Os dramas que angustiam os comentadores de uma ponta à outra do espectro são a reposição de ordenados e pensões, aumento de consumo, redução do horário de trabalho e do IVA da restauração, para não falar das barrigas de aluguer e afins. Parecem não entender que, na falta de investimento, muito disso e outras coisas a que estamos habituados serão perdidas no futuro próximo, junto com a solidez da banca, crescimento dos salários, criação de emprego, receitas fiscais e outros temas, que, no fragoroso debate ideológico, ainda ocupam as suas piedosas intenções.
Ninguém duvida de que a falta de crescimento constitui o elemento central das nossas dificuldades económicas. Com a economia próspera, todos os apertos orçamentais e angústias bancárias esfumar-se-iam. Pelo contrário, na sua ausência, até actividades saudáveis dão sinais preocupantes. Por outro lado, é evidente que sem investimento a economia não cresce. Dado termos trabalhadores disponíveis, liberdade de iniciativa e mercados abertos, a falta de capital resume a origem do nosso bloqueio.
A questão decisiva da economia portuguesa no momento é, portanto, saber porque não cresce o investimento. E qual é a razão dessa terrível situação? Existem vários factores coadjuvantes, que vimos atrás, como a situação da banca ou a falta de poupança. Mas esses elementos são não só secundários, mas até em certa medida consequências da ausência da dinâmica do investimento. É por falta de oportunidades rentáveis que a banca está frágil, e a reduzida taxa de remuneração das poupanças resulta de aplicações pouco lucrativas. Além disso, é importante notar que as taxas de juro mínimas ou negativas, se são prejudicais à poupança, deviam facilitar o investimento. Nunca os fundos foram tão abundantes e nunca tanta gente andou tão desesperada para encontrar projectos produtivos onde investir o seu dinheiro. Esta conjuntura devia ser o jardim das delícias para os empresários. Por que razão tão poucos se arriscam a investir?
O ingrediente em falta é precisamente o que vimos ser a base das nanças: a confiança. É por isso que as taxas estão baixas, é por isso que a banca está frágil, é por isso que não há investimento. De alguma maneira, o mistério do investimento em falta é apenas outra face da aposta perdida de que falámos acima.
A resposta para o paradoxo está, afinal, nesse mesmo enviesamento dos temas em debate que omite a questão. Quem é que, português ou sobretudo estrangeiro, quererá investir num país com esta governação? Os empresários não são estúpidos e sentem bem o clima político. Num mundo globalizado é difícil um país atrair empreendimentos de valor, mesmo quando se empenha nesse sentido.
Este foi o motivo que, ao longo de 40 anos, fez o Partido Socialista sempre recusar alianças com partidos anticapitalistas e antieuropeus. Não era por razões ideológicas, mas por interesse nacional. Quando, por jogada táctica, se inverteu a opção, sofrem-se os custos correspondentes. Pode dizer-se que, tudo somado, o Governo até nem tem sido extremista, não enveredou por loucuras radicais, não desmantelou os pilares da economia, e até prometeu cumprir as odiadas imposições comunitárias. Mas se isso é uma agradável e preciosa surpresa, não chega para levar alguém a apostar milhões aqui. A qualquer momento, por negociação ocasional ou capricho eleitoralista, podem mudar os impostos ou os regulamentos, impor interesses sindicais ou nacionalizar negócios. Mesmo que os responsáveis jurassem que nunca o fariam, e ninguém os ouviu dizer tal coisa, a sua origem genética aponta nesse sentido. E não apenas a genética, mas o ruído que, da plateia, os partidos que apoiam o Governo continuam a fazer.
↓ Mostrar
↑ Esconder
A decisão histórica de António Costa, que transformou brilhantemente uma derrota eleitoral em vitória parlamentar, congelou o crescimento e o investimento. A economia ainda anda por impulso, até ao colapso próximo. E isso nem sequer é uma questão, porque não levanta dúvidas.
Não há capital
Toda a análise financeira das últimas questões converge para uma conclusão inevitável. Uma conclusão que é possível resumir em poucas linhas: «O comércio e a indústria tiveram durante algum tempo disponibilidades enormes: parecia que os comerciantes não acabavam de enriquecer. Todas as empresas pareciam prósperas; afinal muitos vieram a verificar que se tratava de riqueza ilusória e estavam na realidade empobrecidos: tinham distribuído e gasto o próprio capital. (…)
«Todos estes males têm somente uma cura – a estabilização da moeda, e esta é impossível independentemente da solução do problema financeiro.»
Este texto não foi retirado do memorando da troika ou de algum discurso político dos últimos anos. Ele foi dito a 9 de Junho de 1928 pelo então recém-empossado ministro das Finanças poruguês António de Oliveira Salazar. Por chocante que ainda hoje seja esta citação, ela mostra como os problemas são perenes. Mas se quisermos dizer o mesmo de forma mais actual, podemos apelar a um dos protagonistas do maior caso bancário da história moderna de Portugal, que o expressou de forma cortante:
«Em Portugal não há capital»
A frase é do banqueiro José Maria Ricciardi numa entrevista ao semanário Expresso, publicada a 25 de Março de 2016. Membro do clã Espírito Santo e opositor de Ricardo Salgado, presidente do banco de investimento BESI desde 2003, onde entrou em 1992, e onde se mantém à frente, agora como Haitong Bank, é o único dos dirigentes do BES que manteve a idoneidade bancária. Foi ele o autor da que pode ser considerada uma das mais importantes afirmações sobre a economia portuguesa.
De facto, só se entende o que se passou e vai passar por cá sabendo que aqui não há capital. Infelizmente, muitos, mesmo em posições de topo, ignoram ou tentam esconder esta realidade. O colapso aproxima-se porque não há capital. A economia cresce pouco ou nada porque não há capital. O país está à venda e as pessoas emigram porque não há capital. Os bancos andam anémicos, a dívida é enorme e as contas públicas não equilibram simplesmente porque não há capital. Isto é assim há décadas. Agora temos um governo que não gosta do capital, mas já antes não havia. Todos os sintomas que vemos à nossa volta mostram a falta de capital e todas as descrições da nossa crise são formas diferentes de constatar essa ausência. Temos mais dinheiro do que alguma vez tivemos, mas não temos capital.
Quanto falta de capital? Ninguém sabe realmente responder a esta pergunta, mas é possível obter uma estimativa rudimentar a partir dos dados disponíveis. Existe uma avaliação já antiga, realizada pelo Banco de Portugal, para os valores do stock de capital total da economia portuguesa no período de 1958 a 1981. Tomando esses valores como base, é possível fazer uma extrapolação, somando os valores do investimento anual posterior e descontando uma taxa de depreciação anual de 5%. Segundo esta aproximação, assumidamente grosseira mas sugestiva, o capital da economia portuguesa evoluiu normalmente até à viragem do milénio. Começou então a desacelerar por volta de 2003, e iniciou uma queda em 2011. Nos quatro anos até 2015 já registou uma perda de 1,5%.
Por que razão não há capital? Não é por sermos um país pobre; primeiro porque não o somos, e segundo porque mesmo quando éramos tínhamos mais capital que agora. Não há capital por duas razões. A primeira é que o povo não poupa. Como vimos, a taxa de poupança das famílias portuguesas, que no início deste ano passado estava em 3,3%, situa-se no registo mais baixo da nossa história, e é um dos valores mais baixos da União Europeia – cerca de um terço dos países com quem nos gostamos de comparar. Sem ovos não se fazem omeletes, e esta razão chega e sobra para que em Portugal não haja capital. O nosso país, que há duas gerações era campeão mundial da poupança, mudou de hábitos e gasta o que tem e o que não tem, sem pensar no futuro. Assim não pode haver capital. É crucial notar que esta razão, de longe a mais importante, nada tem a ver com políticos, empresários ou banqueiros. É o povo, todo o povo, que toma uma atitude de consumidor e devedor em vez de aforrador e investidor.
Existe outro motivo para a nossa situação, que tem a ver com o mau uso do pouco capital que temos e a incapacidade de atrair capital alheio. Aí podemos assacar culpas a governos envolvidos em despesas improdutivas, banqueiros que emprestaram a projectos tontos ou especulativos, e empresários sem visão ou capacidade. Todos eles, acusados por tantos dos nossos males, são justamente condenados, mas não constituem o elemento determinante que, de algum modo, está também por detrás deles. Porque foram as populações perdulárias que elegeram e apoiaram os governos esbanjadores e eram clientes dos projectos vácuos e de empresários incompetentes. A culpa de Portugal não ter capital é dos portugueses. Todos.
Quando não há poupança, a solução é usar crédito. Foi isso que as nossas empresas e famílias, além do Governo, fizeram durante duas décadas, acumulando uma das maiores dívidas mundiais. Crédito parece, mas não é, capital. Pode ser uma forma temporária de aceder a fundos que, aplicados de forma produtiva, se venham a transformar em capital. Mas uma abundância acumulada com dívida tem um perigo evidente. Precisamente aquele que hoje nos assola.
Por que razão os portugueses não poupam? Já vimos que com taxas de juro como as de hoje em dia não espanta que isso aconteça. Os valores miseráveis obtidos nas aplicações de fundos constituem uma vergonha que arruína aforradores, idosos, pensionistas e todos os que vivem do pé-de-meia que honestamente acumularam. No entanto, essas taxas são iguais em toda a Europa, que poupa muito mais que nós. Além disso, a razão destes níveis doentios, em vários casos até já negativos, está na mesma atitude gastadora que dizimou a poupança. As taxas só estão baixas porque o Banco Central Europeu, contra a opinião da Alemanha parcimoniosa, tem andado a injectar quantidades gigantescas de dinheiro, precisamente para apoiar os países endividados.
Aqui aparece de novo a evidência de que dinheiro não é capital. Essa liquidez pode aliviar temporariamente a factura dos devedores, como o Estado português, mas não se transforma em recursos produtivos que gerem crescimento e resolvam a crise. Pelo contrário, serve, quando muito, de anestesia local, mas com o enorme custo de desincentivar a poupança e estrangular a rentabilidade dos bancos. Não é fácil que este clima de taxas de juro ínfimas seja propício ao crescimento sólido e saudável de que Portugal e a Europa precisam para vencer de nitivamente a crise.
Portugal não tem capital porque vive há 20 anos acima das posses. É verdade que em 2008 isso abrandou. Só que, como a troika nos emprestou muito dinheiro, o país conseguiu ir descendo paulatinamente o desequilíbrio. Mas ele permanece. Desde 2008 que se anda a apertar o cinto e a vender propriedades ao estrangeiro para poder pagar as contas. Essa austeridade é necessária, mas não é a solução. Enquanto a poupança continuar a descer, a situação vai-se agravando.
Chegámos enfim ao problema decisivo, que se situa na capacidade produtiva. As finanças podem ser muito importantes, e vamos vê-lo de novo agora, quando se aproxima um colapso financeiro. Mas o essencial das coisas é sempre económico. O dinheiro é uma forma excelente de movimentar valor, mas o dinheiro não é valor. Só tem valor aquilo que satisfaz necessidades das pessoas, aquilo que tem utilidade. E nunca ninguém tirou utilidade do dinheiro em si mesmo, mas apenas daquilo que o dinheiro compra. Sem capital não há produção, e sem ela não temos o suficiente para comprar.
Esta primeira razão para a falta de crescimento, a ausência do capital, chega para explicar a situação. E, além disso, está ligada ao mecanismo do colapso que, como se viu repetidamente, é financeiro. Existe, porém, outra razão, tão ou mais importante que esta, e que também justifica a apatia económica. E essa tem a ver com o outro factor primário: o trabalho.
(…)
Crescimento estrutural
O crescimento português é muito reduzido, o que constitui um dos factores mais importantes para gerar o colapso que se aproxima. Vimos que a causa dessa situação está, em grande medida, ligada à falta dos dois factores produtivos fundamentais, trabalho e capital. Numa estimativa rudimentar vimos que, desde 2011, o capital caiu 1,5% e a população activa desceu 5,4%. Esta redução da capacidade produtiva, sem paralelo na história moderna de Portugal, chega para explicar a paralisia.
O problema, no entanto, vai muito para lá do futuro próximo. Embora este livro apenas trate da próxima derrocada, é possível ver como as consequências perdurarão no tempo. Portugal está a crescer pouco mas, pior, não se espera que venha a crescer muito mais. As suas perspectivas de dinâmica a longo prazo, tanto quanto é possível antecipar neste momento, são muito reduzidas.
↓ Mostrar
↑ Esconder
Segundo a OCDE, num relatório realizado há quatro anos, Portugal terá uma taxa tendencial de crescimento do produto por pessoa de 1,4% no período de 2011 a 2060, a terceira pior da lista, apenas acima da Alemanha (1,1%) e do Japão (1,3%) e em igualdade com a Áustria, a Grécia e a Itália
Segundo a OCDE, num relatório realizado há quatro anos, Portugal terá uma taxa tendencial de crescimento do produto por pessoa de 1,4% no período de 2011 a 2060, a terceira pior da lista, apenas acima da Alemanha (1,1%) e do Japão (1,3%) e em igualdade com a Áustria, a Grécia e a Itália. Além disso, e de acordo com o já citado estudo da Comissão Europeia sobre o envelhecimento, a taxa de crescimento do produto potencial nacional de 2013 a 2060 será de 0,9%, a pior da União a seguir à da Grécia (0,7%).
Assim, ambas as instituições, nos seus cálculos estruturais, estão de acordo em que não temos muitas hipóteses de uma prosperidade sólida no horizonte vislumbrável. Claro que estes números não são para levar à letra. Nem sequer são previsões no sentido técnico da palavra, porque ninguém pode antever uma situação a 50 anos. São meras extrapolações que indicam o que acontecerá se a circunstância actual se prolongar no tempo. Isso mostra como é urgente fazer uma transformação profunda e radical na estrutura da nossa economia para romper bloqueios, eliminar privilégios, lançar dinamismos. Sem transformar seriamente o quadro geral, esperam-nos décadas de marasmo.
Não se trata propriamente de uma novidade. Este mesmo tema é um dos poucos consensos presentes no comentário político nacional. Toda a gente, de todos os quadrantes, assume a necessidade de «reformas estruturais», um dos motes mais recorrentes do nosso discurso. Só que elas são como o monstro de Loch Ness ou o Encoberto, algo de que todos falam e nunca ninguém viu. E mesmo quando algumas são feitas, como no recente programa de ajustamento, os protestos são sempre muito mais do que as mudanças, e as que realmente conseguem ser feitas são muito menos do que as que deveriam ser.
A verdade é o país anda há décadas a empatar, iludindo as questões e mantendo mitos. Muitos interesses instalados, precisamente os que bloqueiam o país, preferem as coisas como são, enquanto falam em promover o desenvolvimento. Com esta atitude nacional, é de prever que tudo se mantenha pelo menos até 2060. Só uma grande perturbação mudaria as coisas. Uma perturbação como a que resultaria de um colapso.

















