Camões e outros contemporâneos não leva ninguém ao engano. É o poeta d’Os Lusíadas a personagem principal desta coleção de 24 ensaios sobre a literatura portuguesa e alguns dos seus protagonistas. Há Cantigas de Amigo, há Sophia e há Saramago, mas é Camões o nome em maior destaque.
O excerto aqui publicado pelo Observador tem por título “Camões: o imaginário da malandragem” e reproduz a participação de Helder Macedo no Colóquio Nacional Poéticas do Imaginário, na Universidade Estadual do Amazonas, em Maio de 2009, no Brasil.
O autor procura reforçar o lado boémio de Camões, que é preciso estudar e entender para não o ver apenas como herdeiro dos seus ídolos. Aliás, são precisas poucas linhas até que Helder Macedo avise: “O Camões de que vos vou falar é um Camões bem brasileiro, é o boémio da ‘malandragem’, mais Macunaíma do que herói épico com uma coroa de louros na cabeça. Até porque malandragem, como bem ensinou Antonio Candido, é uma coisa muito séria”.
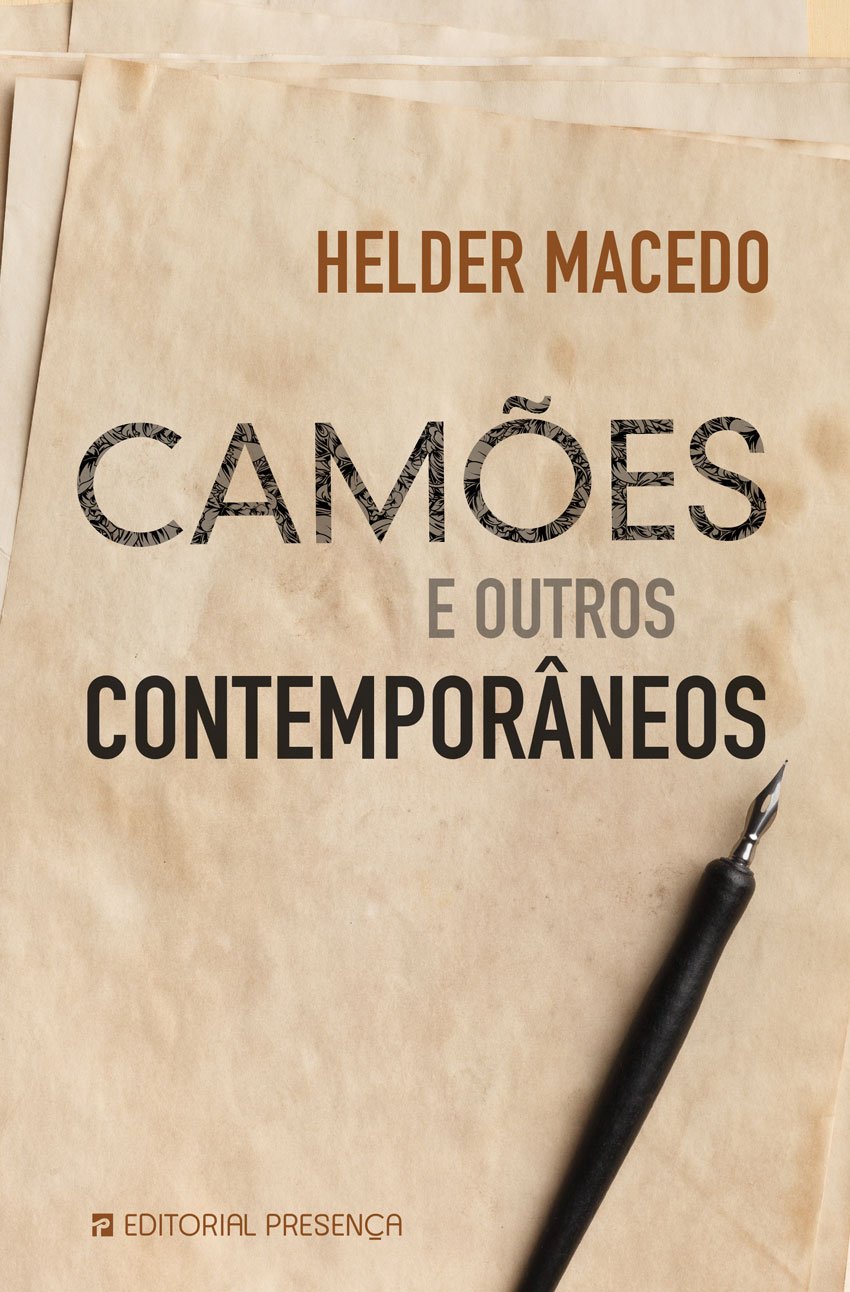
“Camões e Outros Contemporâneos”, de Helder Macedo (Presença)
“Ao aceitar, com muito gosto, participar neste colóquio sobre «Poéticas do Imaginário» — e creio não haver cenário mais apropriado para tal tema do que Manaus — rapidamente decidi que teria, mais uma vez, de recorrer ao nosso Luís de Camões, o poeta do imaginário de todos nós que escrevemos, falamos, pensamos e somos em português. E não apenas porque o tema que me foi proposto é «Literatura, história e memória» e porque Camões representa a memória da história de que partimos para chegarmos ao que somos agora nas nossas diferenciadas mas complementares identidades de portugueses e de brasileiros, sem esquecer as outras nações que partilham da sua língua, que é a nossa. Como disse uma vez o poeta José Craveirinha, Camões também era moçambicano. E não foi necessário ter Camões vivido no Brasil, como viveu em Moçambique, para também ser brasileiro.
Aliás, o Camões de que vos vou falar é um Camões bem brasileiro, é o boémio da «malandragem», mais Macunaíma do que herói épico com uma coroa de louros na cabeça. Até porque malandragem, como bem ensinou Antonio Candido, é uma coisa muito séria. Afinal, o picaresco é a outra face do épico. E se, como Dante, Camões se encontrou, a meio do caminho da sua vida, numa selva escura, também percebeu, como Drummond, que a meio do caminho havia uma pedra. Muitas pedras. Ou seja, que o caminho, mesmo para o divino, é feito de experiências humanas, e que o riso e o choro são expressões complementares do mesmo rosto.
Escrevi recentemente um texto sobre as Cartas de Camões, que é a parte da sua obra que a crítica tradicional tem evitado por censoriamente considerá‑las reveladoras de comportamentos reprováveis. Volto aqui a falar delas, reproduzindo grande parte do que já escrevi, para acentuar de novo o que é preciso acentuar: que sem o prosaico não há poesia, que sem o ridículo não há o sublime, que sem o picaresco não há o épico. O que também significa que sem a experiência do que geralmente é entendido como «malandragem» dificilmente poderá haver o conhecimento de um sentido ético que nos reja a vida. O facto é que Camões sempre soube tudo isso e é isso que nos continua a ensinar. Essa é a lição da sua vida. Camões é a nossa memória de nós próprios.
Voltando ao que escrevi:
Poucos poetas mereceriam menos o destino póstumo de monumento nacional do que Camões. Fixá-lo numa imagem de grandeza estereotipada é neutralizar a grandeza real de quem preferiu ao conforto das ideias recebidas a precária demanda de experiências ainda sem nome. Ao dignificar a experiência como base do conhecimento, Camões é um poeta moderno. Como os outros grandes perenes da literatura renascentista (Cervantes na prosa, Shakespeare no teatro, poucos mais), quando fala do seu tempo e para o seu tempo, está também a falar do nosso tempo e para o nosso tempo. Disto resulta que possa haver um Camões diferente (ou um Shakespeare, ou um Cervantes) de cada renovada perspectiva de leitura, muitas delas legítimas, nenhuma delas definitivas. Mas também significa que há sempre nas multifacetadas complexidades da obra de Camões alguma coisa que escapa a qualquer discurso crítico.
Camões viveu num mundo em transição. Foi o primeiro poeta europeu com prolongada experiência directa de culturas tão diferentes da sua quanto eram então as da África, da Índia, da Indochina. A sua poesia insere‑se, é claro, na tradição ocidental que inclui Virgílio, Ovídio, Dante, Petrarca e, em termos mais amplos, o neoplatonismo renascentista. Afinal toda a linguagem é feita de passados e não de futuros. Mas a profunda originalidade de Camões manifesta‑se nos subtis deslocamentos semânticos que impôs a essa tradição, modulando a linguagem do passado de modo a poder significar uma nova visão do mundo para a qual ainda não havia linguagem feita. Usou a temática tradicional do exílio metafísico para registar os passos concretos de uma «vida pelo mundo em pedaços repartida» e, ao fazê‑lo, deu expressão a um novo entendimento que contrapõe ao absoluto da ordem divina o relativismo da ordem — ou desordem — humana.
A peregrinação registada na sua obra aponta para qualquer coisa de tão indefinível, mas revolucionariamente tão moderna, quanto é o direito à felicidade na terra. «Contentei‑me com pouco» — disse este «homem de naturaleza terrível» para quem até o excesso sempre foi pouco — «só por ver que cousa era viver ledo». A utopia da nossa contemporaneidade é ainda o sempre tão traído direito à felicidade na terra. O Camões nosso contemporâneo foi, assim, um poeta mais da dúvida do que da convicção, da rotura mais do que da continuidade, da experiência mais do que da fé, da imanência mais do que da transcendência, de uma sexualidade indissociável da espiritualidade do amor. E foi também, no fim da sua utópica demanda de felicidade na terra, o poeta da fragmentação que encontrou no lugar da totalidade que desejara. Não haveria, para ele, a final contemplação harmoniosa d’il sole e l’altre stelle porque a sua poesia inaugurou a percepção do mundo moderno, o mundo da diversidade, o nosso mundo de incertezas.

O estudo do humor na obra de Camões — que é patente até n’Os Lusíadas — ainda não foi feito
Tem-se escrito que Camões é um poeta petrarquista. É e não é. O petrarquismo foi para ele a base do antipetrarquismo. Tem-se escrito que Os Lusíadas são uma épica virgiliana. Também são e não são. A celebração épica da Eneida foi para ele a base de uma crítica antiépica. Tem-se tentado separar o Camões malcomportado dos bordéis lisboetas do sublime Camões da espiritualidade do amor. Mas ele próprio o não faz quando, na Ilha do Amor — esse vasto bordel de marinheiros e de ninfas —, a iluminação espiritual é entendida como um corolário da satisfação do desejo sexual.
De muito do que se tem escrito resulta, portanto, ou um Camões truncado ou um Camões contraditório, não o Camões para quem a contradição é a norma, não o Camões que harmoniza as aparentes contradições, não o multifacetado poeta que ao mesmo tempo é capaz de ironizar o sublime e de dignificar o efémero. O estudo do humor na obra de Camões — que é patente até n’Os Lusíadas — ainda não foi feito. Nem sequer o do cáustico humor das Cartas.
Três das quatro cartas que dele sobreviveram são testemunhos preciosos sobre usos e costumes reveladores da sociedade portuguesa do seu tempo. Mas há sempre um véu de pudicícia lançado sobre elas, como se não reflectissem a realidade social de onde o génio poético de Camões emergiu. Um dos mais competentes comentadores das Cartas, Clive Willis, tem o cuidado de minimizar o previsível escândalo do leitor desprevenido desde logo avisando que the two Lisbon letters do not reveal Camões in a good light («as duas cartas de Lisboa não dão uma boa imagem de Camões»); e o mestre camoniano Hernâni Cidade, referindo‑se a pessoas mencionadas numa delas, escreve o seguinte: «[…] como outros nomes que nesta carta ocorrem não têm sido identificados, nem valeria muito a pena o esforço que o tentasse. Seria pormenorizar a vida boémia do poeta, que não é certamente a que mais pode interessar». Não? E porque não? Ignorar a chamada «vida boémia» de Camões é também ignorar que o Portugal dos seus anos formativos foi um feixe dinâmico de tensões contraditórias, que a Lisboa da sua estúrdia juventude era um vasto mercado para tudo, inclusive para o comércio do bem e do mal.

Camões na prisão em Goa
Recordemos, portanto, alguns factos significativos das complexidades inerentes à sociedade portuguesa desse tempo. Já um poeta da geração anterior, Francisco de Sá de Miranda, havia mencionado a entrada no porto de Lisboa da «peçonha branca» que fazia que homens andassem sonhando ao meio‑dia pelas ruas da cidade. A prostituição masculina rivalizava com a feminina. Judeus e mouros coexistiam e traficavam lado a lado com cristãos vindos de toda a Europa. Mais de 10% da população lisboeta era negra. A violência pública abrangia todas as classes sociais. Mas questões de fé entre as diferentes religiões eram debatidas em termos filosóficos, como por exemplo na Ropica Pnefma de João de Barros. Os marinheiros contavam as suas inverosímeis experiências factuais com gentes e em mundos até então desconhecidos pelos outros povos europeus.
Na tecnologia, no pensamento e nas artes, Portugal estava na vanguarda do Renascimento europeu. Mas tudo estava em vias de mudar, o bom e o mau. Camões tinha cerca de dezoito anos quando o primeiro auto‑de‑fé se celebrou em Portugal. Cerca de vinte e três anos quando foi criado em Coimbra um dos mais progressivos colégios da Europa, o Colégio das Artes, cujos lentes (já ele estava em Goa) iriam ser investigados pela Inquisição. E tinha cerca de vinte e oito anos quando escreveu as cartas que revelam a tal vida que, na censória palavra de um camoniano tão ilustre como Hernâni Cidade, «não é certamente o que mais pode interessar». No entanto, Camões já não era então um imaturo adolescente, era um adulto com obra feita e uma não desprezível reputação de poeta.
Revisitemos portanto agora esse Camões que «não pode interessar», o Camões que faz o testemunho directo da sociedade portuguesa em que viveu. Foram encontradas apenas quatro cartas que tudo indica serem suas, embora se ignore quem são os destinatários. Há quem considere que a primeira foi escrita de Ceuta, a despeito de não haver nela qualquer referência que o comprove. É a menos especificamente localizada de todas elas e literariamente a mais elaborada, entremeando composições poéticas próprias, versos de Jorge Manrique, de Garcilaso e de Boscán, da écloga Crisfal, baladas populares e glosas bíblicas. As outras, duas escritas em Lisboa (provavelmente em 1552) e uma de Goa (certamente em 1553), são textos fundamentais para caracterizar não só os aspectos menos regrados do seu comportamento social mas também os desconcertos (para usar uma palavra muito sua) da própria sociedade em que esse comportamento se inseria.
Na primeira carta de Lisboa, depois de ironicamente saudar os beatíficos deleites de um bucolismo literariamente inspirado por Bernardim Ribeiro, contrasta-os com as mais imediatamente apetecíveis promiscuidades da vida citadina, fazendo um vivíssimo retrato de comportamentos, que não se limita — como a crítica tradicional tem querido presumir — a gente mais ou menos marginalizada, mas que inclui representantes de todas as classes sociais. Darei alguns exemplos.
A primeira referência é a uma dama tão dama que, pelo ser de muitos, se a um mostra bom rosto, porque lhe quer bem, aos outros não mostra ruim, porque não lhe quer mal. Em comparação desta, digo que criou Nosso Senhor o camaleão na arte de tomar a cor de qualquer lugar onde o põem.
Depois fala dos narcisos do amor enamorados das suas próprias sombras:
Uns vereis encostados sobre as espadas, os chapéus até aos olhos e a parvoíce até os artelhos, cabeça sobre os ombros, capa curta, pernas compridas. Nunca lhes falta uma conteira dourada, que luz ao longe. Estes, quando vão pelo sol, miram‑se à sombra e, se se vêem bem‑dispostos, dizem que teve muita razão Narciso de se enamorar de si mesmo.
A seguir vêm os amorosos melancólicos, vítimas naturais das celestinescas intrigas:
Estes, no andar, carregam as pernas para fora, torcem os sapatos para dentro, trazem sempre Boscão na manga, falam pouco e tudo saudades, enfadonhos na conversação pelo que cumpre à gravidade do amor. Nestes fazem as alcoviteiras seus ofícios, como são: palavras doces, esperanças longas, recados falsos. Hoje vos falam pela greta da porta: como vos não falou «estava maldisposta», «sentiu‑a sua mãe». Porque esta é a isca com que Celestina apanhava las cien monedas a Calisto.
Mas há também as virtuosas senhoras que substituíam a sexualidade pela religião:
Outras damas há cá que, ainda que não sejam tão fermosas como Helena, são altivas, como são as beatas de São Domingos e outras que conversam os apóstolos. Estas — prossegue — se geraram de viúvas honestas e de casadas que têm os maridos no Cabo Verde, assim que, as por casar e outras por lhes Deus trazer os maridos, de cuja vinda elas fogem, nunca lhes escapam as quartas‑feiras em Santa Bárbara, as sextas em Nossa Senhora do Monte, os sábados em Nossa Senhora da Graça, dias do Espírito Santo.
Ou ainda umas respeitabilíssimas senhoras, ostensivamente modestas, penitentes e até (os tempos não mudaram) ecologicamente correctas vegetarianas:
Umas dizem que jejuam a pão e água, outras que não comem cousa que padeça morte. E destas há algumas de estofo que fazem ir uma nau à Índia em três dias: grandes capelos e hábitos de sarja, contas na mão e o cu ladrão, e haja eu perdão, porque debaixo lhe achareis mantéus debruados, gravins lavrados, jubões de holanda, alvos e justos.

Camões por José Malhoa
De tudo isto se pode concluir, se não estou muito errado, que não é apenas a «vida boémia» do poeta — a tal que «não pode interessar» — que foi retratada nesta carta, mas que esse aspecto da sua vida é parte e sintoma de uma mais generalizada atitude moral e social que, necessariamente, tem de interessar a quem queira entender as complexidades — e, consequentemente, a actualidade — da obra de Camões. Note‑se, aliás, que é na sequência e como parte de tão vasto panorama social que Camões vai dar ao seu bucólico amigo algumas novidades sobre as «brandas» e artisticamente proficientes prostitutas de «rostos novos e canos velhos» que ambos obviamente conheciam e gostosamente haviam partilhado. Essas, as «damas de aluguer» que eram capazes de cantar e dançar tão bem quanto os artistas que «El‑Rei mandou chamar» para a Corte, não representavam portanto uma anomalia «boémia» mas um facto tão significativo daquela sociedade quanto todos os outros mencionados na carta. Conta assim, por exemplo, que depois de uma prestimosa anfitriã de bordel (que «reparava muitas órfãs e adubava os pagodes de Lisboa, afora outras obras de grandes respeitos») ter sido assassinada pelo marido ciumento («grande perda para o povo») as outras tiveram medo mas logo se reorganizaram, com merecido sucesso, numa nova «forte torre de Babel» em que «as línguas são tantas que cedo cairá, porque ali vereis Mouros, Judeus, Castelhanos, Leoneses, frades, clérigos, casados, solteiros, moços, velhos». Não é isto um amplo retrato da sociedade?
A outra carta de Lisboa também está recheada de significativas notícias. Ilustra, por exemplo, a perene mistura de corrupção e de violência ao falar de um senhor que «paga soldo aos maiores matadores desta terra, os quais já in illo tempore lhe tinham cozinhado a morte» e que consegue assegurar a corrupta conivência das autoridades não só também pagando «soldo» ao Tesouro mas propiciando os favores sexuais da irmã já que, «ainda que esta mercadoria seja defesa pelo senhor da Fortaleza, nestas viagens da China mais se ganha no furtado que no ordenado»; comenta alguns assaltos recentes a conhecidos comuns; e, é claro, dá informações pormenorizadas sobre os comportamentos das inevitáveis «ninfas de água doce».
Mas o principal propósito da carta é avisar o amigo a quem a dirige de que «é passado nesta terra um mandado para prenderem a uns dezoito de nós» por causa do espancamento de um fidalgo «em noite de São João». Aliás, logo no primeiro parágrafo, caracteristicamente brincando com coisas sérias, havia previsto os maus tratos que contra ele próprio já se estariam a preparar: «grandes mãos de ferro, capuzes de lâminas, maças de Hércules e golpes de Amadis, tudo contra o pobre de Camões». Não foi, no entanto, por essa celebração da «noite de São João» que Camões veio a ser preso e que pouco depois embarcou para a Índia com um ambíguo perdão do Rei. Mas foi, como se sabe, por uma equivalente celebração noutro dia do calendário religioso — o «dia de Corpus Christi» — quando feriu com a espada um funcionário do Paço.
Na carta que escreveu pouco depois de ter chegado a Goa (que caracteriza como «mãe de vilões ruins e madrasta de homens honrados»), Camões queixa‑se amargamente das injustiças e traições de que teria sido vítima. Mas creio que é um testemunho particularmente notável pelo que revela dos surpreendentes, e nada convencionais, usos erógenos do petrarquismo nos bordéis de Lisboa. Comparando nostalgicamente a intragável «carne de salmoura» das prostitutas locais com as irresistíveis «falsidades» das suas literariamente sofisticadas congéneres lisboetas, «que chiam como pucarinho novo com água», promete ir recebê‑las pessoalmente, como um Patriarca, de procissão e pálio, «se não recearem sofrer seis meses de má vida por esse mar», porque às prostitutas locais «fazei‑me mercê que lhes faleis alguns amores de Petrarca ou de Boscán, respondem‑vos numa língua meada de ervilhaca, que trava na garganta do entendimento, a qual vos lança água na fervura da maior quentura do mundo».
Tais comentários sobre os efeitos erógenos da poesia de amor contemplativo fazem, no mínimo, ponderar se a tão frequentemente proclamada ortodoxia neoplatonista de Camões teria podido ser assim tão ortodoxa. E, por extensão, muitas das outras ortodoxias que lhe têm sido impostas. A crítica tradicional sempre se escandalizou com os comportamentos sociais do cidadão, sistematicamente dissociando‑os da sua escrita poética. É como se Camões, seguindo o seu puritânico exemplo, tivesse podido funcionar em compartimentos estanques: à direita o sublime poeta, à esquerda o malandro malcomportado.
Mas creio que a espantosa modernidade da sua obra reside precisamente no facto de Camões só poder ser entendido como um desconfortável todo. E creio por isso também que quanto menos os estudiosos da obra de Camões insistirem em mostrar quão parecido ele é com os seus assumidos mestres — Virgílio, Ovídio, Dante, Petrarca… — e melhor acentuarem quanto deles se diferencia, mais evidente se tornará a relevância actual da sua obra. O mundo de valores em transição que foi o seu é ainda o nosso. A nossa contraditória diversidade já era a dele. Ele é porventura o mais velho mas, por isso, também o mais sábio dos nossos contemporâneos. Como já disse há pouco e digo de novo para terminar, quando Camões fala do seu tempo e para o seu tempo, está também a falar do nosso tempo e para o nosso tempo.”














