Em 1963, o historiador britânico Charles R. Boxer publicou o livro Race Relations in the Portuguese Colonial Empire (1415-1825) e já nessa altura desfazia um mito que, periodicamente, reaparece nas discussões sobre o colonialismo português como se nunca tivesse sido debatido: “Como muitos sabem, é convicção de muitos portugueses que o seu país nunca tolerou leis de discriminação racial nas suas possessões ultramarinas e que os seus compatriotas sempre tiveram uma afinidade natural no contacto com os povos de cor […] Estas crenças são sinceras e profundamente arreigadas, mas tal não significa que sejam sempre alicerçadas em factos históricos.” (citação retirada do livro Salazar, de Filipe Ribeiro Menezes).
No seu livro O Colonialismo Nunca Existiu, Gabriel Mithá Ribeiro diz que um dos vícios comuns nas ciências sociais é a “arrogante pretensão dos académicos em desfazer mitos”. Essa pretensão não se confina à academia, estende-se também ao jornalismo que ainda lhe acrescenta uma das suas missões mais nobres – a de dar voz a quem não a tem. Desfazer um mito (ou narrativa) – o da brandura do colonialismo português – dando voz ao outro foi um dos objectivos da jornalista Joana Gorjão Henriques quando se propôs fazer cinco reportagens nas cinco ex-colónias africanas, que inicialmente saíram no Público e agora surgem reunidas em livro.
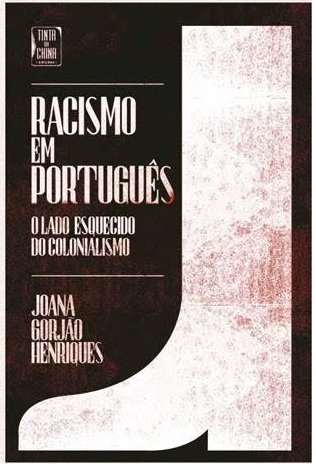
“Racismo em Português: O Lado Esquecido do Colonialismo”, de Joana Gorjão Henriques (Tinta da China)
Há dois riscos numa tal abordagem. O primeiro, que se refere à pretensão de desfazer mitos, é o de se atribuir ao mito que se pretende desfazer uma força que este não tem de forma a legitimar a empreitada que conduzirá à sua destruição. Joana Gorjão Henriques afirma na introdução que foi perguntar “se a versão dos portugueses como bons colonizadores, que se misturaram com as populações colonizadas, ainda vinga até hoje”. Termina essa mesma introdução com uma “nota de perplexidade” e pergunta:
“[p]orque insistimos num olhar benevolente sobre um Portugal que não hesitou em promover o trabalho escravo até 1974? Vamos perpetuar a narrativa de um colonizador que não discriminava porque se miscigenou com as populações, quando sabemos que as obrigava a despirem-se da sua identidade africana, a mudar de nome, a alisar o cabelo ou a obliterar a sua língua?”
É lícito perguntarmos: quem insiste nesse “olhar benevolente”? Quem perpetua essa narrativa “de um colonizador que não discriminava porque se miscigenou com as populações”? Para começar, deve dizer-se, antes de qualquer interpretação positiva ou negativa da miscigenação, que esta característica do colonialismo português, como outras que lhe são específicas, resultou das próprias condições e limitações do colonizador. Em entrevista à revista Ler, o historiador Francisco Bethencourt, autor do livro Racismos, explicou de forma sucinta: “O colonialismo português é um colonialismo low cost e é um colonialismo com pouca capacidade de manpower. […] Como os portugueses mandavam poucas pessoas para a Ásia, promoveram as relações raciais e promoveram elites locais mistas porque não tinham outras possibilidades. […] No Brasil é uma situação oposta porque a maioria da mão-de-obra era composta por escravos africanos portanto os portugueses misturavam-se com escravos africanos num modelo de domínio económico e social porque precisavam de um nível intermédio de raça mista de maneira a dominar uma população cuja vasta maioria era escrava e africana. Há ali uma tradição de mistura juntamente com racismo. Nunca deixou de haver racismo. O colonialismo português é tão racista como os outros mas tem uma prática de mistura racial devido a estes elementos.”
Legitimidade ou domínio
Falar desta idiossincrasia do colonialismo português não equivale a atribuir-lhe um valor positivo. Esse foi um trabalho do Estado Novo que, naturalmente, procurava preservar a posse das colónias através do enquadramento legal, mas também através da legitimação moral do colonialismo, tendo neste caso aproveitado as teorias luso-tropicalistas do sociólogo brasileiro Gilberto Freyre para enfrentar as crescentes críticas da comunidade internacional após a Segunda Guerra Mundial. A estratégia de Salazar, como refere Filipe Ribeiro de Meneses na biografia do ditador, era dupla. Ao mesmo tempo que sublinhava “a importância do mundo colonial para a preservação do lugar da Europa no mundo”, Salazar defendia a “natureza única do colonialismo português.” Foi aqui que o luso-tropicalismo e a miscigenação como marca positiva do colonialismo português se tornaram parte da mitologia oficial, embora o próprio Salazar discordasse de algumas das ideias de Freyre. Ou seja, de uma forma pragmática, o Estado Novo usou o prestígio intelectual do sociólogo e a popularidade das suas teses numa perspectiva de legitimação do domínio colonial.
Então, temos que o mito do português enquanto bom colonizador por se ter misturado com as populações locais foi um instrumento da política colonial do Estado Novo e é nessa condição que deve ser abordado e não como uma espécie de senso comum, de origens incertas e que aparentemente nunca teria sido questionado. Até porque as contradições internas do Estado Novo a propósito da questão colonial não eram ignoradas, pois era difícil conciliar o discurso que fazia a apologia da harmonia racial com algo como o estatuto do indígena (criado em 1926, e não em 1929, como é referido no livro de Joana Gorjão Henriques, na página 47, e que legalmente esteve em vigor, com algumas alterações, até 1961).
Como se pode ler na História da Expansão e do Império Português (coordenação de João Paulo Oliveira e Costa), este estatuto baseava-se numa “clara distinção entre os cidadãos/civilizados, sujeitos do direito europeu, e os indígenas, definidos como ‘os indivíduos de raça negra ou dela descendentes’ que, pela sua ilustração e costumes, se não distingam do comum daquela raça”. Quando, já depois da Segunda Guerra Mundial, se substituiu a velha doutrina imperial pela nova doutrina ultramarina, com a consequente alteração lexical, os críticos dessa mudança sublinhavam que “as condições de vida das populações do império constituíam um desmentido inequívoco da retórica que envolvia a ‘missão civilizacional’ portuguesa.” O que significa que, na prática, sempre houve uma consciência do fosso entre o discurso do Estado Novo e as leis e práticas discriminatórias, entre a justificação da missão civilizadora e a realidade de em quatrocentos anos não se ter civilizado praticamente nada.
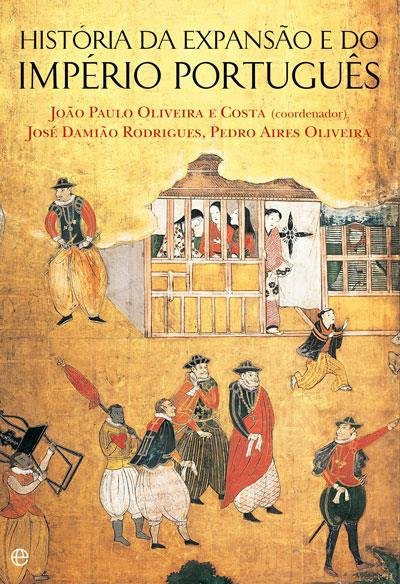
O livro “História e Expansão do Império Português”
Em “As contradições da mitologia colonialista portuguesa”, um texto de Eduardo Lourenço incluído no volume Do Colonialismo como Nosso Impensado, já a “filosofia colonial portuguesa” era desmontada, bem como alguns dos seus mitos, incluindo precisamente o da miscigenação, que Lourenço considerava a “mais gritante” contradição da “nossa mitologia oficial.” Atacava os apologistas do colonialismo português, com Gilberto Freyre à cabeça, afirmando que nem se davam conta de que “o ideal da miscigenação (mais a mais invocado pelo colonizador) não é outra coisa que a expressão suprema do Colonialismo, traduzida sob o plano do sexo.” Para o ensaísta, “o recurso à teoria do plurirracialismo mostra bem que se trata de um argumento de última hora, de tábua de salvação de afogados há muito na água da contradição histórica do colonialismo nacional.” Por muito que a propaganda oficial se esforçasse, a realidade desmentia “a tardia e incoerente mitologia que [servia] de arma diplomática e política a uma acção que não [ousava] descer até aos alicerces do seu bom direito.” O colonialismo português, da ordem “da dispersão, do acaso, da passividade”, corria atrás do prejuízo procurando compensar retoricamente as suas visíveis fragilidades e contradições.
O risco desta abordagem é, pois, o de apresentar como intacto um mito já desfeito várias vezes. O outro risco, associado à intenção declarada de “dar primazia aos testemunhos pessoais” e de querer “ouvir a sua versão da história”, é o de que os testemunhos recolhidos sejam consagrados como a verdade do outro lado, quase como se o jornalista ao registar as declarações do entrevistado estivesse a apanhar o fruto da verdade, que estava ali maduro à sua espera. Ora, os testemunhos não devem ser lidos de forma acrítica e o jornalista, por muito que ele próprio não queira julgar os seus interlocutores, não pode exigir ao leitor que beba a informação cristalina sem questionar a sua proveniência, que não a problematize.
O escritor espanhol Javier Cercas disse que “os testemunhos são fundamentais, mas é um erro pensar que têm a verdade absoluta. Um testemunho é apenas um testemunho; sacralizá-lo é um erro grave”. Até porque os discursos são, em parte, construídos pela realidade em que os indivíduos se movimentam. Não é indiferente entrevistar um analfabeto negro que toda a vida viveu no campo e um angolano mestiço com formação superior que viva num condomínio em Luanda. Não são apenas as suas experiências que são diferentes, mas também a capacidade de produzir um discurso sobre essas experiências. Tomemos como exemplo as declarações de Dautarin da Costa, um sociólogo guineense entrevistado por Joana Gorjão Henriques:
“Para haver dominação, é preciso uma condição fundamental, o dominado tem de acreditar que o dominador é realmente mais forte, que é inferior ao dominador. É muito mais difícil ganhar independência desse pensamento do que conquistar a independência ou a liberdade. Mudar o esquema mental é muito mais poderoso porque o dominado é o reprodutor da sua própria condição, e o dominador domina tanto que já nem precisa de estar muito presente no processo de dominação, aquilo já está no esquema mental do dominado.” (p. 93)
Em que medida isto é um testemunho pessoal e não um discurso profissional? Este é o relato directo da experiência do colonizado ou uma reflexão condicionada pela grelha das ciências sociais? Quem nos fala assim, fala-nos na condição de sociólogo.
Questões de perspectiva
Joana Gorjão Henriques optou por entrevistar, na sua larga maioria, pessoas que pertencem às elites sociais, intelectuais e culturais dos respectivos países – sociólogos, economistas, diretores de ONG, cientistas políticos, jornalistas, escritores, artistas gestores de projectos sociais, fotógrafos, poetas, historiadores, ex-Presidentes da República. O resultado é um certo afunilamento da perspectiva como se estivéssemos a observar uma área muito vasta através de um buraco diminuto. Referindo-se a certas “fragilidades recorrentes nas análises académicas sobre os fenómenos raciais”, Gabriel Mithá Ribeiro afirma que “o pensamento social é cada vez menos gerado de baixo para cima, ou seja, é cada vez menos condicionado pela sensibilidade popular, e cada vez mais produzido de cima para baixo por ter na génese fórmulas elaboradas do saber académico ou científico que, depois, se vão distanciando dessa matriz para se transformarem em conhecimento de senso comum no decurso das interacções em que os indivíduos participam no dia-a-dia.”
Não sendo uma análise académica, Racismo em Português, por se centrar mais nas opiniões e interpretações dos indivíduos sobre um passado, que alguns nem viveram directamente, do que no relato de experiências, obriga o leitor a expurgar os testemunhos desses sedimentos que se incrustam no discurso quando o pensamento escorre de cima para baixo.
Um caso paradigmático é, precisamente, o da questão da excepcionalidade do colonialismo português. Confrontados com a questão, nenhum dos entrevistados é da opinião que o sistema colonial português tenha sido brando. Servem como exemplos as declarações do sociólogo angolano Paulo de Carvalho, que não tem dúvidas de que a colonização portuguesa não foi diferente das outras, do historiador guineense Leopoldo Amado, que considera que o sistema colonial português foi um “sistema racista em todos os sentidos”, muito embora a “elite académica continue a reproduzir a ideia de que há uma particularidade da colonização portuguesa”, do também historiador Patrício Batsikama, angolano, que não crê que Portugal “tenha sido melhor colonizador. Não deixou grandes escolas, nem sequer temos universidades de renome em Angola”, de Mamadu Baldé, guineense, gestor de uma ONG, que não acredita na “existência de um colonialismo suave”, e de Fernando Lima, director de uma revista em Moçambique, que afirma que “Portugal gostava de se apresentar como um país não racista, ora isso não é verdade: havia racismo, havia discriminação racial”.

Salazar entre militares prestes a embarcar para as colónias portuguesas (circa 1950)
Outro exemplo de várias respostas convergentes é sobre os efeitos mais duradouros do colonialismo. Tassiana Tomé, 25 anos, moçambicana, licenciada em Sociologia e Antropologia, na Holanda, fala em “alguma internalização do racismo” e que “o facto de termos assimilado um certo tipo de inferioridade, veio do colonialismo”. O complexo de inferioridade é também identificado como a “grande herança do colonialismo” por Jorge Coelho, antigo candidato à presidência da República de São Tomé, e pelo escritor moçambicano Ungulani Ba Ka Khosa que acrescenta que “podemos dizer que fomos colonizados por um país periférico – e isso dá uma mentalidade periférica”. No mesmo sentido vão as declarações do publicitário angolano Ngoi Salucombo para quem o sentimento de inferioridade também passa por se entender “a colónia portuguesa como negativa, em comparação com as colónias francesas e inglesas em África, e em que nos sentimos inferiores”. A comparação com a colonização britânica e francesa também surge no discurso de Nelvina Barreto, guineense, para quem a maior interacção dos portugueses com as populações locais e a mestiçagem revelava algum paternalismo, ao contrário de ingleses e franceses que não se misturavam, mas davam “condições, escolas”.
Destes discursos transparecem alguns dados pertinentes: uma unanimidade na crítica ao mito da colonização branda, o que revela que essa mitologia naturalmente não foi “comprada” pelas elites pós-coloniais e pelas novas gerações, embora isto não signifique que haja na sociedade uma unanimidade semelhante. O guineense António Spencer Embaló, nascido em 1978, “acha difícil alguém da sua geração ser pró-colonialismo, mas admite que, na geração do pai, isso ainda acontece.” O que também acontece é que essas vozes não foram ouvidas, dando a impressão de que a tão poderosa mitologia da colonização branda teve um pequeníssimo impacto nas populações locais ou não sobreviveu às narrativas do período pós-independência. Outro dado relevante é perceber como ao mesmo tempo se nega a pretensão do excepcionalismo colonial português e se constrói um excepcionalismo negativo em comparação com as virtudes de outras colonizações europeias. Por um lado, a colonização portuguesa não foi diferente das outras, foi tão racista como as outras, por outro, foi pior do que as outras, até, em certo sentido, pior do que o apartheid, como se depreende das palavras do ex-Presidente de Moçambique, Joaquim Chissano: “Apartheid significa desenvolvimento separado, e em Moçambique não havia pura e simplesmente desenvolvimento para os outros”. Na tentativa de negar uma idiossincrasia positiva ao colonialismo português, de se derrubar o mito da brandura, emerge (involuntariamente?) uma idiossincrasia negativa, em particular na comparação com o colonialismo dos outros países.
Geralmente, uma definição de colonialismo como a que Eduardo Lourenço usa no livro a que já aludimos – “exploração sistemática de terras e povos autóctones acompanhada da tentativa mais radical ainda da despossessão do seu ser profundo” – deixa pouco espaço para elaborações mitológicas à volta da suposta bondade de alguma forma de colonialismo. Como diz o sociólogo Dautarin da Costa, entrevistado por Joana Gorjão Henriques, “como qualquer outro sistema, o colonialismo português sub-humanizou, subalternizou e brutalizou pessoas em nome de uma ideia de superioridade; independentemente das estratégias usadas, é mau”. Mas se o objectivo é desfazer os mitos que ainda subsistem sobre o colonialismo português tem de se perceber que estratégias foram usadas sem receio de que tal exercício seja visto como uma apologia do sistema colonial. Essas estratégias foram diferentes das de outros países colonizadores porque Portugal dispunha de meios humanos e materiais muito diferentes e que estabeleceram relações necessariamente diferentes entre colonizador e povos colonizados, do que é sintomático o papel que os cabo-verdianos desempenharam no sistema colonial e que ainda hoje encaixa mal na narrativa esquemática de “vítimas” e “carrascos” porque introduz categorias híbridas para as quais um único rótulo não é suficiente.
No seu livro, Gabriel Mithá Ribeiro avança com uma tese que diz segura: “a colonização portuguesa em Moçambique aos olhos dos próprios ex-colonizados assume característica de um processo histórico demasiado complexo para poder ser simplificado em interpretações de natureza redutora, valorativa ou normativa. Ou seja, só é possível compreender o significado global da dominação colonial portuguesa na medida em que as análises tiverem a capacidade de imbricar constantemente o positivo e o negativo”. É precisamente esta tessitura complexa, de testemunhos que alternem negativo e positivo, que está ausente do livro de Joana Gorjão Henriques porque partindo da intenção de desfazer um mito – o da brandura do colonialismo português –, que já por várias vezes foi desfeito, acaba por privilegiar opiniões que vão no sentido de uma contra-mitologia. Esta, tendo a virtude de vir do lado dos povos colonizados, é em certos aspectos tão redutora e limitada quanto a mitologia a que se opõe.
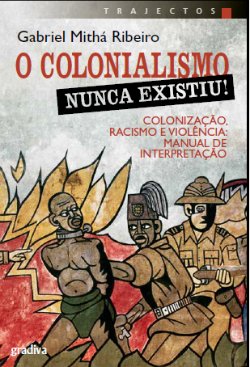
O livro de Gabriel Mithá Ribeiro
Se a um livro de reportagens não se pode exigir a profundidade de uma abordagem académica, também seria ingénuo pressupor que a sua natureza jornalística lhe confere uma neutralidade intrínseca. Porque não se pode olhar à lupa, com intuito de o desmontar, um discurso oficial de legitimação política – como era aquele que o Estado Novo usava na sua propaganda – e beber acriticamente os “testemunhos” do outro como se fossem a água que jorra das fontes, como se esses olhares, sobretudo pertencendo a elementos privilegiados das diferentes sociedades pós-coloniais, não estivessem eivados de ideologia, por vezes muito mais difícil de escrutinar porque, sendo dominante, não se apresenta como oficial.
Bruno Vieira Amaral é crítico literário, tradutor, e autor do romance As Primeiras Coisas, vencedor do prémio José Saramago em 2015














