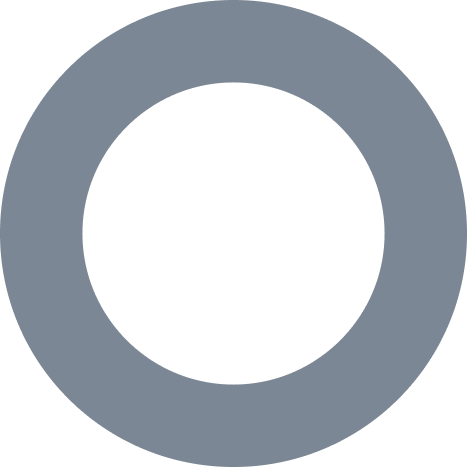Por incrível que pareça, há uma certa semelhança entre a montagem de um automóvel e a replicação do vírus da Gripe A. “Trata-se de um vírus bastante especial: o seu genoma está partido em oito pedaços diferentes e, para um vírus ser infeccioso (virião), precisa de ter uma cópia de cada um destes oito pedaços. O vírus sabe contar até oito e sabe escolher os oito segmentos a incorporar. Este processo é absolutamente essencial para que seja infeccioso, quer nas epidemias, quer na criação dos tais vírus pandémicos de que toda a gente fala”, explica Maria João Amorim que dirige o laboratório de Biologia Celular de Infeções Virais, no Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC).
Breve biografia
↓ Mostrar
↑ Esconder
Maria João Amorim, licenciada em Bioquímica pela Universidade do Porto, dirige o laboratório de Biologia Celular de Infeções Virais, no Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) desde 2012. Com doutoramento e pós-doutoramento na área dos vírus esteve, até regressar a Portugal, ligada à Universidade de Cambridge e National Institute for Medical Research, no Reino Unido.
“Podemos pensar neste vírus como a montagem de um carro”, continua a investigadora. “Quando entra na célula, o vírus desfaz-se nos pedaços que o constituem e, depois, o genoma é transportado para o núcleo da célula – onde está o nosso DNA. Aqui o genome é replicado vezes sem conta, dando origem a todas as peças necessárias para montar os novos vírus. Estas diferentes peças são portanto produzidas em sítios diferentes das células. Ou seja, podemos pensar que tudo se passa em fábricas diferentes e, em cada uma, produz-se um tipo diferente de peças. Quando o vírus quer sair da célula, todas estas peças precisam de se juntar fisicamente num local para que novos viriões sejam montados. A informação desse local precisa de estar codificada no vírus. O que descobrimos recentemente é que no caso do vírus da gripe há a distinguir duas partes: a montagem final do virião e a montagem do complexo que forma o genoma. Relativamente ao segundo ponto, que é extremamente importante para a emergência de vírus epidémicos e pandémicos, o vírus consegue coordenar na célula os sítios onde faz a montagem do genoma”.
Aquilo que o seu grupo tem investigado nos últimos anos é precisamente a forma como o vírus se monta focando no processo da formação do genoma tentando responder, em primeiro lugar, ao local onde estão instaladas na célula as fábricas de formação, em segundo lugar, quais os processos envolvidos que permitem ao vírus saber contar até oito. “São estudos muito importantes, já que todos os anos se fala dos grandes casos da gripe A e da necessidade das pessoas se prevenirem, nomeadamente através da vacina. Isso acontece porque o vírus tem a capacidade de, todos os anos, mutar e evoluir um bocadinho e de se sobrepor às barreiras que lhe vamos colocando”. Como referência, podemos lembrar que, só em janeiro deste ano, morreram cerca de mil pessoas associadas à gripe e ao frio.
A Gripe
↓ Mostrar
↑ Esconder
Há dois tipos de gripe que nos visitam anualmente.
1 – Gripe A
É o género associado quer a epidemias quer a pandemias. A gripe sazonal que circula em humanos é de dois subtipos (sobretudo H3N2 H1N1). Dependendo dos anos o subtipo dominante vai variando vai variando e as estirpes vão evoluindo. Ou seja, também sofrem mutações.
Esta nomenclatura H3N2 ou H1N1 denota os diferentes antigénios, ou seja as partes do vírus que o sistema imune vê. Nos humanos, há a circularem anualmente estes dois subtipos, mas o vírus da gripe está disseminado por um nicho ecológico disperso, como por exemplo, cavalos, porcos, e as aves migratórias, que são o reservatório do vírus. O vírus é então extremamente diverso e existem combinações de todo o tipo entre 18 subtipos de H (hemaglutinina) e 11 de N (neuraminidase). As aves domésticas e porcos também são focos de disseminação.
2 – Gripe B
Género associado apenas a epidemias. A sua capacidade de mutação é ligeiramente menor do que a da gripe A. Só tem 2 linhagens e apenas infeta humanos (e curiosamente focas).
Um vírus sem piscas
Maria João Amorim não tem dúvidas: o estudo para tentar perceber como é que o hospedeiro se pode defender e saber do que é que o vírus precisa e como se move, para se replicar dentro do hospedeiro é absolutamente essencial, “não só para perceber como é que podemos atacar o vírus, mas também perceber que estratégias podemos utilizar no próprio hospedeiro, que lhe permitam ajudar a combater a doença”. Desta forma, procuram perceber se, ao modelar estas pequenas fábricas – mudando as suas características – se consegue, ou não, inibir a replicação do vírus.
Ainda não se está num nível de aplicabilidade das descobertas: “é preciso entender os mecanismos para se conseguir criar terapias que sejam verdadeiramente novas. Se compreendermos isto bastante bem, conseguimos pensar de forma racional e criar terapias que consigam inibir os vários passos necessários. E, desta forma, a ideia é conseguir criar antivirais que consigam bloquear os vários pontos de replicação do vírus”.
Parar para perguntar o caminho
Para Maria João Amorim, a par da investigação científica, há a necessidade de comunicar essa mesma investigação. Não só entre os pares, como na sociedade civil, “caso contrário, encontramos no mundo vários grupos a investigar exatamente a mesma coisa e o que se pretende é que haja progresso”.
Se, por um lado, as publicações científicas são formas de submeter os trabalhos ao escrutínio dos pares, são igualmente, assim como as conferências, uma forma de criar valiosas redes de networking com especialistas em campos complementares. Seguem-se os seminários ou workshops, as salas de aula e projetos de intercâmbio, que ajudam a partilhar a investigação. “O nosso grupo aqui do IGC é dinâmico, heterogéneo e multicultural composto por sete elementos com nacionalidades distintas”, começa por explicar. “Além destes elementos, recebemos anualmente vários estudantes para pequenos estágios. Este verão, por exemplo, estiveram connosco um alemão e duas sírias”. A investigadora considera ainda que a partilha com a população em geral também é essencial, já que muitas vezes são os fundos para os quais todos contribuímos que ajudam à investigação. “O desenvolvimento científico é essencial para novas terapias, mas também para conhecer o mundo que nos rodeia, ter noção do impacto de todas as nossas ações no meio ambiente e pensar em formas de conservação”. Neste caso, saber onde estão os vírus da gripe, qual a sua ecologia, onde e quando há picos de atividade, pode ajudar a evitar pandemias futuras.
A criatividade como motor da ciência
“A ciência faz uso da criatividade e tem de o fazer”, acredita Maria João Amorim. “Temos de estar sempre à procura de desenvolver novas formas de resolver as novas questões que vão sendo colocadas, mas também de revisitar questões antigas, de ajudar a mudar paradigmas e a compreender o mundo cada vez melhor”. Esta forma de encarar o conhecimento permite ter a humildade suficiente para sentir que “a visão que temos hoje do que acontece dentro da célula e de um organismo numa interação entre um vírus e um hospedeiro é a visão atual, com base nas informações disponíveis. Mas, daqui a 15 ou 20 anos, vamos ter uma capacidade de entender o que sabemos agora, de outra forma, o que nos vai permitir fazer avançar e desenvolver, não só o nosso conhecimento, como todas as terapias à volta”.
Saiba mais sobre este projecto em https://observador.pt/seccao/feeling-the-movement/