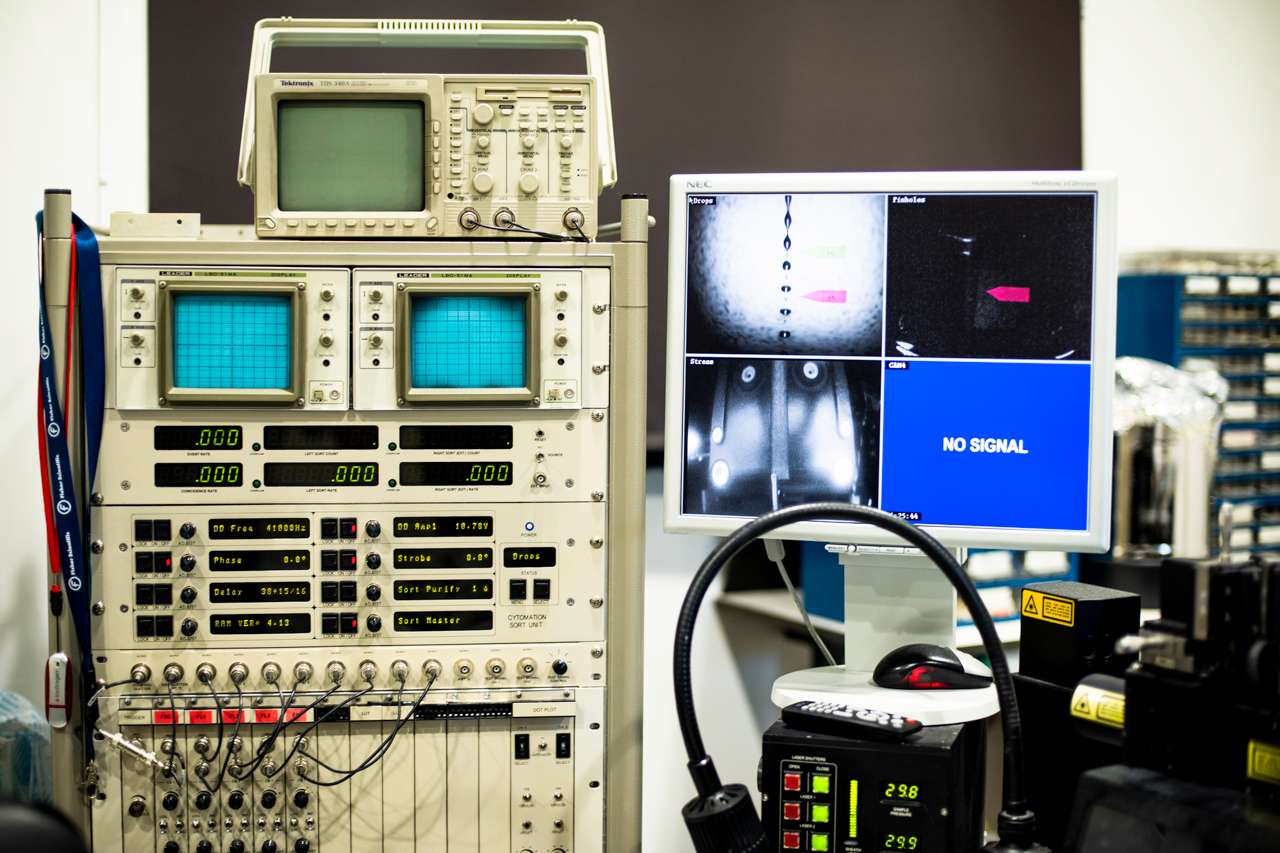São 11h30 da manhã quando Miguel Che Soares desce as escadas do Instituto Gulbenkian de Ciência em passo apressado e se senta numa das mesas da esplanada do laboratório sediado em Oeiras. Ainda tem muitas horas de trabalho até ao final da tarde (são cerca de dez horas diárias), e já respondeu a alguns e-mails, analisou dados para um artigo científico e teve uma reunião com a coordenadora do laboratório. Agora, explica, o que está a fazer sentado à nossa frente é também uma parte essencial do seu trabalho: “Comunicar com a sociedade para explicar o que estamos a fazer e porquê. Ou seja, para que é que isto tudo serve.”
Neste momento, aquilo que o investigador de 52 anos está a tentar fazer é criar condições para que seja possível intervir no tratamento da septicemia, ou sépsis, uma condição que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), mata cerca de 11 milhões de pessoas anualmente.
Durante décadas, só explorámos uma forma de lidar com os microrganismos que nos atacam: matando-os. Uma solução que, sendo muito eficaz, nem sempre é suficiente. “A capacidade de a pessoa infetada sobreviver não tem uma relação direta com a capacidade de eliminar o agente patogénico”, explica. “Ainda que o sistema imunitário funcione, reconheça o agressor e produza anticorpos contra ele, o doente pode morrer nesse processo de se livrar do invasor.”
Se estamos num cruzeiro e toca o alarme porque há um buraco no casco do navio, não podemos continuar na piscina a beber cocktails, como se estivesse tudo bem”, explica o investigador, recorrendo a uma imagem de que gosta particularmente para ilustrar esta condição. “Tudo o que não é essencial no barco tem de parar e todos os recursos são realocados para reparar o rombo. Caso contrário o barco afunda. Durante uma sépsis o nosso corpo faz exatamente o mesmo.”
Quando somos atacados por uma bactéria e a infeção se generaliza, o nosso corpo deixa de funcionar como habitualmente e entra em “modo de emergência”. É por isso que, quando ficamos doentes, perdemos o apetite e temos vontade de estar deitados. Isso, explica o investigador, são dois mecanismos de defesa: a falta de fome é uma maneira de impedir que as bactérias tenham acesso a nutrientes, o descanso serve para não gastar energia necessária no combater ao agente invasor. E dentro do corpo ocorre o mesmo.
“Para dar ao sistema imunitário toda a energia que precisa, o organismo deixa de executar todas as funções e tarefas supérfluas para se focar apenas no essencial. A isso se chama ‘controlo de danos’.”
Se este controlo de danos – que não é consciente nem depende da vontade do paciente – não é feito eficazmente, ‘o barco afunda’. Ou seja, a pessoa morre. “Os órgãos deixam de desempenhar as tarefas não essenciais, mas não o podem fazer eternamente. A certa altura entram em rotura e deixam de conseguir funcionar. É como se o corpo estivesse a tentar entrar em hibernação.” Só que isso não é possível. A morte por septicemia é, no fundo, causada por esta resposta do corpo que danifica os próprios órgãos.

Esta nova forma de abordar o tratamento da sépsis – com uma resposta metabólica do corpo – é cada vez mais importante no combate a um problema que Miguel Soares define como “monstruoso”: a crescente resistência aos antibióticos
Isso levou os investigadores a perceber que há um outro sistema de defesa – não imunitário, mas metabólico – que cumpre um importante papel. “Durante uma sépsis, o corpo reorganiza-se para ser o fígado a fornecer a glucose necessária. Os doentes que morrem têm problemas de glicémia: uns tem glucose a mais, outros a menos. Estes mecanismos que regulam a capacidade de o fígado produzir glucose são essenciais: não para matar o microrganismo, mas para fazer com que os vários órgãos possam continuar a funcionar.“
Com o projeto É Possível Curar a Septicemia Regulando as Respostas Metabólicas?/ Metabolic Reprograming in Sepsis – financiado ao abrigo do programa Health Research 2019, da Fundação “La Caixa” – o investigador e a sua equipa estão a estudar os genes associados à regulação do metabolismo da glucose, de forma a ser possível desenvolver novas estratégias terapêuticas focadas na prevenção da falência de órgãos.
Estamos a tentar perceber como é que os vários órgãos – o pâncreas, o fígado, os músculos – se organizam para manter níveis de glucose adequados para a pessoa sobreviver à doença infeciosa, mas – e aqui é está o truque – sem deixar que os microrganismos utilizem também essa glucose.”
Esta nova forma de abordar o tratamento da sépsis é cada vez mais importante no combate a um problema que Miguel Soares define como “monstruoso”: a crescente resistência aos antibióticos. A situação é urgente. No ano passado, durante a Semana Mundial dos Antibióticos – que a OMS criou como forma de sensibilizar para a utilização correta destes medicamentos – a organização emitiu um comunicado onde frisa que, “sem uma ação urgente, caminhamos para uma era pós-antibióticos, em que as infeções comuns e os ferimentos leves podem voltar a matar.” Neste contexto de urgência é preciso um melhor uso dos antibióticos existentes e é necessário desenvolver outros novos, mas também é fundamental pensar novas formas de abordar o problema.
As novas opções só são possíveis estudando aprofundadamente a forma como funciona o nosso corpo. Miguel Soares garante que só há dois tipos de ciência – “a boa e a má” – mas que a estrutura do conhecimento científico tem vários patamares. Aquele em que ele trabalha é a chamada ciência fundamental, que consiste precisamente em decifrar o código, em perceber como é que o organismo funciona. Só daí se podem partir para o patamar seguir, o da investigação translacional, ou seja, a transferência desse conhecimento para a investigação clínica, nomeadamente, para o diagnóstico e tratamento. “Como com os livros: se não houver autores a escrever, não há nada para traduzir. O que o meu grupo de investigação faz é escrever o livro.” Apesar de não serem especialistas ‘em tradução’, mantêm-se atentos e quando já existem medicamentos desenvolvidos que atuam sobre os mecanismos que estão a identificar testam-nos de imediato nos ratinhos em laboratório.

O investigador rejeita com humor qualquer inclinação precoce para a ciência. “Não lhe vou contar aquela história que já ouvimos tantas vezes do ‘eu já queria ser cientista em pequenino’. Estas inclinações surgem ou não com base nas possibilidades que nos oferece um bom sistema educativo. A nível escolar, quando ainda somos pequenos, mas sobretudo depois a nível universitário.”
No caso dele, depois da licenciatura em Biologia e do doutoramento em Imunologia, ambos na Universidade de Lovaina, na Bélgica, seguiu para a Harvard Medical School, em Boston (EUA) onde trabalhou durante dez anos na investigação em transplantes cardíacos.
Foi aí [Harvard] que fiz uma das minhas mais importantes descobertas: que os órgãos transplantados ativam um programa genético que produz monóxido de carbono e que é isso que os protege de serem rejeitados. “Recordo-me do momento em que percebi isso. Nesse dia, quando o meu chefe chegou, abrimos uma garrafa de champanhe.”
Já em Portugal, no Instituto Gulbenkian de Ciência, onde começou a trabalhar em 2004, participou em importantes descobertas relacionadas com os mecanismos de atuação da malária, nomeadamente que este mesmo mecanismo de produção de monóxido de carbono confere proteção contra a doença. Acredita, de resto, que será também muito importante em doenças como a Covid-19.
“São descobertas que ficam para a vida. Andamos ali uns meses com um orgulho escondido. É uma adrenalina viciante, mas são coisas que levam tempo: qualquer descoberta importante demora no mínimo cinco anos. E no dia em que decidimos avançar não fazemos ideia se vamos descobrir alguma coisa ou não. Por isso, costumo dizer: é preciso juntarem-se uma série de ‘loucos’ para fazer ciência.”
Neste momento, este “louco” e a equipa de loucos que coordena está a trabalhar para salvar vidas.
Este artigo faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação “la Caixa” e o BPI. O projeto MetabolicReprograminginsepsis/ É Possível Curar a Septicémia Regulando as Respostas Metabólicas?, liderado por Miguel Che Soares, do Instituto Gulbenkian de Ciência, foi um dos 25 selecionados (6 em Portugal) entre 632 candidaturas – para financiamento pela Fundação sediada em Barcelona, ao abrigo da edição de 2019 do Concurso HealthResearch. O investigador recebeu 500 mil euros para desenvolver o projeto ao longo de três anos. O HealthResearch apoia projetos de investigação em saúde e as candidaturas para a edição de 2021 abriram a 20 de outubro e encerram a 3 de dezembro.