No Dia Mundial do Livro é lançado um novo livro intitulado O vício dos livros, escrito e ilustrado por Afonso Cruz, que reúne relatos históricos, curiosidades literárias, reflexões e memórias pessoais, em torno de obras, escritores e leitores.
Um pequeno livro de capa dura, com breves episódios “em que a literatura tem protagonismo”, dirigido a “quem tem ou poderá vir a ter o vício dos livros” — como o define o próprio autor -, e que chega hoje às livrarias, mas tem lançamento oficial na sexta-feira, Dia Mundial do livro, através da página de Facebook da editora Companhia das Letras Portugal, com uma conversa com o autor.
É um livro que “não sei se levará alguém a entregar-se ao vício da leitura, mas ficaria feliz se isso acontecesse. Daria pelo menos mais um capítulo para este livro”, disse o escritor, em entrevista à Lusa.
Uma dúvida que fica no ar, num país em que os índices de leitura são baixos, é a de saber se será possível adquirir o “vício dos livros” em qualquer altura da vida, ou se há um momento certo, que se não for aproveitado não produzirá um leitor.
Afonso Cruz prefere acreditar que o interesse pela leitura pode despertar em qualquer idade.
Uma das histórias chama-se precisamente “porque não há muitos leitores”, que começa com uma citação do crítico literário George Steiner retirada do livro “O Silêncio dos Livros”: “a maior parte das pessoas não lê livros. Porém, canta e dança”.
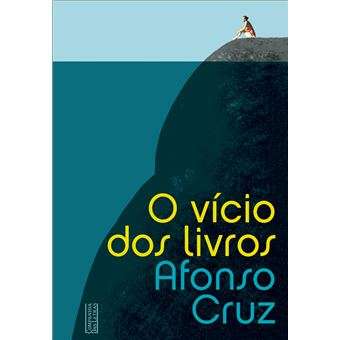
A capa de “O Vício dos Livros”, de Afonso Cruz (Companhia das Letras)
Isto por causa do argumento da “falta de tempo” que muitas pessoas apresentam como justificação para não lerem, já que quem quer tem sempre tempo para “abrir um livro, caminha enquanto lê, lê nos transportes, lê enquanto almoça, lê na casa de banho, lê antes de dormir”.
Num relato pessoal, a que deu o título “Princípio anti-Fermat”, Afonso Cruz aborda o mesmo tema ao contar que “quando era adolescente, ia para a escola a ler” e que “apanhava o autocarro que levava mais tempo (hora e meia em vez de uma hora, no total), porque assim não tinha de sair e apanhar o metro”, permitindo-lhe passar mais tempo a ler.
A história que dá o título ao livro explora as reflexões da escritora Edith Wharton em torno da leitura, que considera ser “um diálogo entre autor e leitor e que, se não houver um abalo qualquer naquele que lê, então tudo terá sido em vão”.
“A leitura deve resultar numa transformação e um leitor deverá saber que aquele que abre um livro não é a mesma pessoa que o fecha”, acrescenta a escritora norte-americana, primeira mulher a vencer o Prémio Pulitzer de Ficção, em 1921.
Há toda uma teorização sobre o poder transformador dos livros, que é apresentada também por outros autores, como Franz Kafka, Montaigne ou Emerson, mas o pressuposto base é que a dimensão da transformação dá-se proporcionalmente às capacidades do leitor.
“A leitura sem interpretação é possível e, infelizmente, comum. Por mais denso e rico que seja um livro, se o leitor não for capaz de ir além da fruição literal, a leitura não poderá ser mais do que superficial, sendo que em alguns casos, esta limitação é perigosa”, afirmou Afonso Cruz.
O autor considera que “é precisamente a capacidade de interpretar, de encontrar uma pluralidade de sentidos na leitura, que define a expressão de Edith Wharton, ‘ler bem'”.
“Ao longo do tempo, a leitura vai ganhando espessura: cada trecho lido terá mais camadas e mais substância, de acordo com o que vamos aprendendo. Creio que Wharton usou aqui a palavra ‘arte’ com o sentido de técnica ou habilidade, ‘saber fazer’, tal como a usamos, por exemplo, associada a ofícios, como a arte do sapateiro ou do oleiro ou do ourives”, acrescentou.
Questionado sobre o “abalo” provocado pelos livros a que Wharton alude, Afonso Cruz conta que “Tao Te Ching”, lido aos 16 anos, foi o livro que mais o abalou — sendo forçado a escolher um, porque poderia nomear vários –, ao passo que Corto Maltese foi a personagem que mais o marcou.
A força das personagens é outro dos temas explorados no livro, através de Balzac, que chorou com a morte da sua duquesa de Langeais, de Elias Canetti, que confessa que alguns personagens são tão fortes que “mantêm o seu autor aprisionado e o sufocam” ou de Edwin Abbott Abbott, que criou, na sua obra “Planilândia, uma personagem “inesquecível”, o Quadrado A.
De facto, “a solidez de uma personagem bem construída consegue arrebatar-nos, sejamos seus criadores ou seus leitores, e de algum modo transforma-nos”, escreve Afonso Cruz, acrescentando em nota de rodapé que “abrir um livro é abrir pessoas e explorar o nosso próprio mundo através da experiência dos outros”.
“O território inexplorado dentro de nós é acessível através dessa imersão em personagens que nunca fomos e jamais seríamos ou talvez venhamos a ser, e em vidas que nunca tivemos e jamais teríamos ou vidas que serão o nosso destino. As personagens dos livros que lemos são o meio de transporte para o que não somos, ou melhor, para o que somos sem ser. Creio que esta noção é fundamental: ser profundamente o que não somos”, acrescenta.
Enquanto leitor e escritor, Afonso Cruz conta que as personagens têm um impacto diferente em si, porque passa mais tempo com as que cria.
“Vivo com as minhas personagens, como a pensar nelas, deito-me a pensar nelas, acordo a pensar nelas, num processo que pode durar anos, dependendo do tempo que leva determinado livro a ser escrito. Algumas personagens, como, por exemplo, Isaac Dresner, são particularmente teimosas e aparecem em vários livros”.
Como leitor, “a experiência é um pouco diferente, mas provavelmente não é menos transformadora”, explica, sublinhando que “há situações que vamos vivendo que evocam determinadas personagens: por vezes deparo-me com um Zorba ou um mendigo de Cossery que surgem como uma camada invisível da realidade e se manifestam em certas pessoas ou atitudes”.
As bibliotecas são outro mundo amplamente explorado por escritores e amantes de livros, normalmente proprietários de grandes bibliotecas, como o faraó Ramsés II que por cima da porta de entrada da sua biblioteca tinha a inscrição “Casa para terapia da alma”.
São referidas as bibliotecas ao ar livre, como a da Rua Al-Mutanabbi, em Bagdade, as bibliotecas que mataram os seus proprietários ao caírem sobre eles, como a do sábio árabe Al-Jahiz ou a do pianista Charles-Valentin Alkan, as bibliotecas enquanto “autobiografias” dos seus donos, como referiu Borges, ou as bibliotecas que existem dentro de cada pessoa, representadas pelo adágio africano “quando morre um velho, desaparece uma biblioteca”.
A este propósito Afonso Cruz recorda a escritora santomense Olinda Beja que pôs uma personagem sua a dizer que “tem na sua cabeça um mundo de histórias a estragar-se”.
É claro que nem toda a gente tem a capacidade de escrever as histórias que tem dentro da cabeça, mas “essa não é a única maneira de partilhar uma história”, sublinha Afonso Cruz, que evoca Antonio Basanta, no livro “Leer Contra la Nada”: “A primeira biblioteca que conheci na minha vida foi a minha mãe […] Cada noite, antes de dormir, visitávamos as estantes da sua memória”.
A biblioteca como fonte de angústia também é referida, na medida em que “qualquer bom leitor, quanto maior for a sua biblioteca, mais sente o peso esmagador do que leu e, principalmente, do que não leu e nunca poderá ler”.
Apesar de afirmar isto, Afonso Cruz não sente essa angústia. Identifica-se mais com o escritor Jules Renard, que dizia: “Quando penso em todos os livros que tenho para ler, tenho a certeza de ainda ser feliz”.

















