Não sabemos se Roger Federer recebe ou não uma percentagem das vendas do livro, mas qualquer uma das hipóteses é uma desgraça. Ou porque não precisa, ou porque o escritor e o editor se estão a aproveitar da celebridade do tenista e, em qualquer dos casos, porque o título, simplesmente, não faz sentido: Os Últimos Dias de Roger Federer aparecem na página 239 do livro a que dão nome, que é como quem diz “exatamente ao fim de dois terços do dito” — e isto para não ocuparem mais do que umas breves páginas, ocasionalmente revisitadas a cada tentativa de regresso do suíço aos courts.
Quem vier, portanto, à procura de qualquer semelhança com o extraordinário ensaio de David Foster Wallace “Federer enquanto Experiência Religiosa”, não poderá sentir-se mais defraudado. Todavia, o que importa aqui são mesmo os “outros finais” referidos pelo subtítulo da edição portuguesa. Em suma, Os Últimos Dias de Roger Federer tem um título péssimo, mas eis as boas notícias: tudo o resto é muito bom.
Geoff Dyer é um romancista e crítico inglês que se mudou para a Califórnia e anda a lidar com esta coisa de envelhecer e morrer, agora a partir da casa dos 60-e-qualquer-coisa-anos-de-idade. Os dias em que a Covid parou a Terra deram-lhe, enfim, o tempo e o espaço para escrever “este livro sobre como as coisas acabam”.
A capa nomeia logo alguns protagonistas, para nos abrir o apetite: Nietzsche, John Coltrane, Bob Dylan, William Turner, Beethoven, The Doors, mas há muito mais. Andy Murray, George Best, Jack Kerouac, Pete Sampras, Chris Marker, Björn Borg, Philip Larkin, Keith Jarrett, Hemingway, Camus, Wagner, D. H. Lawrence, V. S. Naipaul, Miles Davis, John McEnroe, Muhammad Ali, Richard Ford, Duke Ellington, Mike Tyson – estrelas do desporto e das artes e da filosofia e há, sobretudo, o próprio Dyer a aprender a morrer (desde Sócrates que ainda ninguém encontrou uma definição melhor de filosofia).
Não conte com capítulos nem estruturas mais ou menos conscientes, nem entradas enciclopédicas bem organizadas e delimitadas sobre o crepúsculo de cada ídolo. Os Últimos Dias de Roger Federer é um livro sem género, uma deambulação deliciosa pela vida e pela cultura ocidental do último século e meio, que salta, com notável à-vontade, entre filosofia, courts de ténis e salas de concerto para jazz ou música erudita. Tão depressa estamos a discutir se Dylan já deveria ou não ter saído de cena, como a recordar as miúdas que não tivemos coragem de arriscar beijar e agora nunca mais o poderemos fazer.
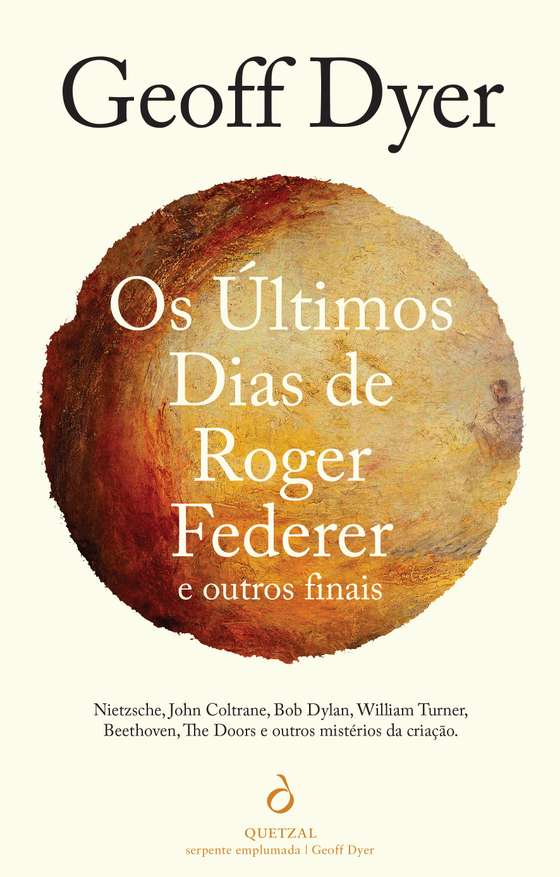
Título: “Os Últimos Dias de Roger Federer”
Autor: Geoff Dyer
Editora: Quetzal
Tradução: Bruno Vieira Amaral
Páginas: 384
O nosso fascínio pelas últimas obras, últimos concertos, últimas gravações, últimas palavras, últimos combates e sobre a mudança ontológica que sofrem quando a morte ou outra coisa qualquer as torna, efetivamente, em últimas (e assim, por vezes, salvando-as da banalidade). O cliché do “último assalto”. Os medos de sermos velhos de mais para isto ou aquilo, a romaria porventura fútil aos túmulos das personalidades que admirámos, o fardo das grandes primeiras obras e o medo de não se ter mais nada para dizer. O clube dos 27 e outros mortos jovens e eternos, Van Gogh e os que foram amados só depois do fim, os livros sobre não conseguirmos escrever mais livro nenhum, os regressos que apenas servem para provar que o fim tinha mesmo sido o fim e aqueles outros, raros, que resgatam e trazem de volta à grandeza, se possível, maior ainda.
A relação evidente entre Nietzsche e Wagner e implícita entre Nietzsche, Beethoven e Turner ocupa muitas páginas e é magnífica, mas, às vezes, basta uma página ou duas, como as que tratam de um fenómeno tardio na música chamado Charles Bradley, para Os Últimos Dias… alcançar os seus momentos emocional e intelectualmente mais altos. Ou as linhas magníficas sobre David Thomson, um crítico de cinema, ou ainda o desassombro com que Dyer assume tudo o que não leu ou tentou ler e não gostou, de Dostoievski a Joyce.
Afinal, muito mais do que Federer, poderia ser Nietzsche a celebridade puxada para título. É talvez ele de quem mais se fala ao longo destas páginas. Da sua grandeza e pequenez, da sua ambição, do esquecimento a que foi votado e como entrou, depois, “na corrente sanguínea do século XX”, do sonho de Dyer de erguer uma estátua ao filósofo e ao cavalo que abraçou quando enlouqueceu, na praça Carlo Alberto, em Turim, dos seus 11 anos de definhamento e das leituras injustas de que foi alvo. De amor fati, amar o facto e o nosso destino.
Mas estamos, na verdade, em território muito mais heideggeriano do que outra coisa qualquer. N’Os Últimos Dias…, somos seres para a morte, realizados de fenómeno em fenómeno, pela observação do outro. Vivemos uma e outra e outra vez os mesmos acontecimentos, segundo a lei do Eterno Retorno, mas é nos templos passageiros a deus nenhum erguidos nas areias do deserto de Black Rock que Dyer nos transporta aos dias em que ele e a mulher Rebecca eram frequentadores assíduos do Burning Man, para celebrar em fogo e cinza a efemeridade de tudo.
É filosofia embrulhada em pop, o que aqui temos. Cultura da boa, cheia de pequenas histórias, citações e reflexões, servidas em modo tão leve que poderão, sem dificuldade, acompanhar-nos o chinelar pelo verão afora. Vai destruir-lhe Kerouac para sempre, mas fazê-lo talvez descobrir o opus 132 de Beethoven, enquanto medita no espanto do poeta George Oppen perante essa dispensável experiência de envelhecer: “Que coisa estranha para acontecer a um rapazinho.”

















