Nunca será de mais reincidir nesta pedagogia, se quisermos sair da vulgaridade e protagonizar uma atualidade criativa bem consciente do que foi feito antes de nós, senão com genialidade, ao menos com qualidade suficiente para ser lembrado — e ao mesmo tempo, observar tudo isso com uma clara, aguçada noção do contexto histórico e técnico em que aconteceu. E mesmo quando, nesta publicação e na bela exposição que lhe corresponde (na Casa do Design de Matosinhos — e que merece itinerância e até, sejamos ousados, internacionalização…), há uma leve sensação de déjà vu, esse baralhar e dar de novo tem, ainda assim, virtudes próprias para quem sabe que a reinvenção do passado é um trabalho constante e contínuo, a todo o tempo enriquecido por renovadas e talvez surpreendidas abordagens, com novas peças soltas, num sobressalto valorizadas.
Numa abordagem inovadora, a exposição foi desenhada como um meta-livro, reclamando uma atenção mais fina ao modo como o objeto participa das nossas vidas.
Não se trata só de avaliar o livro em si mesmo, também há de observar-se a leitura como ato e a relação física que todos temos com ele: “O nosso corpo — escrevem — tende a ajustar-se à anatomia do livro. O formato do livro e o seu design não são, apenas, suporte e forma em relação ao conteúdo: são eles próprios, também, conteúdo. O formato de um livro modela modos de interação do nosso corpo com ele: permite que o transportemos no bolso ou exige um suporte para podermos folheá-lo; convida a um ritmo acelerado de leitura ou leva-nos a desdobrar as folhas e a manipulá-las lentamente” (pp. 47-48).
No caso presente, é o livro do “extraordinário século XX” (p. 69) que se apresenta em perspetiva portuguesa panorâmica, como principal arco histórico que há muito constitui o campo de trabalho e investigação de qualquer um dos dois, Bártolo e Silva, embora fosse desejável que — um dia — idêntico esforço de investigação e crítica incida sobre a história e o design de periódicos e afins, na enorme variedade dos seus objetos, dos jornais às revistas, dos almanaques aos folhetos de cordel, e recuasse meio século. Os autores reconhecem, e bem, que «uma compreensão mais efetiva da atividade editorial portuguesa do início do século passado, e das relações entre esta atividade e o mercado livreiro e os hábitos de leitura, aconselharia fazer esse recuo ao século XIX”, entre outras coisas para enquadrar “evoluções tecnológicas que renovam a indústria gráfica e a imprensa nacional” e “aceleram a partir da década de 1860”, permitindo a editores e livreiros na viragem do século, “em alguns casos com assinalável sucesso, potenciar um mercado em crescimento” (pp. 67-68). Silva, em particular, não se tem cansado de demonstrar que o modernismo gráfico dos anos 1920 veio enfim derrubar uma estética oitocentista para lá de obsoleta que contaminou e congelou o ensino das belas-artes e quanto dela resultava. Sete casas-editoras que deixam “marca indelével na edição do século XX constituem-se antes de 1901” (p. 96), desde a Livraria António Maria Pereira, de 1848, até à Editora Guimarães, fundada em 1899.
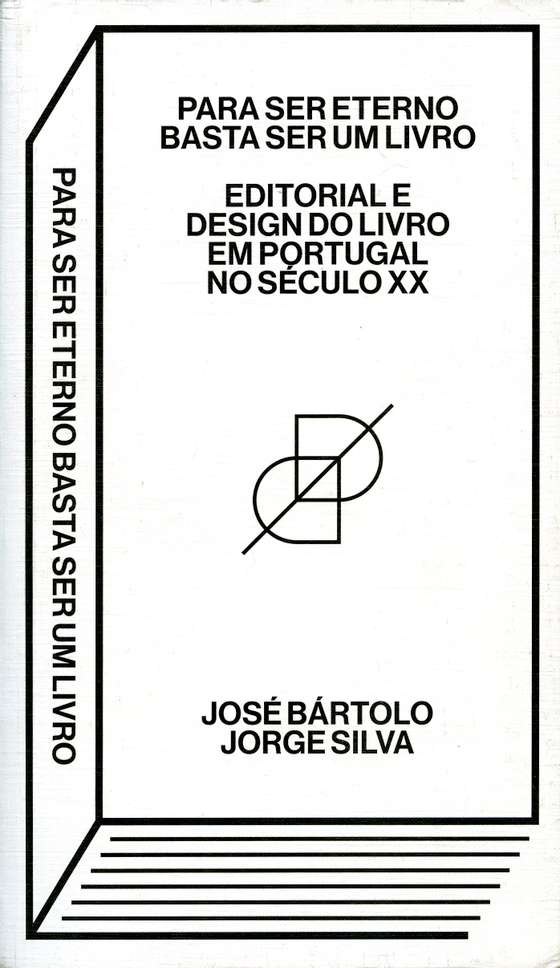
Título: “Para Ser Eterno Basta Ser um Livro”
Autores: José Bártolo e Jorge Silva
Editor: Esad—idea, investigação em Design e Arte
Design: João Queirós e Leonor Félix
Páginas: 604
Os autores mostram-nos, aliás, que “a figura do editor, tal como a compreendemos atualmente, é, em grande medida, uma consolidação do século XX”, pois “oficinas de tipografia, oficinas de encadernação, papelarias e, sobretudo, livrarias dedicavam-se à edição de livros” (p. 93). Toda a gente que em diferentes postos e modos os torna realidade (dos editores aos ilustradores e fotógrafos, dos designers aos gravadores e impressores) ganhou então um novo protagonismo, mas, contas feitas, a conclusão é de que, salvo raras exceções, ao longo das décadas a ilustração e o capismo ganharam larga vantagem sobre a tipografia (ou grafia em tipo) dos livros, por ausência duma direção gráfica integrada (direção técnica, parece-me mais ajustado). E esta é uma constatação central deste Para Ser Eterno Basta Ser um Livro: “as artes gráficas portuguesas têm uma matriz muito mais vinculada ao desenho do que à tipografia”. Mesmo que “insuficiências do parque tipográfico e escolhas de papel privilegiando o custo sobre a qualidade contribuíram, em diversos casos, também para a publicação de livros onde as imperfeições gráficas saltam à vista” (pp. 52-53), mesmo que «a dificuldade do diretor artístico intervir no processo de composição e produção gráfica corresponde ao modus operandi mais comum e o seu espaço de criação tende a ficar restrito à conceção da capa” (p. 55), não basta dizer que nos faltou algo como o manual de estilo tipográfico da Penguin Books (Jan Tschichold, 1947) — ou uma cultura oficinal do mesmo calibre, norte-americana ou europeia, que Rodrigues Miguéis refere numa citada carta a Saramago —, porquanto é a própria modéstia e a exaustão mecânica da nossa indústria gráfica a condicionar gravemente o que durante décadas foi feito.
Do meu ponto de vista, e embora o quadro desta exposição não seja o lugar apropriado para um debate sobre isso, a irrevelantíssima presença do sistema Monotype no quadro industrial português condicionou fortemente a qualidade da composição e impressão dos nossos livros, algo a que só a Sá da Costa soube resistir de modo consistente com a sua parceria com a Tipografia Guerra, de Viseu, dos anos 50 aos 80. De resto, pouca ou mesmo nenhuma atenção é dada à influência — bastante incisiva, aliás — das transições tecnológicas, em particular a da tipografia à fotocomposição e ao offset, sobre o apuro técnico dos impressos durante esses períodos.
Dois grandes temas, claramente percetíveis como convém, Coleções e Temas, dominam esta história editorial do século passado em “caleidoscópio” (p. 81), sendo uma primeira parte, ou “capítulo”, dedicada ao exercício — um tanto radical, mas de excelente efeito, sem dúvida — de “explosões” visuais, com a ampliação de pormenores de capas, numa resposta à dificuldade de exibir livros, já admitida, entre outros, por Paulo Pires do Vale numa inesquecível mostra na Fundação Gulbenkian em 2012, “Tarefas Infinitas. Quando A Arte e o Livro se Ilimitam” (v. pp. 71 e 153-61). “Transversais a todo o século, as coleções assumem um papel central na estratégia editorial e na caracterização do mundo dos livros, do seu contexto e da sua expressão gráfica» (p. 73), pelo que foram escolhidas trinta e duas — “um número que podia ser multiplicado por dez, resultando, ainda assim, numa amostra manifestamente lacunar” (p. 74).

▲ É óbvia a riqueza do aluvião informativo contido neste "Para Ser Eterno Basta Ser um Livro"
É realmente aqui que melhor fica exposto o vasto conhecimento desta dupla de curadores e bibliófilos, pois cada coleção e alguns dos livros que as compõem são antecedidos de elucidativas notas historiográficas e críticas, mesmo quando, em casos que se diria obscuros, alcançam dar-nos informações capazes sobre como, quando e por quem tais livros foram feitos. “Não é invulgar encontrarmos coleções de sucesso nos catálogos de casas-editoras portuguesas que são cópias de coleções de editoras francesas, espanholas e brasileiras” (p. 78), mas elas também se filiam em correntes artísticas e movimentos culturais, ou exprimem influências pessoais diretas — por exemplo, as capas da “longuíssima” (p. 330) coleção Vampiro, da Livros do Brasil, como «lente» de aproximação portuguesa ao surrealismo (e contaminou outras, da Minerva e da Édipo), ou as da Biblioteca Arcádia de Bolso, em demonstração da “capacidade de Sebastião Rodrigues acompanhar a renovação editorial anglo-saxónica” (p. 76). Outras vezes, encontramos o timbre único de pintores como António Charrua, em capas para a coleção Presença, da editora do mesmo nome (v. pp. 396-99), logo após bolsa da Fundação Gulbenkian que lhe facilitou périplo europeu e a correspondente “atualizada cultura visual”, ou de Paulo-Guilherme, para Orbe, da Livraria Clássica Editora, na mesma década e na seguinte.
O “capítulo” Temas organiza filões editoriais como o livro policial, a literatura colonial, a infanto-juvenil, a propaganda estado-novista, a edição neo-realista, os chamados “editores malditos” (ou terão sido apenas livres?) e os livros proibidos pela censura política.
A riqueza do aluvião informativo contido neste Para Ser Eterno Basta Ser um Livro reclamava seguramente a inclusão dum índice onomástico (mesmo tratando-se dum “catálogo”, que em geral não os têm, de facto), que mais depressa o tornasse útil, como é, a quem o consulte com propósitos de estudo e pesquisa. Na bibliografia de Jorge Silva e de José Bártolo, juntos ou a solo, constituirá doravante mais uma obra de referência, como tantas outras que já nos deram — e certamente continuarão a dar —, compensando em duas décadas apenas o enorme, escandaloso, persistente vazio de bibliografia portuguesa sobre edição, design gráfico e ilustração. É obra, como costuma dizer-se.
A exposição “Para Ser Eterno Basta Ser um Livro — Editorial e design do livro em Portugal no século XX”, está patente na Casa do Design, em Matosinhos, até 27 de outubro de 2024, de terça a sexta-feira das 10 às 13 e das 15 às 18 horas, e aos sábados, domingos e feriados das 15 às 18 horas.

















