Mais um dia de calor, mais uma enchente, a primeira confirmada pela rápida venda de bilhetes que fez deste o primeiro dia esgotado na 10ª edição do NOS Alive. As 55 mil pessoas ali presentes foram, seguramente, atrás da banda de Thom Yorke – e é isto que recebemos quando nos metemos com Radiohead. Mas um super cartaz como este teve muitos outros argumentos importantes.
Tame Impala
Ver Tame Impala está a tornar-se uma tradição de verão. Das boas. Desde que se estrearam por cá, em 2011, no palco secundário do Super Bock Super Rock, já cá tocaram cinco vezes. Saberão eles dar um mau concerto? Até agora parece que não.
O que nunca tínhamos visto acontecer em nenhum dos quatro concertos anteriores foi o fenómeno coletivo de topless e preservativos a voar a que assistimos durante uma hora. O público pareceu atingido por uma droga qualquer e várias raparigas começaram a tirar a t-shirt para a câmara, em cadeia, qual Woodstock da Linha. “Estou a ver o que vocês estão a fazer, Lisboa. A tirar a roupa. Podem fazê-lo à vontade”, disse Kevin Parker, antes de se atirar a “Apocalypse Dreams”.
Naquele que terá sido o mais eletrónico de todos os espetáculos que já deram em Portugal, com ênfase em Currents (2015) e com canções mais antigas, como “Why won’t you make up your mind” a ganharem apontamentos eletrónicos, o concerto fez a transição perfeita do anoitecer.
A batida, as luzes e os aplausos que recebeu a primeira moça despida que apareceu no ecrã fizeram o resto. Só tiveram uma hora. Estivessem eles em palco mais duas ou três e ninguém arredaria pé. [SOC]
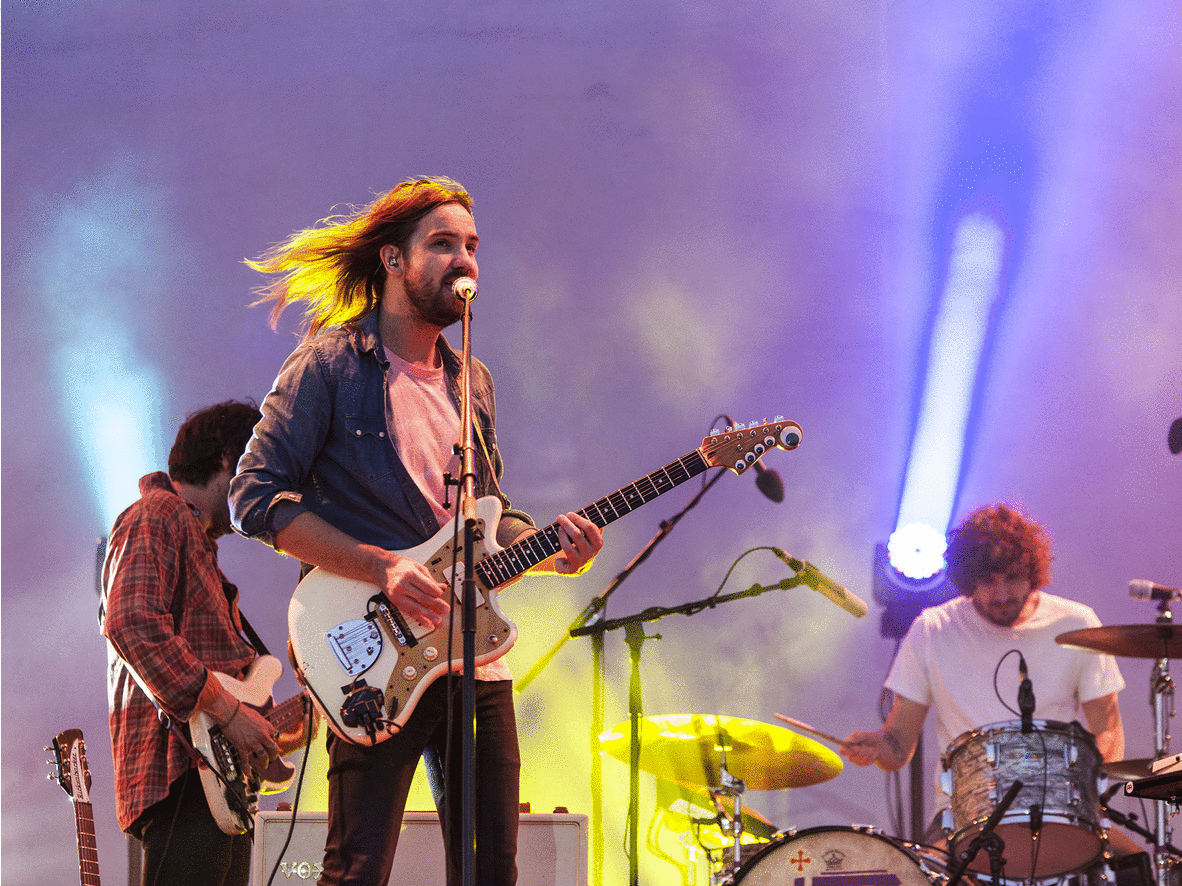
Foals
Passaram dois anos desde que os Foals vieram a Portugal (estiveram no Super Bock Super Rock) e os portugueses pareciam estar com saudades. A banda britânica, por seu turno, não se fez de rogada, e logo no início prometeu um concerto memorável: “Olá Lisboa, nos somos Foals do Reino Unido. Vamos passar um bom bocado”.
O espetáculo, o segundo do palco principal, foi imaculado, cheio de rock rápido e momentos mais sentimentais que puseram o público a cantar. A maior ovação foi para “Mountain At My Gates”, tema do mais recente What Went Down, de 2015. A resposta por parte do público foi tão boa que o vocalista Yannis Philippakis não resistiu: “Obrigado por nos fazerem sentir tão bem-vindos. Vocês são um público incrível”.
O melhor ficou para o fim, com “A Knife in the Ocean” e “What Went Down”, que trouxeram o ritmo que as músicas mais lentas fizeram perder. Energia, porém, nunca faltou e isso fez-se sentir. No final, os britânicos saíram com um “obrigada” por parte do público. Contas feitas, todos ficaram contentes. [RC]
Father John Misty
Nos últimos tempos, Josh Tillman afirmou-se como uma das grandes revelações da música alternativa. E hoje percebeu-se bem porquê.
Sob o nome de Father John Misty, o seu mais recente projeto, Tillman deu aquele que foi, sem dúvida, um dos concertos do dia. Mas não se esperava menos. Quando passou por Paredes de Coura, o músico mostrou bem o que vale e, por isso, quando subiu ao Palco Heineken as expectativas eram altas.
A primeira aparição, perante uma pequena multidão de pessoas que conseguiram resistir à tentação chamada Tame Impala, foi feita entre gritos e histerismos. Com sede de palmas, Tillman deu o espetáculo que o publico queria ver — ajoelhou-se enquanto cantou “When You’re Smiling and Astride Me”, atirou a guitarra ao ar em “Nothing Good Ever Happens At The Goddamn Thirsty Crow” e caminhou de um lado para o outro, esbracejando.
Percorrendo o palco ao som do piano, emocionou o público com “Bored in the USA”. Apesar da prestação vocal (para lá de incrível), foi o jogo de ancas que convenceu o público feminino (e não só). Sinal disso, foi o soutien que, lá para o fim, voou da plateia e que acabou a servir de adereço a um solitário microfone.
A fechar, Tillman cantou “I Love You, Honeybear”, primeiro tema do último álbum. Atirou-se ao chão, abrindo os braços, levantou-se de um salto e levou as mãos à cabeça. O público não aguentou e gritou por mais com palmas ensurdecedoras. Mas Josh Tillman tinha de se ir embora e despediu-se com beijos soprados ao vento.
Corações ao alto, Father John Misty esteve no Alive. E deixou o público a ansiar por mais. [RC]
They gave me useless education
And a sub-prime loan on a craftsman home
Keep my prescriptions filled
And now I can’t get off but I can kind of deal
Jagwar Ma
Os Jagwar Ma chegaram ao NOS Alive vindos da Austrália, onde o psicadelismo brota como cogumelos (que o digam os Tame Impala, que vieram ao festival de Algés no mesmo dia, ou os seus irmãos Pond).
Os Jagwar Ma foram o segundo grupo a atuar no palco Heineken, depois dos Souvenir, que abriram as hostilidades às 17h00. Mas foi o grupo australiano que começou a chamar público ao palco secundário do Alive, ainda o sol se fazia sentir (e bem).
A Lisboa trouxeram o seu psicadelismo eletrónico feito de guitarra, baixo, beats e sintetizadores. E deram um belíssimo concerto, como já tinham feito em 2013, no Vodafone Paredes de Coura. “É tão bom voltar” a Portugal, atiraram, a meio do concerto.
O público respondeu bem e dançou ao som dos australianos, particularmente apropriado para um festival de música a céu aberto. Ainda se ouviram fãs a cantar as músicas dos Jagwar Ma — mas eram maioritariamente turistas. Os portugueses (que lá estavam) ficaram-se pela dança, que durou quase uma hora. E ninguém pareceu sair insatisfeito. [GC]
Carlão
Pouca conversa que o stresse era ainda muito. Foi esta a emoção que Carlão repetiu várias vezes durante a entrevista que lhe fizemos uma hora antes do regresso a um grande palco de festival. Mas desde o momento em que lá entrou não se calou, ora ao dar contexto a cada tema, ora a contar as histórias de vida que fizeram dele o que é hoje. E claro, nas rimas das canções, com as quais se reencontrou.
Este reencontro foi fruto do crescimento, da vontade de experimentar coisas novas, até que chegaram os quarenta. O álbum com esse nome (que lançou em 2015) foi considerado, de forma mais ou menos unânime, um dos melhores do ano da cena hip hop portuguesa, não foi por acaso.
Foi precisamente ali em palco que se percebeu o porquê: Carlão é um show man que ainda se torna maior com os nervos à flor da pele. É no estrado que se sente a energia de um artista que carrega às costas um passado importante, com o fenómeno Da Weasel à cabeça. É tempo que já lá vai, disse-nos que não se aborrece quando lhe pedem para cantar esse passado, pelo contrário, é um elogio que assinala a importância que a banda teve ao ajudar a pavimentar o terreno – para muito daquilo que é hoje o hip hop português.
Quase arriscamos dizer que é no palco que as canções de Quarenta e do novo EP Na Batalha soam melhor, porque ganham contexto e história e voz e nervo. E raiva, porque Carlão sempre teve a língua afiada.
Como quando nos contou como cresceu, um mestiço de origem cabo-verdiana “no meio de pretos e brancos”, ser nem carne nem peixe até descobrir que não era preciso pertencer a um bando, apenas ser ele próprio. Revelado o clique, seguiu-se “Comité Central”.
Não faltaram as referências à atualidade. Primeiro as tristes notícias de Dallas e, quase no fim, uma canção com direito a dedicatória. “Colarinho Branco” foi para “um verdadeiro bandido: Durão Barroso, a caminho da Goldman Sachs.”
Carlão trata a língua portuguesa por tu, ou seja, com as letras todas (palavrões). Curioso como ainda se nota o desconforto em alguns rostos (o calão dito em inglês pesa muito menos), mas ele já passou dos 40 e está-se nas tintas. E faz muito bem.
Este encontro com o público do NOS Alive teve direito a convidados especiais. Primeiro Moullinex, a primeira vez que estiveram os dois em palco, e depois o velho amigo Sam The Kid – foi o momento 5-30 in da house e um dos mais aplaudidos. Uma nota ainda para a voz que o acompanha e com que se cruza nas rimas: Bruno Ribeiro, esteve impecável.
Carlão está como caracterizou, em entrevista, o hip hop português: em grande forma e com brilho. Assistimos a um espetáculo que foi “um grito de guerra”, mas com “uma mensagem de paz”. [PE]
Courtney Barnett
Ela parece que não está muito interessada no que está a acontecer à volta dela, mas é feitio e não defeito. O público que esteve no palco Heineken às 19h20 sabe disso e respondeu com saltos, palmas e crowdsurfing.
A tenda não ficou à pinha para ouvir canções como “Dead Fox”, “Pedestrian at Best”, “Avant Gardener” ou a ótima “Depreston”, até porque os Foals começaram quase à mesma hora no palco principal. Mas ela merecia, com o seu jeito de cantar de quem não tem grandes emoções a transmitir (mentira, é ouvir as letras com atenção) e de quem gosta de enfiar palavras onde as regras da métrica desaconselhariam (continua a quebras as regras, miúda).
Acompanhada por baterista e baixista, a jovem de 28 anos deu-nos aquele momento de que são feitos os bons festivais: descoberta, atitude, o prazer de abanar a cabeça para cima e para baixo perante a energia de uma australiana que criou a sua própria editora e que lança as músicas que quer, como quer. Obrigada, Courtney Barnett. [SOC]
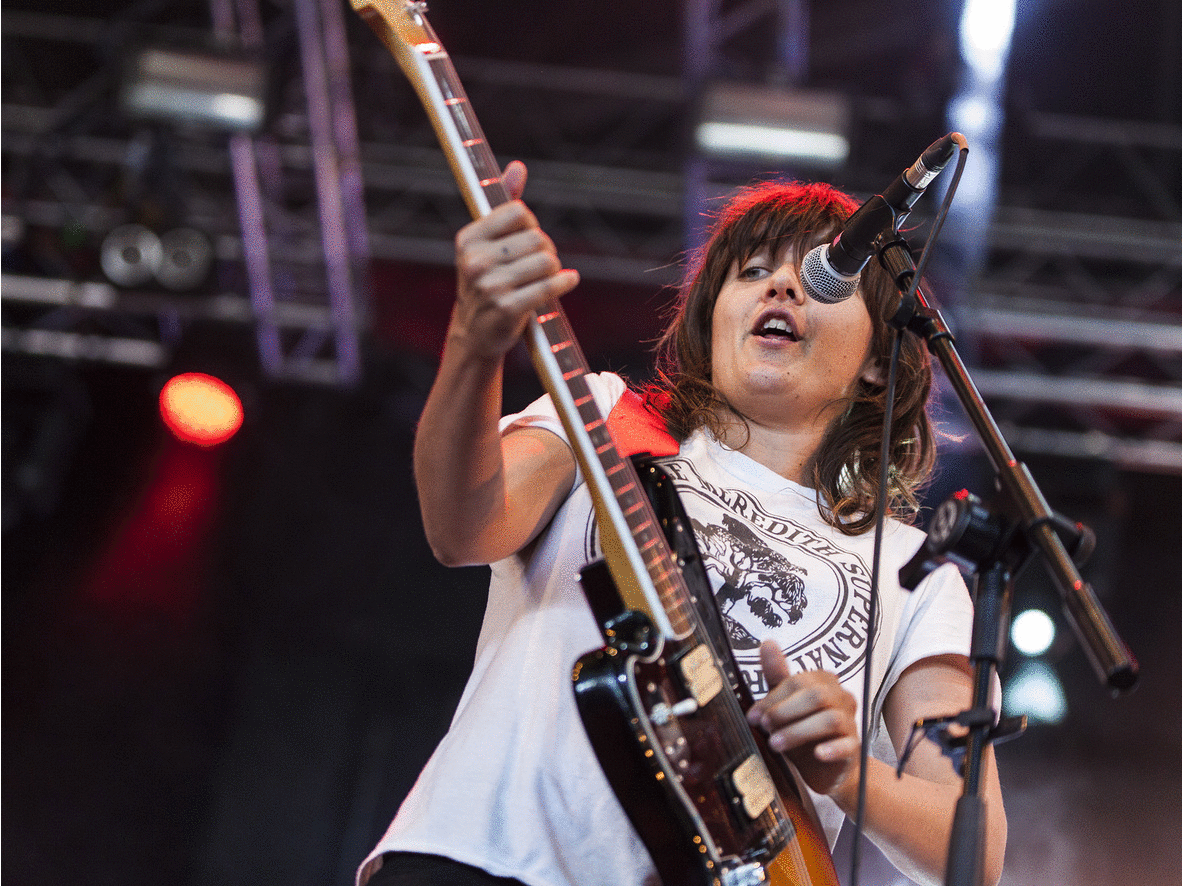
Two Door Cinema Club
Os Two Door Cinema Club editaram o primeiro álbum em 2010 mas, desde aí, só lançaram mais um (o terceiro sai em outubro). Não parece por acaso. Afinal, os singles dos dois primeiros álbuns (Tourist History, de 2010, e Beacon, de 2012) foram rodados (e explorados) até à exaustão. Pensamos em “What you know”, “I can talk”, “Undercover Martyn” ou “Something good can work”, por exemplo, que se tornaram sucessos imediatos. Foi por eles que os irlandeses chegaram a Portugal.
O reconhecimento não os torna particularmente relevantes na história do rock, sequer do indie rock. Quando, daqui a algumas décadas, continuarmos a fazer o que fazemos hoje (olhar para o passado para conhecer os clássicos, ouvir o que sobreviveu ao tempo) dificilmente o grupo de Alex Trimble, Sam Halliday e Kevin Baird aparecerá entre aqueles de que nos lembraremos primeiro.
Mas também não é a inventividade ou o génio que os Two Door Cinema Club procuram. Dão um rock simples e leve de tendências eletrónicas, cantarolável e dançável, que não agride os ouvidos. Foi isso que levaram até ao palco Heineken, numa transição compreensível entre as melodias épicas de Father John Misty e a (lá está) eletrónica dançável e aprimorada dos Hot Chip.
O público aderiu em massa: a montanha de gente que se deslocou do palco NOS (onde os Radiohead tinham acabado de tocar) para o concerto dos irlandeses tornou hercúlea a missão de quem queria transitar pelo recinto (ou tão só chegar ao dito palco). Quem por ali andasse, entre encontrões constantes e sem uma nesga de espaço para se mexer, mais rapidamente se imaginaria na Bica em noite de Santos do que num festival de Verão. Ali, nem Lionel Messi — perito em esquivar-se aos adversários e, pelos vistos, também aos impostos — conseguia driblar um só adversário (fosse ele o Piqué ou o tipo das finanças).
Os que foram mais rápidos a chegar encheram a tenda do Palco Heineken. Por ali viu-se de tudo: bandeiras de Portugal agitadas com fervor, incontáveis braços no ar, quase tudo a dançar e refrãos cantados como se não houvesse amanhã. Sobretudo quando os Two Door Cinema Club tocaram os hits, porque também foram tocando canções novas, do álbum Gameshow (com edição prevista para 14 de outubro), que mostraram que, para a banda irlandesa, em equipa que ganha não se mexe.
Em resumo: houve festa, entusiasmo do público e uma transição compreensível para os Hot Chip, por parte da organização. Do lado da banda, foi o que se esperava: um concerto algo previsível que não conquistou quem não conhecia nem surpreendeu particularmente, mas deu razões a quem já gostava (e eram muitos) para sair feliz. [GC]
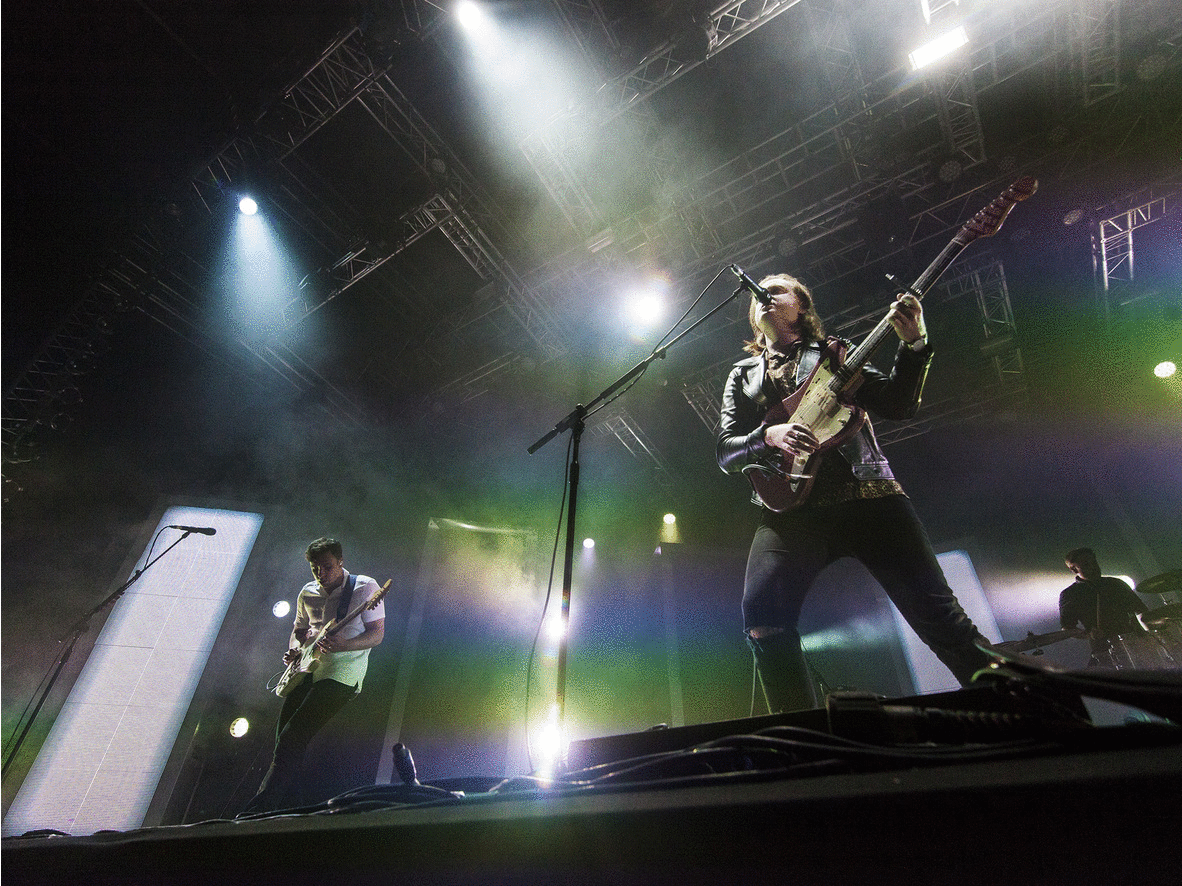
Hot Chip
A música eletrónica fica sempre para o fim, é dela que vem a energia capaz de destilar o álcool. Muitos dos presentes eram do Reino Unido, de onde vieram os Hot Chip, sete em palco com a voz de Alexis Taylor à cabeça. Os membros foram a eletrónica e a percussão, com destaque para Sarah Jones, na bateria.
O Palco Heineken voltou a ser pequeno para uma banda daquele calibre, música pop dançável quase sem paragens, como uma espécie de DJ set feito por sete (músicos). Foram generosos e passaram pelos principais hits dos seis álbuns de estúdio, sem nunca se limitarem a reproduzir. Eles reinterpretaram, introduzindo mudanças de tempo e efeitos sonoros. Música para dançar com o vocalista a dar o mote, como quando pediu para que todos se pusessem aos pulos fazendo ele próprio o mesmo – sem que a voz lhe falhasse numa única nota.
Ainda não se tinha visto, nesta edição do festival, tanta gente elevada em ombros. O público sabia ao que ia, as letras estavam na ponta da língua, foi dançar até fartar.
No palco do meio, DJ Kamala também conseguiu (sem esforço, pareceu-nos) manter o Clubbing composto, para encerrar o alinhamento que o próprio desenhou, numa apresentação do hip hop português a que chamou “Os Nossos”. O DJ no palanque de volta dos pratos, no palco bailarinos com coreografias, torres a lançar fumo e efeitos visuais bem projetados, um espetáculo com direito a confetes. Sim, a música é uma festa. [PE]
Ao longo do dia estivemos em direto neste liveblog, cuja consulta recomendamos porque inclui muitos outros momentos registados em palavras, fotografias e vídeos. A título de exemplo, falámos com Álvaro Covões, Vasco Palmeirim, Héber Marques e Fred Martinho (HMB) e ainda com o fadista Hélder Moutinho.
Este sábado é o terceiro e último dia da 10º edição do NOS Alive. Foi o segundo a esgotar (55 mil pessoas) porque vão atuar os Arcade Fire, M83, Band Of Horses, José Gonzáles, Paus, Four Tet, Grimes e Ratatat (entre muitos outros). E nós, uma vez mais, vamos cá estar.

































