Destes dois artistas musicais, qual é que Antonio Monegal, professor catedrático de Teoria da Literatura e Literatura Comparada na Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, prefere: Richard Wagner ou Rosalía? Se optou pelo compositor oitocentista alemão, errou; é mesmo da cantora pop espanhola que o autor de “Como o ar que respiramos” — vencedor do Prémio Nacional de Ensaio 2023 em Espanha — gosta mais, como adiantaria ao Observador.
A que se deve esta comparação aparentemente inusitada e construída de forma a induzir o leitor em erro? É um exemplo cristalino da forma como Monegal encara a cultura, recusando barreiras artificiais e defendendo que, seja arte considerada erudita ou música mais popular, ambas atingem o propósito de dar sentido às nossas vidas. “É muito contraproducente ter uma visão restritiva da cultura quando precisamos de defender que se trata de um bem comum, que pertence a todos. No momento em que dizemos que pertence apenas a alguns iluminados, faz todo o sentido que a maioria dos cidadãos não esteja interessada nela”, afirma no decurso de uma conversa tida quando veio promover “Como o ar que respiramos” a Portugal.
Ao longo de 15 capítulos, o professor catalão assina um manifesto de largo escopo, pedindo-nos para reavaliar a nossa relação com a cultura, palavra carregada de significado, frequentemente alvo de discussões e equívocos. No cerne da tese de Monegal está a dupla definição do vocábulo: cultura enquanto bens e objetos culturais — como música, cinema e literatura — e também cultura enquanto conjunto social de hábitos e características acumuladas ao longo dos tempos. Inclui não só vestuário, tatuagens e modos de relacionamento, como também “como imaginamos o futuro, como percecionamos o nosso passado, o que desejamos, qual é a nossa construção do que foi a nossa nação.” No fundo, a cultura como uma “caixa de ferramentas” com a qual interpretamos o mundo.
Poder-se-á temer que, se tudo é cultural, nada é cultura por si só. Mas uma das militâncias do professor passa justamente pela luta contra o elitismo, do meio cultural numa torre de marfim, julgando os demais e queixando-se de estar à beira da extinção. “Ao dizer que a cultura é apenas este campo restrito, está a inferir-se que é marginal, é acessória, é secundária. Pertence à área do entretenimento, do lazer, entre outras coisas”, alerta. Pelo contrário, Monegal defende que cultura e educação são um só, ao qual se deve juntar o papel dos media.
No seu entender, um dos maiores problemas relacionados com a cultura nos dias que correm advém de formas de “racionalidade económica” que a secundarizam aos eventuais ganhos económicos que poderá trazer. Essa mentalidade, lamenta, já se estendeu à educação, cujo investimento começou a ser “centrado na formação das pessoas para o trabalho”. “Eu acho que isso é um enorme erro porque não sabemos que tipo de trabalho será necessário daqui a cinco ou dez anos, mas sabemos que as pessoas precisam de compreender um mundo muito complexo e difícil”, diz.
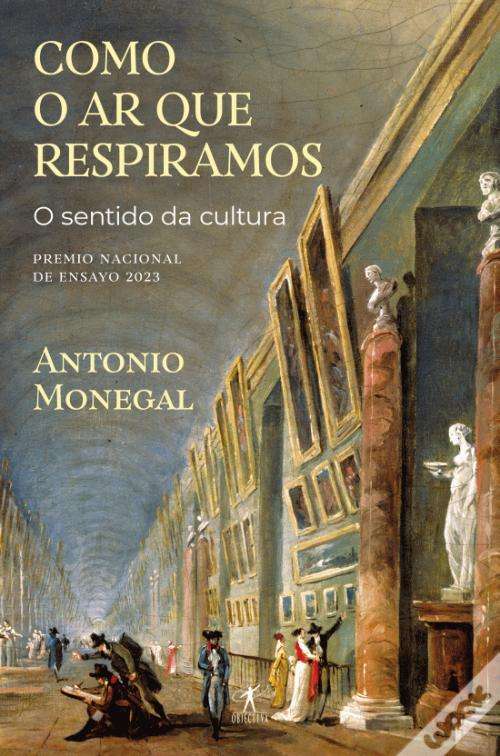
Como o ar que respiramos – O sentido da Cultura, Antonio Monegal, editora Objetiva
Se à direita, rejeita as formas de conservadorismo baseada em medos que “estão a desencadear uma tentativa muito reacionária de carregar no travão e voltar atrás”, à esquerda Monegal alerta também para os cantos de sereia da informação e cultura livres de custos. “Tudo tem um preço na sociedade em que vivemos. Se esse preço deve ser pago pelo utilizador, pelo consumidor, ou se deve ser suportado publicamente, isso é uma questão diferente. Acredito firmemente que as coisas que não são auto-sustentáveis no mercado devem ser apoiadas publicamente, para proteger a diversidade do ecossistema. Mas isso não significa que tenham de ser gratuitas, ou que as pessoas que trabalham nessas áreas não possam receber um salário como se fossem engenheiros ou médicos. Merecem o mesmo tratamento. Se dizemos que a cultura é importante, temos de reconhecer que o é”.
O título deste livro reforça esta noção de que a cultura é como o ar, rodeia-nos em todos os aspetos da nossa vida. Então porque é que nós, coletivamente, tendemos a desvalorizá-la tanto?
Penso que o título sublinha dois aspetos da cultura. Um é o facto de estar em todo o lado, mas o outro é o facto de ser invisível. E precisamente por ser invisível, as pessoas desvalorizam-na porque não relacionam a ideia que têm sobre o que é cultura com o que, de facto, a cultura é. Há um equívoco sobre o que entendemos por cultura e tentar esclarecê-lo é a origem e base do livro, tentar explicar que não há espaço fora da cultura. Quando as pessoas dizem “não estou interessado em cultura, não me interessa”, querem dizer simplesmente “não me interessa uma definição restrita e elitista de cultura que não tem nada a ver comigo”. É muito raro que alguém não goste de algum tipo de música, por exemplo. Toda a gente tem algum tipo de música, algum tipo de entretenimento, algum tipo de atividade cultural de que gosta, mesmo que não a reconheça como cultura.
Teria de ser um eremita — mas mesmo os eremitas interagem com cultura.
Claro, porque, entre outras coisas, os eremitas costumam ser religiosos, e a religião é uma coisa muito cultural. Para mim, um dos aspetos mais perigosos da linguagem com a qual falamos de cultura é quando as pessoas dos sectores de produção cultural falam do “mundo da cultura”. “O mundo da cultura diz”, “o mundo da cultura preocupa-se com”, “o mundo da cultura isto e aquilo”. E com isso referem-se apenas a um grupo de pessoas que são agentes num determinado campo cultural. Mas isso é confuso, porque dá a entender que o resto dos cidadãos não pertence ao mundo da cultura. Na verdade, o mundo da cultura é o mundo, não existe um mundo fora da cultura.
Um conceito importante que aborda neste ensaio parece ser o de que a cultura funciona como uma “caixa de ferramentas” que ajuda a explicar o mundo que nos rodeia. Em que sentido?
Serve para dois tipos diferentes de coisas. Uma é ajudar-nos a compreender o mundo, a outra é dar-nos formas de agir nele. Como é que organizamos a nossa vida social? Qual é o nosso género? Qual é a nossa identidade nacional? Como é que nos relacionamos com pessoas que têm um repertório cultural diferente do nosso? Tudo isto requer uma “caixa de ferramentas”, são necessários instrumentos para compreender qual é a nossa posição no mundo em relação aos outros — e também qual é a nossa posição no mundo em relação ao ambiente, à natureza. Porque o que está a acontecer ao planeta só pode ser resolvido através de mudanças culturais. Precisamos de mudar as nossas formas de consumo, mudar a forma como definimos a felicidade. Quais são os objetivos das pessoas, o que é que elas consideram essencial nas suas vidas?
Refere-se ao quê, exatamente?
Por exemplo, se eu associar a minha felicidade ao facto de ter um carro que anda muito depressa e é muito luxuoso, isso tem consequências, não só para mim e para a economia, mas também para o ambiente e para a sociedade. E é uma questão cultural: nós “lemos” os carros, são símbolos culturais, por isso é que as pessoas investem tanto nessas coisas! (risos) Tomamos decisões constantemente com base em repertórios culturais, pressupostos culturais, simbolismos. Como imaginamos o futuro, como percecionamos o nosso passado, o que desejamos, qual é a nossa construção do que foi a nossa nação. Tudo isso é cultural. Portanto, nesse sentido, a caixa de ferramentas é algo sem o qual o ser humano não teria sobrevivido como espécie. Como animais, somos muito frágeis e muito fracos, por isso desenvolvemos estes instrumentos. Alguns deles são tecnológicos, mas os outros são simbólicos.
Eu iria mais longe e diria que, uma vez que somos animais reflexivos, a partir do momento em que temos linguagem, é impossível não ter cultura. Porque partilhar um lugar e uma vida comum é, de alguma forma, injetar-lhe cultura, certo?
Claro que sim. Por exemplo, olho para si e vejo que tem tatuagens, o que significa que tem mensagens inscritas no seu corpo. Portanto, há uma linguagem que está no seu corpo que tem significado, que comunica significado. Mas mesmo que não as tivesse, a forma como se veste, a forma como age, a forma como se relaciona, tudo isso faz parte de um código cultural. O que acontece é que, no passado, quando as sociedades eram mais homogéneas, as pessoas não se apercebiam que estavam imersas num código cultural. Estavam tão familiarizadas com o código que este lhes era invisível. Por exemplo, aprendemos que é suposto comermos com um garfo, uma faca e uma colher, porque é isso o que as pessoas fazem, certo? Mas, de repente, apercebemo-nos que nem toda a gente come assim. E no momento em que começamos a relacionar-nos com outras alternativas, constatamos: “oh, eles têm a sua cultura”. Mas, se assim é, depois temos de assumir que o que fazemos é igualmente cultural. No momento em que há diferentes repertórios culturais em competição, tornamo-nos mais conscientes de que todas estas coisas são cultura.
É importante notar que apresenta duas definições de cultura que se entrelaçam. Uma é a cultura enquanto objetos — como filmes, livros, música, etc. — e a outra é a cultura no seu sentido antropológico. Mas ao alargar a definição de cultura a estas vastas dimensões da nossa vida, não corremos o risco de a esvaziar de sentido? Porque, se de repente tudo é cultural, nada o é, certo?
Bem, é a mesma coisa que acontece com um conceito como o “humano”. Obviamente que estes conceitos abrangentes são complicados. E é por isso que é tão importante discuti-los e tentar ser um pouco mais preciso. Estou habituado a participar em muitos debates em que as pessoas dizem “temos de defender a cultura porque está a ser atacada por várias frentes, o modelo neoliberal vai contra ela, o utilitarismo também”. Mas de cada vez que fui a uma reunião em que se discutia isso, a primeira coisa que me disseram foi “não vamos perder tempo a tentar definir o que é a cultura, porque isso vai ocupar toda a reunião”. E eu pensei: “se não estamos de acordo sobre o que estamos a defender, como é que o vamos defender?” E o problema é que as pessoas que estão nesses sectores culturais, que trabalham com música, literatura, cinema, tudo isso, são muito relutantes em expandir a visão da cultura, porque consideram que isso é uma forma de desvalorizar o que fazem, que “se está em todo o lado, não quer dizer nada”. Bem, a realidade é que está em todo o lado, não se pode fingir que não está! Há uma ligação entre a literatura, o cinema, a banda desenhada, as coisas com que as crianças brincam, tudo. O violino nas mãos de uma criança é cultura exatamente como se estivesse nas mãos do violinista mais profissional de uma orquestra. Portanto, não podemos começar a fazer estas separações.
Nesse sentido, parece-me que esse medo de que, se abrirmos a nossa perspetiva, perdemos o valor do que temos, acaba por sair pela culatra, porque assim se está a insinuar que algumas pessoas têm apego à cultura e outras não. E depois temos todos estes livros escritos por nostálgicos, como Mario Vargas Llosa, que começam a dizer “tudo isto que se está a publicar não é literatura”. (risos) Alimentam a ideia de que “a literatura de que gosto é que é literatura. A arte de que gosto é que é arte. A cultura que eu gosto e respeito, isso é que é cultura. O que um outro tipo, que é um ignorante, gosta não é cultura”. Essa não é uma forma de envolver todos os cidadãos
De certa forma, é o reverso a atitude de alguém que vai ver a “Guernica” e diz “o meu filho podia fazer isto, é só atirar tinta a uma tela”.
É o outro lado disso, ao sugerir que a cultura só pertence a um grupo de pessoas que são altamente educadas, que receberam formação. Claro que faço parte dessa minoria. Tenho formação académica, dediquei a minha vida profissional a isto, mas também não exijo que o meu modo de vida e os meus interesses sejam partilhados por toda a gente. Espero, contudo, que toda a gente reconheça que qualquer que seja a sua posição no ecossistema cultural, é uma posição relevante. Há algo que está a dar sentido à sua vida, seja o que for, não faço juízos de valor. O título de uma entrevista que dei ao “La Vanguardia” aludia para a ideia de que, para as pessoas que gostam de Rosalía, ela desempenha o mesmo papel na sua vida que Wagner para os seus fãs. E, para mim, isso é muito simples: pode-se gostar de Wagner e de Rosalía. Eu, de facto, gosto mais de Rosalía! (risos) Portanto, não tenho problemas com isso. Mas a verdade é que é muito contraproducente ter uma visão restritiva da cultura quando precisamos de defender que se trata de um bem comum, que pertence a todos. No momento em que dizemos que pertence apenas a alguns iluminados, faz todo o sentido que a maioria dos cidadãos não esteja interessada nela. Assim, se o governo decidir cortar o orçamento para a cultura para metade, ninguém se vai queixar porque pensa que não tem nada a ver com isso — quando, na verdade, é o contrário.
Neste livro explora as tensões e as ligações entre a alta cultura e a cultura de massas. E, no que diz respeito ao papel dos meios de comunicação social, diz-se muitas vezes que existe um fosso entre a cultura promovida pelos media e o público, que se sente excluído. Como é que este divórcio pode ser resolvido?“Divórcio” é o termo perfeito. Normalmente, quando há um divórcio, é muito difícil resolvê-lo. Para evitá-lo, neste caso, é preciso educar. E esse é, para mim, o principal problema. As instituições responsáveis pela educação dos cidadãos — sejam elas o Estado, as escolas, as universidades —, estão a fazer um mau trabalho a explicar aos cidadãos o que é que precisam para poderem ter uma melhor “caixa de ferramentas”. E estão tão obcecados com a racionalidade económica que acham que o investimento na educação deve ser centrado na formação das pessoas para o trabalho. E eu acho que isso é um enorme erro porque não sabemos que tipo de trabalho será necessário daqui a cinco ou dez anos, mas sabemos que as pessoas precisam de compreender um mundo muito complexo e difícil. E as pessoas não devem ter medo da mudança. Atualmente, toda a política de direita é movida pelo medo, em particular o medo do outro: do imigrante, da perda de identidade, da diversidade dos papéis de género. Todos estes medos estão a desencadear uma tentativa muito reacionária de carregar no travão e voltar atrás. Mas não se pode voltar ao passado, a história humana não tem marcha-atrás. Portanto, nesse sentido, penso que o problema é que, no momento em que dizemos que a cultura é apenas certas coisas, divorciamos a cultura da educação. E as duas deviam ser a mesma coisa. Na verdade, devo acrescentar que penso que a cultura, a educação e os media deveriam ser a mesma coisa.
Em que sentido?
Hoje em dia, uma das ferramentas mais influentes para a educação são os meios de comunicação social — a televisão, a rádio, a Internet, as redes sociais e tudo o resto. Não é possível separar as coisas, não se pode fazer uma coisa na escola e depois não utilizar outras fontes de influência social disponíveis, porque é completamente esquizofrénico. As crianças aprendem uma coisa na escola, mas quando saem, apercebem-se de que o mundo não é o mesmo e obtêm as suas fontes de informação através de canais não regulamentados. Estamos, portanto, numa situação muito difícil. Estou a tentar responder à pergunta que fez, sendo que, neste momento, já só podemos lidar com esta situação a longo prazo. Não há uma solução imediata — a única medida rápida passa pela consciencialização dos nossos políticos. Este livro tenta ser um contributo para este debate, mas não tenho esperança que seja a solução milagrosa. A verdade é que temos de trabalhar nisto lentamente; infelizmente, a solução só pode surgir de forma gradual, mas as ameaças estão a acontecer muito rápido, há duas velocidades.
É interessante que tenha trazido esse exemplo de se ensinar uma coisa na escola e depois ir para casa e ser sujeito a uma realidade diferente. Nos últimos anos, têm surgido alertas em Portugal porque há crianças pré-adolescentes que começam a adotar vocabulário e expressões idiomáticas do português do Brasil. O que lhes é ensinado na escola é o português europeu, mas o que consomem em casa através das redes sociais, dos vídeos do YouTube, é em português brasileiro. O que eu acho interessante — e gostaria de saber a sua opinião sobre este assunto — é a forma como isto é encarado. O que é pior: o fenómeno em si ou o facto de ser entendido como um problema?
Há muito que os franceses lutam contra a introdução de expressões idiomáticas do inglês e não têm sido muito bem sucedidos (risos). A dinâmica social funciona de uma forma muito simples, é a mesma coisa quando um antropólogo de um país ocidental vai para a selva e fala com uma criança. Juntam-se dois repertórios culturais e aquele que tem uma variedade mais poderosa de opções vai sempre ameaçar e minar o repertório cultural mais pequeno. E isso é normal. É como quando os turistas vêm aqui ou a Espanha e dizem “oh, era tão bonito quando as pessoas no campo andavam de burro e de carruagem. Isso era tão exótico. É pena que isso se tenha perdido”. E, claro, as pessoas do campo dizem “mas eu não quero andar de burro se posso ter um carro!”. No momento em que o repertório mais poderoso entra, produz esse hibridismo, contamina. Quando eu era criança em Espanha, não se podia comer pizza. Não havia, não se podia ir a lado nenhum comprar uma. Não havia sushi. Vamos preocupar-nos porque agora podemos comer sushi, pizza e pasta? É simplesmente a realidade da abertura — e continuamos a ter as outras opções.

As línguas funcionam exatamente da mesma forma. As pessoas, sobretudo os jovens, adotam expressões idiomáticas precisamente porque não são as do grupo dominante! E todas as gerações fazem isso. Algumas delas serão integradas, outras perder-se-ão a dada altura. O espanhol em Espanha tem o mesmo problema. Há pessoas em Espanha que estão perturbadas com a perda de pureza da língua. Claro que, em Espanha, temos a complicação adicional de que a língua já está contaminada dentro do país, porque o espanhol que falamos em Barcelona não é o mesmo falado em Sevilha ou em Madrid. Cada um de nós tem a sua própria contaminação. Mas a força cultural de todos os outros países de língua espanhola não pode ser ignorada. Fazê-lo seria o pior tipo de imperialismo possível. Hoje em dia, Espanha e Portugal estão numa situação muito semelhante, a população que fala a língua original…
…é muito mais pequena que noutros países.
Exatamente. Por isso, não me surpreende que algo assim tenha acontecido. E suspeito que a única coisa que podemos fazer é aceitá-lo e assumir que o português falado agora em Portugal e o espanhol falado agora em Espanha também não são os mesmos que se falavam no século XVI. Portanto, mudaram e vão continuar a mudar!
Voltando um pouco atrás, para quando estava a falar de formas de olhar para a cultura. O mesmo cidadão que pense que investir na cultura é um desperdício de dinheiro pode ser o mesmo que se opõe à remoção de uma estátua ou de outro monumento, o que parece contraditório porque são ambos assuntos culturalmente relevantes. Qual é a causa deste desfasamento?
A questão é que as pessoas não veem as coisas que as representam e a sua visão da cultura como uma intervenção cultural. É a mesma coisa que se passa com todas estas discussões sobre o género. De repente, as pessoas ficam incomodadas se a família do lado é constituída por duas pessoas do mesmo sexo com filhos. Qual é o problema para elas? Veem isso como uma ameaça porque consideram que existe apenas um modelo do que é uma família, apesar disso ser uma coisa historicamente relativa, porque há culturas em que a composição da família não é assim, e são mais antigas! Portanto, voltamos a esta ideia de que não conseguimos reconhecer o nosso modelo como cultural. Para mim, todo este debate é muito simples: o sexo é biológico, o género é cultural. Podem chamar-lhe o que quiserem, mas o género é uma construção cultural. Por isso, como é culturalmente construído, vai mudar com o tempo. E as pessoas que querem a preservação da estátua são as mesmas que querem a preservação de um modelo de género que é o tradicional, baseado numa polaridade de dois sexos. Tudo isto está interligado. Pelo contrário, se, de repente, outras pessoas quiserem criar uma outra estátua que estas não compreendem porque não é uma estátua tradicional, vão encarar isso como uma ameaça, da mesma forma que encaram como uma ameaça um modelo diferente de família ou um tipo diferente de arte.
Esse é um tema quente hoje em dia. As pessoas envolvem-se em guerras culturais, como se diz, e podem não interagir com a cultura na definição restritiva que mencionou, mas estão a envolver-se com a cultura no sentido mais lato.
Mas envolvem-se mesmo no primeiro sentido que mencionou. Insisto sempre que a demonstração perfeita de que a cultura é politicamente relevante é o facto de, quando a extrema-direita chega ao poder, as suas primeiras intervenções são no campo cultural. Em Espanha, não os temos no governo central, mas estão no governo de várias regiões. O que é que têm feito? Atacam as políticas de memória. Apagam a possibilidade de desenterrar as valas comuns do franquismo. Atacam as políticas de género, atacam a imigração — porque a imigração é um problema cultural, não é simplesmente uma questão racial. Encerram imediatamente exposições, afastam diretores de museus ou de teatros públicos, o que significa que sabem que esses são espaços muito ideológicos, onde precisam imediatamente de agir porque esses são lugares onde se constrói uma conceção pública do que deve ser uma sociedade.
Por outro lado, uma das maiores ameaças ao que entendemos por cultura é, como referiu no início da nossa conversa, esta lógica utilitarista que lhe é imposta como uma espécie de colete de forças. Diz que, em vez de perguntarmos para que serve a cultura, devemos tentar compreender os seus efeitos. Qual é a importância desta distinção?
Ora bem, é muito difícil argumentar pelo valor da cultura separando-o da utilidade da cultura. A ideia é precisamente que a cultura é valiosa não porque é útil para algumas coisas específicas, mas porque é útil para tudo. Sem ela, nada pode acontecer. O utilitarismo não é simplesmente uma defesa dos usos, é uma defesa de apenas alguns usos benéficos práticos, imediatos e sobretudo económicos. Pelo contrário, a ideia que defendo é que a cultura faz coisas — mesmo que não as planeemos fazer, mesmo que não esperemos que as faça —, porque somos todos construídos pelo nosso ambiente cultural, pelos nossos legados, pelas nossas tradições, pelas nossas narrativas. Por isso, se olharmos para os efeitos, podemos ver o que a cultura faz. E o que faz pode ser útil ou não, dependendo do que entendemos por útil. Porque se entendermos por útil esta ideia de que a cultura tornar-nos-á melhores pessoas, bem, isso não acontece necessariamente. A cultura tem um efeito que pode ser muito negativo. Como estava a dizer, as pessoas que defendem as estátuas antigas, o legado imperial, um tipo específico de nacionalismo — isso também é cultura. Portanto, tem um efeito! Consideramos isso útil? Bem, algumas pessoas considerá-lo-ão precisamente o contrário. Veja-se o que está a acontecer neste momento na Ucrânia e em Gaza, são dois conflitos de base cultural. Num dos casos, há uma colisão entre duas conceções de nação. Os russos pensam que a Ucrânia não é uma nação e não merece ter uma existência independente. Os ucranianos respondem “somos uma nação e lutamos pela nossa nacionalidade”. A nação é, portanto, um conceito cultural.
E a Rússia invade porque sente que a Ucrânia é uma cultura inferior que deve ser absorvida.
Precisamente. E, para atacar, invocam o legado da memória da Segunda Guerra Mundial e dizem aos russos “vamos lá para lutar contra os nazis”, o que é como carregar num botão ao qual todos os russos vão reagir. Na Palestina, temos um conflito cultural distinto. Dois povos que têm memórias coletivas diferentes e carregam os seus próprios traumas nessas memórias. Têm religiões e identidades diferentes, que entram em conflito. E se há um grupo de pessoas que diz “temos direito a esta terra porque ela nos foi dada por Deus”, para mim, isso é cultura! (risos) Não há provas científicas de que isso seja um facto, é uma crença cultural. Portanto, os conflitos são muito definidos culturalmente. O livro que publiquei depois deste e que saiu há um mês é sobre guerras, a ideia da guerra como cultura. E embora tenha sido escrito antes deste, saiu depois. E é bom que tenha sido assim, porque é mais fácil perceber porque é que estou a defender que a guerra é cultura, não poderia acontecer sem um fundo cultural.
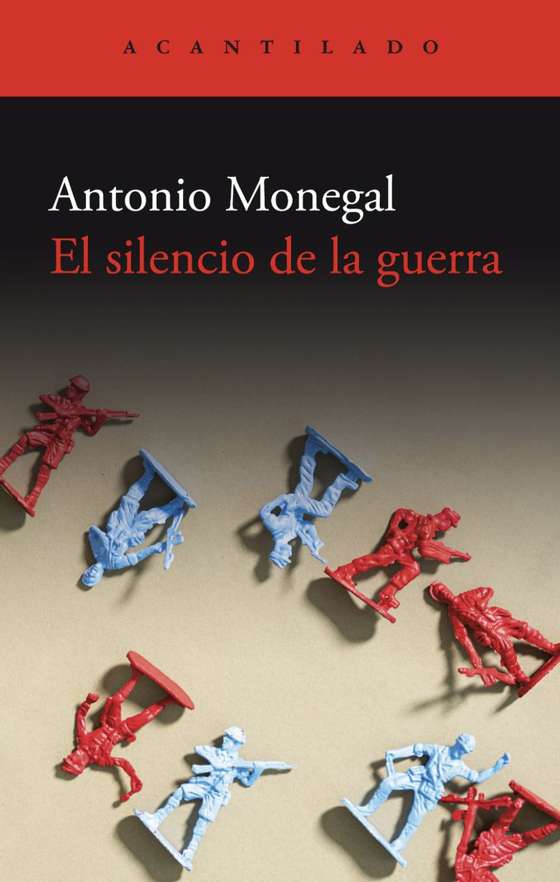
“El Silencio de la Guerra”, o mais recente livro de Antonio Monegal, aqui na edição original em castelhano
Ou seja, com este livro, providenciou o enquadramento para explicar o que saiu depois?
Sim, porque as pessoas dizem “não, a cultura é o oposto da guerra. É a cultura que nos vai salvar da guerra. Graças à cultura, as guerras não devem acontecer”. Eu digo que não, a cultura pode evitar a guerra ou pode produzi-la. Se a tal caixa de ferramentas da nossa sociedade não tivesse uma ferramenta que dissesse “perante um conflito, recorre à guerra”, as guerras não aconteceriam. É simplesmente porque carregamos essa ferramenta, e isso acontece porque há uma memória cultural que remonta às origens da espécie, que sempre se envolveu em conflitos violentos para resolver diferenças. Portanto, é evidente que tem um efeito. Será útil? Bem, depende se considerarmos que a guerra é boa para algumas coisas.
A propósito da guerra, o livro explora o papel da cultura como promotora da tolerância e do cosmopolitismo, mas também como criadora de separatismo e de barreiras entre os povos. A ideia de um Estado-nação é, em si mesma, cultural. Por isso, a cultura é capaz de fazer emergir o melhor e o pior dos seres humanos?
Penso que a dificuldade é quanto a esta coisa a que chamamos identidades, que usamos para nos organizarmos em sociedade. Podem ser usadas como uma forma de exclusão ou simplesmente são meios para ter uma posição numa rede de seres. Temos identidades diferentes consoante as definições que usamos e como se posicionam em relação aos outros. Se virmos a construção cultural da identidade — seja ela nacional, de género, étnica ou outra —, como uma forma de separação em relação ao outro, então temos um problema de conflito. Mas se virmos que as identidades são sempre relacionais — que não pertencemos a uma identidade porque pertencemos a outra — podemos negociar a diferença. E no momento em que isso acontece, temos de enfrentar a possibilidade de o outro ter um ponto de vista ou um repertório diferente, e temos de descobrir como coexistir com essa diferença. Visto que as sociedades atuais são muito mais complexas, é mais necessário do que nunca compreender a alteridade. E ver documentários, ler livros de pessoas que explicam a sua experiência, apreciar a arte que produzem, aprender as suas tradições e costumes, comer a sua comida, tudo isto são formas de aprender a coexistir em sociedades muito mais complexas. As sociedades costumavam ser muito homogéneas e muito hierárquicas, porque havia uma dominante homogénea e depois havia outras sociedades que eram consideradas subalternas, oprimidas por uma potência colonial europeia. Por isso, eram os oprimidos que tinham de aprender os costumes do opressor.
Da maneira como fala, parece “trickle-down economics”, mas aplicado à cultura.
Exatamente! (risos) E o opressor não precisava de aprender junto do oprimido. Isso mudou. Agora somos todos vizinhos, trabalhamos juntos, andamos juntos na escola. Por isso, nesta altura, temos de ver que não há um repertório que seja mais valioso do que o outro. Claro que podemos opor-nos ideológica e moralmente a aspetos do repertório de outro grupo que sejam maus e negativos para a igualdade de género e para outras questões como essa. Mas temos de compreender isso, tentar encontrar uma forma de viver e comunicar com isso.
O contacto com outras culturas pode despertar esse amor pela diversidade, por aspetos culturais com os quais não crescemos. Mas também levanta dúvidas e sente-se um pouco desconfortável ao longo do livro com esta ideia de que a cultura pode ser prescrita como uma panaceia para nos tornar melhores cidadãos, melhores pessoas. Porque é que isso acontece?
Essa é uma questão que se coloca frequentemente. Será que as humanidades humanizam? Bem… Não necessariamente, não. Não há provas de que isso aconteça. É verdade, e eu acredito nisso piamente, que não há relação entre desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral. Uma pessoa pode não ter ética nem moral e ter grande desenvolvimento intelectual. Isso é muito claro. Mas, ao mesmo tempo, é verdade que, se estamos a falar em complexidade, o conhecimento pode ajudar-nos a lidar com ela. Assim, quanto mais sofisticadas forem as nossas ferramentas, mais úteis serão para enfrentar os desafios de uma sociedade complexa. Nesse sentido, para mim, uma das grandes questões é que o conhecimento pode não tornar-nos melhores pessoas, mas provavelmente torna-nos mais livres. Penso que hoje em dia, para ser um cidadão livre, é muito importante adquirir critérios autónomos e independentes. Porque, caso contrário, ficamos sujeitos a toda esta manipulação e desinformação.
E assim dá-se razão aos temores que Pier Paolo Pasolini tinha quanto à cultura de massas e que menciona no livro.
Sim, essa preocupação de que a cultura de massas é uma forma de fascismo. Pasolini viveu numa época em que o conceito de sociedade de consumo ainda era algo que se podia questionar. Agora, a sociedade de consumo é o sistema. É aqui que estamos. Por isso, mesmo que se seja uma pessoa culta, que lê muito, que se interessa, também se é um consumidor. Nós “consumimos” livros. Há um mercado para isso, é uma atividade empresarial. Portanto, não é possível separar o campo cultural do capitalismo. Nesse sentido, temos de aceitar a realidade em que nos encontramos. Mas a consciencialização desta realidade é muito importante. Estamos todos tão preocupados com a desinformação, mas digo sempre, “bem, quem são as pessoas que acreditam nessas coisas?” São as pessoas que não sabem mais nada. O que se passa é que é muito difícil ser enganado se estivermos bem treinados para distinguir entre o engano e o facto. Porque tentamos aprender sobre ciência, sobre história, tentamos estar informados, temos contacto com meios de comunicação social credíveis. Portanto, não é inevitável que toda a gente viva num mundo de mentiras. Isso é muito fácil de sustentar com base na falta de formação dos cidadãos para distinguir entre factos e mentiras. Nesse sentido, penso que, mesmo que não nos torne necessariamente melhores, [a cultura] provavelmente tornar-nos-á mais conscientes.
Acaba por dar-nos uma “caixa de ferramentas” maior.
E precisamos de caixas de ferramentas muito grandes e complexas, mas essas não estão na moda.
Aborda uma questão importante que é este binómio entre a ideia de que a cultura não deve ser concebida para o lucro, mas também não pode viver à margem do mercado e dos sistemas económicos. Portanto, esta contradição persiste até aos dias de hoje e poder-se-ia pensar que é irresolúvel. Mas será que é algo que precisa de ser resolvido? Ou será que temos de a perceber de outra forma?
Tem de ser corrigido de alguma forma, porque estamos numa economia que tem produção cultural. Temos estado a falar da cultura como ferramentas, mas o outro aspeto essencial é a cultura como bens. Os bens culturais são a essência de uma grande parte da nossa economia. Todas as maiores empresas — Google, Apple, Facebook —, todas estas pessoas lidam com cultura. Estão a vender cultura. Muitas vezes não a produzem, mas algumas sim. A Disney, por exemplo. Se gostamos deles ou não, não importa, são produtos culturais, estão no negócio. Penso que temos de estar conscientes de que existe um mercado grande e poderoso que está a impulsionar a produção cultural. Nesse domínio, só as coisas que são lucrativas têm valor. Trata-se, portanto, de uma lei muito específica para o mercado. O novo modelo neoliberal só está interessado na cultura que se encaixa nesse campo.
É aquele tipo de cultura tida como desejável porque é autossustentável, paga-se a si própria.
Mas depois alguns sectores da esquerda têm opiniões muito perigosas para a cultura, porque consideram que esta deve ser livre. “Livre acesso a tudo”. Acho que isso é muito perigoso, porque se as pessoas não estão dispostas a pagar, não vão pagar por fotografias, pelos direitos das fotografias que estão a ser produzidas, por conteúdos, por boa informação. Se as pessoas não estão dispostas a apoiar e a dar uma vida profissional razoavelmente digna às pessoas que dedicam as suas vidas a todas estas formas de produção, elas encolhem esse campo alternativo, o que também faz com que esta parte do ecossistema cultural não seja percepcionada como valiosa, porque o mercado só identifica valor naquilo que produz dinheiro. Portanto, se não dá lucro, é irrelevante. Pode ser descartado porque não é rentável. Por isso, há um ataque muito perigoso da perspetiva de que a cultura deve ser aberta e livre. Porque, claro, o inglês usa a mesma palavra — “free” — para conceitos que em espanhol e português têm termos diferentes. Uma coisa é “livre” e a outra coisa é “grátis” — eu acho que a cultura deve ser livre, mas não grátis.
Tudo tem um preço na sociedade em que vivemos. Se esse preço deve ser pago pelo utilizador, pelo consumidor, ou se deve ser suportado publicamente, isso é uma questão diferente. Acredito firmemente que as coisas que não são auto-sustentáveis no mercado devem ser apoiadas publicamente, para proteger a diversidade do ecossistema. Mas isso não significa que tenham de ser gratuitas, ou que as pessoas que trabalham nessas áreas não possam receber um salário como se fossem engenheiros ou médicos. Merecem o mesmo tratamento. Se dizemos que a cultura é importante, temos de reconhecer que o é. Por isso, penso que existe uma ameaça muito séria e perigosa contra o domínio cultural que vem de uma visão supostamente progressista. Um horizonte imaginário ideal em que a comunicação digital, a cultura digital, permitiria que tudo fosse aberto, que circulasse livremente, mas apercebemo-nos de que isso tem um custo. E estamos num momento em que isto tem de ser resolvido, porque precisamos mais do que nunca de informação séria, de profissionais bem formados, de pessoas com visão crítica, mas estamos num momento em que as pessoas que ocupam esses papéis na sociedade são desvalorizadas, maltratadas, mal pagas. O mesmo acontece com os professores. Não há nada mais importante na sociedade do que um professor, eles estão a formar os nossos filhos para o futuro. E recebem menos do que pessoas que limpam casas.
E isso vai ao encontro do que estava a dizer há pouco, que os professores e os profissionais da cultura são um e o mesmo em diferentes fases das nossas vidas.
Sim, e penso que uma sociedade que desrespeita este tipo de profissões está condenada. É algo de que temos vindo a falar: quais são as ameaças da inteligência artificial? Bem, a primeira coisa, para mim muito perigosa, é o facto de as pessoas que trabalham em inteligência artificial, que a concebem, não terem formação quanto a questões humanísticas. Estão preocupadas com os aspetos tecnológicos da máquina, mas se é uma máquina que existe e que se vai tornar igual a nós, precisamos que as pessoas que concebem essa máquina estejam conscientes dos problemas do ser humano. E isso significa saber algo sobre humanismo. A divisão tecnológica entre tecnologia e humanismo é muito perigosa, tanto para os humanistas como para a tecnologia. E resume-se a isto: quem é que recebe mais? Para mim, uma grande preocupação atualmente são as famílias que têm filhos inteligentes, que querem que eles estudem coisas onde vão ganhar muito dinheiro. Caso contrário, é visto como um mau investimento na educação.
Vão para CTEMs [ciência, tecnologia, engenharia e matemática], essencialmente.
Isso mesmo. Portanto, é uma coisa muito tendenciosa. Porque, obviamente, precisamos de pensadores, precisamos de pessoas que sejam capazes de pensar, não apenas de fazer. Mas se os mais brilhantes se dedicam todos a fazer, quem é que vai pensar? Os idiotas? É um momento muito difícil nesse sentido. Este livro não é sobre a crise das humanidades, mas a desvalorização dessas áreas surge numa altura em que são muito necessárias.
Mencionou-o brevemente quando estávamos a falar de elitismo, mas um dos pontos mais fortes que defende no livro é que os próprios apoiantes da cultura tendem a desvalorizá-la na sua defesa. Como é que isso acontece?
No momento em que se separa a cultura da educação, e só a saúde e a educação passam a ser vistas como fundamentais para o Estado social. É evidente que é preciso protegê-las, porque são essenciais. Mas se a cultura estiver separada desses pilares centrais, então é descartável. Ao dizer que a cultura é apenas este campo restrito, está a inferir-se que é marginal, é acessória, é secundária. Pertence à área do entretenimento, do lazer, entre outras coisas. Se perceberem que a cultura e a educação são inseparáveis, então poderão argumentar que o Estado social se baseia tanto na cultura como na educação e na saúde. Portanto, ao argumentarmos que estamos a defender apenas um determinado tipo de cultura, acabamos por não defender nada, porque isso é visto como algo desnecessário.
E fala também desta tendência quase patológica que os agentes culturais têm em permanecer na defensiva, como se precisassem de justificar a sua existência perante o Estado, os acionistas e outras entidades poderosas. E fazem-no utilizando os argumentos errados. Penso que uma das frases mais inspiradas do seu livro é quando escreve que “as pessoas não tocam violino ou ouvem violino para gerar riqueza ou para gerar coesão social”. Fazem-no por prazer.
Julgo que é muito importante ver que se trata de uma armadilha. As pessoas estão a defender a cultura com base nos benefícios acessórios e não no essencial. Aceitam essas regras, e eu defendo no livro que isto começou com o Thatcherismo e o modelo neoliberal, a teoria da suspeita de que o dinheiro público dedicado à cultura era um desperdício, de que não nos podíamos dar a esse luxo. E depois começa-se a quantificar o número de pessoas que visita uma exposição, quantas pessoas vão ver uma peça de teatro, etc… Tentar encontrar este tipo de justificação é muito perigoso, porque nenhum destes agentes terá a coragem de dizer em sua defesa que a cultura é o que dá sentido à vida das pessoas. É aí que se encontra o sentido da vida, é essa a razão. E não o dizem porque isso é visto como algo idealista, arrogante, pedante ou excessivo, mas é verdade. A verdade é que a cultura é o que dá sentido à experiência humana. Sem isso, não somos nada, somos pilhas de carne. Precisamos dela para ter dá horizontes de possibilidade ao futuro, é o que constrói a memória coletiva das nossas identidades enquanto sociedades.
Portanto, essencialmente, é preciso mudar todo o vocabulário quando se aborda cultura, tanto a um nível geral, mas mais especificamente em relação à esfera política?
Sobretudo porque o problema é que se está a defender a cultura com a linguagem do “inimigo”. Está a usar-se os critérios que lhe são impostos pelas pessoas que desconfiam da cultura. Tive uma entrevista com a diretora da secção cultural de um importante jornal espanhol quando este livro foi publicado. E a primeira pergunta que ela me fez foi, “Bem, não acha que o problema da cultura é que é demasiado elitista?” Pensei logo: “Esta mulher é a diretora da secção cultural de um jornal e acha que o problema da cultura é ser demasiado elitista!” Então, é óbvio que estamos em sarilhos! (risos) A luta é muito complicada porque, no momento em que se aceita este critério de valor, está-se a perder a batalha.
Mas, fazendo um pouco o contraditório, ao mesmo tempo, o senhor já esteve no que poderia ser considerado uma posição política ou adjacente a uma posição política. E, em tempos de crise, as pessoas comem pão, não canções ou livros. Se bem que isso não é viver, é sobreviver, certo?
Compreendo que o Estado tenha preocupações financeiras e tudo mais. Mas a realidade é que, quando se reduzem os orçamentos para a cultura, poupa-se muito pouco dinheiro. O montante que os países dão para apoiar a sua indústria automóvel, por exemplo, é muito superior ao que dão para apoiar a cultura. Portanto, o problema não é saber quanto dinheiro se pode cortar; o problema é saber porquê cortar aqui ou ali. Quais são os critérios utilizados para determinar o que é valioso? Estamos em países europeus que são, de facto, significativamente ricos. Muitos países não se podem dar ao luxo de apoiar as suas indústrias culturais da forma como se faz na Europa. Não é esse o problema, e reconheço que tudo tem de ter uma proporção. O problema é: qual é a vossa visão do que a cultura faz? Porque é que acham que é valiosa? Não é tanto se se investe 10, 100 ou 1.000; é reconhecer que, se há a decisão de dar 100 quando é preciso investir 1000, é preciso haver uma justificação, é preciso perceber porque é que isso é visto como não sendo importante para a saúde da sociedade. É que o bem-estar da sociedade depende disso, porque o custo a longo prazo do empobrecimento do seu sistema cultural tem um grande efeito económico, porque afeta muitas indústrias. Tem um efeito devastador no número de pessoas que se dedicam a isso, que são normalmente pessoas muito vocacionadas, e deixamo-las sem emprego. Vai ser mais caro pagar o seu desemprego do que os valores que ganham a dançar ou a tocar numa orquestra. É uma abordagem ridícula para poupar dinheiro, porque se vai cortar numa área que tem pouco efeito na despesa, mas que tem um efeito muito grande na vida das pessoas.
Cita George Steiner quando este escreve sobre o fracasso da “razão de ser” da cultura se esta não tiver um horizonte utópico. No entanto, os futuros que imaginamos atualmente têm mais a ver com a transformação tecnológica do que com a transformação social. Podemos falar de crise?
Sim. Penso que o problema atual é a dificuldade em imaginar utopias, e é uma crise grave. Eu diria que é uma epidemia de saúde pública mental, particularmente entre os jovens. Os jovens não têm fé num futuro melhor e isso está a gerar desespero. É terrível que possamos imaginar carros que se conduzem sozinhos, que viveremos mais tempo, que a inteligência artificial fará isto e aquilo, e não sejamos capazes de imaginar uma sociedade mais justa e igualitária. E isto é realmente aflitivo. Estamos a discutir todas estas coisas enquanto o nosso planeta está a ser destruído a esta velocidade e há uma grande parte da população que não acredita que isto esteja a acontecer e, por isso, não está disposta a fazer nada para o mudar. Estamos perante uma crise que tem a ver com uma desconfiança em relação ao conhecimento e à ciência. As pessoas não acreditam na informação científica sobre o que está a acontecer ao planeta e, ao mesmo tempo, estamos numa sociedade em que a utopia é difícil de imaginar. As pessoas não veem como é que vamos viver num mundo melhor.

















