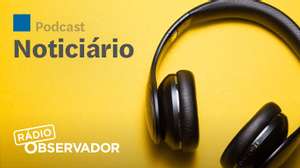A premissa desta nova biografia de Camões tem por certo que não é possível fazer uma leitura e uma interpretação corretas da obra do poeta sem atender à época em que o mesmo viver e em que o trabalho foi escrito. Carlos Maria Bobone, o autor do livro (e colaborador habitual do Observador) procurou fazer da afirmação uma regra para esta nova anatomia da vida e da obra (tal como diz o título do livro) daquele que — defende o autor — definiu a “gramática literária e histórica de Portugal”.
Assim, a biografia que é publicada no dia 10 de junho (feriado que é também lhe é dedicado) quer deburaçar-se sobre a origem de Camões no que toca à genealogia e aos apelidos, às cidades, vilas e casas que ocupou, mas mantendo claro que “é tão importante esclarecer o que não se sabe como aquilo que se sabe” — o que no caso de Camões pode dar origem (e tem dado) a erros, confusões e más interpretações.
Ao mesmo tempo, Bobone faz do livro um ensaio literário, uma análise ao conteúdo e ao formato da Lírica de Camões, uma reflexão sobre a estrutura e a narrativa de “Os Lusíadas” e um olhar crítico sobre as influências e os legados daquele que é um dos grandes responsáveis pela língua portuguesa que hoje falamos e escrevemos. O excerto que aqui publicamos procura reunir as várias faces deste ensaio biográfico.

▲ A capa de "Camões, Vida e Obra", de Carlos Maria Bobone, publicado pela D. Quixote
Falamos o português de Camões
Sabemos que Camões conhecia os escritos de alguns dos homens que animaram o renascimento português. É André de Resende dos primeiros, se não mesmo o primeiro, a usar o vocábulo “Lusíadas”, e também ele identificará o deus romano Luso com os Lusitanos, ideia que Camões aproveitará no épico.
Será, também, este ambiente intelectual que moldará os interesses e o modo de pensar de Camões. O conhecimento mitográfico de Camões é evidente, o platonismo flagrante no soneto “Transforma-se o amador na cousa amada” ou em “Sôbolos rios”, o estilo de Camões tem uma óbvia influência do latim erudito e tudo isso só é possível num ambiente intelectual como o de Quinhentos, e num país como Portugal, em que o próprio humanismo funcionou como um modelo de afirmação quer do país, quer da Cristandade. A ideia do “épico nacional”, da grande cruzada pelo Oriente, não traduz assim um conflito entre uma influência renascentista e uma influência contrária; faz parte do próprio modelo do renascimento português a afirmação de Portugal e do espírito de cruzada.
O enorme esforço de latinização, começado pelos humanistas portugueses, atinge com Camões um inesperado zénite. É duvidoso que houvesse, da parte dos pedagogos de Quinhentos, uma vontade consciente de alterar a língua portuguesa; mas a verdade é que a omnipresença do latim e o culto das línguas clássicas contaminou a própria língua vulgar, de um modo que ainda hoje se faz notar.
Basta ler algumas passagens de Fernão Lopes seguidas de outras de Camões para perceber que o português de Camões está muito mais próximo do nosso do que o de Fernão Lopes. Camões estruturou a língua portuguesa a partir do latim, e fê-lo com tal destreza que é hoje difícil perceber até que ponto é revolucionária a sua linguagem, precisamente porque falamos o português de Camões. A noção da magnitude do feito de Camões, de que ele conseguiu arrastar uma língua, só se ganha com a comparação com outros textos da mesma época. Pouco antes de Camões nascer surgiu o Cancioneiro de Resende, que é com certeza o mais exemplar catálogo da literatura de fins de Quatrocentos e princípio de Quinhentos. Se pegarmos ao acaso nalgumas trovas aí presentes, vemos bem a distância que existe entre a linguagem destes poetas e a de Camões. Vejamos este exemplo de Diogo de Melo:
“As cousas que dá ventura,
Ela mesma as desfaz
Serem de tam pouca dura,
Que nenhuma nam segura
Gram contentamento traz”
Ou este de Francisco de Sousa:
“Meus males vão se acabando
Por muito claros sinais,
Quanto mais ando atalhando
Pera me matarem mais,
Atalhos andam buscando.
Sem porquê e sem razão
Se levantam contra mim,
Cegos desta opinião
Quem me dar tão triste fim
Está sua salvação.”
A errância gramatical, a dúbia concordância dos verbos, as orações subordinadas sem um claro subordinante, tudo isso nos é, hoje, estranho. Não quer isto dizer que não houvesse regra – Joseph Huber, na sua Gramática do Português Antigo, já mostrou que havia –, quer apenas dizer que o século xvi assistiu a um processo de reformulação da língua, que a transformou no português moderno, e que se há outras figuras importantes nesta mudança – com João de Barros à cabeça – Camões é, sem dúvida, a mais significativa.
Carlos Eugénio Corrêa da Silva, num dos mais importantes estudos que se publicaram até hoje sobre Camões, mostrou até que ponto o poeta alterou o âmago da língua. Camões engordou o vocabulário, dotou-o de uma enorme elasticidade ao aproveitar as terminações eruditas dos substantivos e adjectivos, que deram maior variedade à língua e permitiram, até, alargar as possibilidades poéticas. Seria impossível, com uma gama limitada de terminações substantivas e adjectivas, criar um poema em rima da dimensão d’Os Lusíadas: a monotonia fonética acabaria com a leitura. Corrêa da Silva dá-nos alguns exemplos disto mesmo. O verbo “abundar”, por exemplo, seria substantivado, na forma popular, como “avondança” e mesmo o verbo apareceria em Fernão Lopes ou Gil Vicente como “avondar”. Camões restaura a forma “pura” – abundar e abundância – mas também usa formas mescladas – abondança e abundança. Usa superlativos eruditos, como aspérrimo, humílimo ou belacíssimo, mas não deixa cair as formas populares de outras palavras, como “contrairo”, “imigo”, ou “fruito”.
O alargamento da língua, contudo, não se dá apenas com o aumento do vocabulário. O mais significativo é o robustecimento sintáctico da língua. É aqui que transparecem as ligações entre o latim e o português de Camões. Corrêa da Silva estuda uma série de subtilezas que dão à língua grande variedade. O facto de, a partir do latim, Camões fazer concordar, em dois substantivos ligados pela preposição “de”, o adjectivo de um com o outro substantivo – “Pilouros, espingardas de aço puras”; o reaparecimento do particípio futuro activo (“A Deos pedi que removesse os duros/ Casos, que Adamastor contou futuros”); a ligação de orações por “qual… tal”, ao invés da construção popular, que tende a repetir a preposição (tal pai, tal filho), entre muitos outros casos.
Todos estes exemplos, e muitos outros, permitem perceber que só este cruzamento profundo entre uma língua popular e uma língua erudita, que só seria possível depois do esforço de latinização encetado pelas primeiras gerações de humanistas, possibilita a realização do épico. Ninguém conseguiria prender um leitor por dez cantos, em oito mil oitocentos e dezasseis versos, com a rígida estrutura dos decassilábicos heróicos, sem uma gramática complexa, que permitisse variações rítmicas que cortassem a monotonia. Mais: o facto de não estar ainda cristalizada a gramática desta língua em conflito, de na verdade se estar a operar dentro de duas gramáticas – a latina e a portuguesa antiga – permite também uma inventividade que seria difícil noutros tempos.
Estas são, no entanto, características de natureza formal, que facilitam, do ponto de vista técnico, a execução do poema, mas que não entram no seu âmago. Ora, a questão da língua, parece-nos, é central sobretudo n’Os Lusíadas, mas também na lírica de Camões.
O poeta e “Os Lusíadas”
A discussão sobre o modo como a língua influencia o pensamento tem uma riquíssima história na tradição ocidental. Da ideia de que a precisão da linguagem nasce do uso, de que os costumes de cada sociedade têm capacidade para criar uma linguagem mais adequada àquilo que vivem – de onde resultaria terem os povos do deserto uma grande variedade de palavras para areia, por exemplo – à ideia contrária, de que a linguagem cria o pensamento, de que uma linguagem inábil corrompe os costumes, ou de que a falta de linguagem filosófica, por exemplo, impediria os homens de filosofar adequadamente, a história ocidental está cheia de querelas sobre a língua.
Embora Camões não pudesse conhecer o De Vulgari Eloquentia, de Dante, leu certamente alguns dos poetas que participaram na questão da língua onde ela, durante o renascimento, foi mais acirrada: em Itália. Esta questão migrou, séculos mais tarde, para França e desaguou na querela dos antigos e modernos. A transformação é compreensível: o que esteve sempre em causa, na questão da língua, foi um debate sobre a adequação desta àquilo que ela representava. Haveria uma gramática divina, que captasse de facto a essência daquilo a que se refere, que não desvie o pensamento apenas para os voces, para o som? Pode haver uma gramática que nos traga a verdade sobre o mundo?
Isto é, ao dizermos que “Sócrates é grego” estamos a expressar uma ligação real, em que um sujeito é constituído por atributos, ou estamos a ser condicionados pela forma gramatical a adoptar uma visão do mundo? A questão, aliás, pode ser ainda mais complexa. Porque a ideia de conhecer os “nomes divinos”, para usar a expressão do Pseudo-Dionísio, o Areopagita, implica uma natureza fixa. Há também a possibilidade, contudo, de a língua nascer adaptada àquilo que a rodeia, de tal modo que pudesse mesmo haver várias línguas divinas, para as diferentes sociedades e naturezas. Daí que seja possível, mesmo a partir da ideia antiga de que as línguas degeneraram de uma raiz mais perfeita – ideia representada pelo mito de Babel e que se vê n’Os Lusíadas, com Vénus a favorecer os Lusos também por causa da língua “que com pouca corrupção crê que é latina” – defender o vulgar e as línguas modernas. Isto é, a língua divina poderia aplicar-se ao mundo divino, mas o mundo caído também precisaria de uma língua caída, mais romba, uma língua não essencial para as criaturas incompletas, que não corresponderiam também elas à essência de si próprias.

▲ Os Lusíadas expressam um movimento de elevação de toda uma cultura que não se pode ater a um episódio (na imagem: o poeta lê o épico, num retrato de António Ramalho)
O mundo do humanismo está crivado de pensamento à volta desta questão, e a própria ideia de um épico também deriva dela. Quando Poliziano se fascina, através dos relatos dos seus alunos portugueses, com os grandes feitos marítimos lusos, oferece-se a D. João II para escrever em latim a história dos grandes feitos. Também Cataldo tem esta ambição e pede insistentemente aos discípulos portugueses de Poliziano – num tempo em que não havia ainda as Décadas da Ásia – informações sobre as façanhas portuguesas além-mar. Ora, o que está em causa não é apenas a projecção da história portuguesa na língua universal; é, também, a ideia de que há uma relação mais íntima entre a língua e a História, e de que a sublimação completa dos Descobrimentos só pode ser feita pelos cânones Antigos.
Ora, é precisamente por isso que a questão da língua e da prioridade do Mundo Antigo está no cerne d’Os Lusíadas. Todos estes cânones antigos são escrupulosamente atravessados por Camões. Os grandes heróis épicos, a estrutura poética da epopeia, as tradições dramáticas, a presença de batalhas, concílios de deuses, tudo aquilo que se encontra na épica antiga é formalmente cumprido por Camões; no entanto, é claríssimo o esforço do poeta para mostrar como os grandes feitos portugueses ultrapassam estes antigos. O que é que tornou canónico o mundo de Alexandre e de Trajano, ou os míticos feitos de Eneias e de Júpiter? Tudo aquilo que é celebrado no mundo antigo é ultrapassado pela empresa portuguesa. O enredo principal do épico, aliás, radica nesta noção. Baco procura impedir a chegada dos portugueses à Índia porque não quer ser esquecido no Oriente.
Os deuses, os mitos, os heróis, todos esses elementos que encontraram uma língua adequada aos seus feitos, são agora ultrapassados, pelo que também o será, naturalmente, a língua. A língua de Camões é latinizada, a mostrar que também ela consegue aquilo que afamou a latina, consegue celebrar nos mesmos termos heróis igualmente – ou mais – famosos. No entanto, esta ultrapassagem também se revela na língua. Os Lusíadas expressam um movimento de elevação de toda uma cultura que não se pode ater a um episódio: é toda uma história, um povo e uma língua que ganham precedência em relação aos antigos. A tomada do poder não pode estar completa sem uma língua e uma literatura que façam parte, como a Eneida ou a Ilíada, do património português. Nesse sentido, são também Os Lusíadas que estão a ser celebrados n’Os Lusíadas, porque a grande gesta portuguesa não tem o sentido e a dimensão que Camões lhe quer dar sem uma língua que ultrapasse também o latim.
O que está em causa não é uma tomada de posição, dentro da querela da língua, do lado dos nominalistas, como se qualquer língua servisse, ou uma afirmação patriótica da língua. Não: a língua de Camões tem um sentido universal, é, de certa forma, um novo latim. Não faria sentido escrever em vulgar num gesto de afirmação patriótica para depois eivar a língua de latinismo. Há, em Camões, uma clara consciência humanista da superioridade do latim, dos mitos antigos e da História greco-romana; é precisamente isso que torna o seu português interessante. Este não é um épico dentro do mundo antigo – é um épico que compete com o mundo antigo e que lhe quer tomar o lugar. O mundo que os portugueses revelaram já não cabe no latim. A machina mundi que Vénus revelou a Vasco da Gama não a revelou aos heróis do mundo antigo; esta revelação não está, hierarquicamente, na mesma ordem, de tal modo que a substituição linguística seja simplesmente a de uma língua por outra, de umas palavras por novas palavras. A questão não é morfológica, é sintáctica. O que o feito de Vasco da Gama revela é outra gramática do mundo, o que reafirma a pertinência da querela da língua. Se a nossa compreensão do mundo não é neutra em relação à gramática que usamos, uma compreensão de outra ordem pede – ou forma, é indiferente para o caso – uma língua nova. O esforço de mostrar que o português está à altura daquilo que é cantado revela, assim, um Camões profundamente humanista na compreensão dos problemas associados à linguagem, mas extraordinariamente original dentro desse quadro.
É certo que o humanismo não explica Camões; no entanto, o conhecimento das suas preocupações intelectuais ajuda-nos a perceber a dimensão do poeta.
Há outro aspecto, porém, de igual relevância para o estudo de Camões no elenco dos lugares e das figuras do renascimento.
Nomes de família
A consciência de que o ímpeto latinizante e de renovação pedagógica contaminou todo o ensino português, de que há uma preocupação generalizada com a qualidade do ensino, não só em Lisboa ou em Coimbra, mas em vários centros urbanos e em várias casas que, à semelhança do rei, procuram com esmero mestres eruditos para instruírem os seus infantes, a noção da grande rede de conhecimento que chega a vários lugares abre um sem-número de possibilidades sobre a infância e instrução de Camões. Onde é que Camões aprendeu aquilo que usa para montar o seu poema? Teve uma educação formal? Andou pelo ambiente letrado da corte? Estudou em Coimbra? À falta de documentos probatórios, o mundo do renascimento português alimenta todas estas dúvidas, porque faz crescer as possibilidades.
O local do nascimento de Camões, tal como os sítios em que passou a infância e se instruiu, têm sido alvo de intensa disputa filológica. Alguns dos primeiros camonistas, fiados nas genealogias da época, apontavam a família de Camões como vinda da Galiza, de uma nobre família da região, com um castelo perto de Finisterra. Na linha desfiada por Storck, um quarto avô de Camões, Fernão Garcia de Camanho, seria trineto de um lendário Ruy Garcia de Camanho, que no século xii teria campeado junto a Alfonso VII de Castela, conquistador de Almería.
Este Fernão Garcia de Camanho seria pai de Vasco Pires de Camões, ou de Camanho, poeta bem cotado entre os trovadores galaico-portugueses. Este poeta, por intrigas políticas, seria obrigado a descer a Portugal, fundando a família portuguesa dos Camões. Vasco Pires ter-se-á dado bem na corte portuguesa, foi contemplado com várias terras e mercês, embora a escolha do lado de Castela na crise de 1383 lhe tenha valido a perda de algumas das suas posses.
Vasco Pires teve três filhos, Gonçalo Vaz, João Vaz e Constança Vaz, e o que destes nos interessa, João Vaz de Camões, seria vassalo de D. Afonso V, por quem combateu em África e contra Castela e foi procurador às Cortes e corregedor da comarca da Beira. Seria pai de Antão Vaz de Camões, que por sua vez casaria com D. Guiomar Vaz da Gama, dos Gamas que nos deram o capitão da armada que primeiro chegou à Índia.
Entre João Vaz de Camões e o seu filho ter-se-ia perdido uma boa parte da fortuna dos Camões; ainda assim, Antão Vaz gozaria ainda de certa importância na sua cidade natal, Coimbra, o que se comprovaria pela posição que um dos seus filhos, Bento de Camões, alcançaria entre os cónegos de Santa Cruz de Coimbra. Este Antão Vaz teria outro filho, Simão Vaz, pai do nosso poeta, Luís Vaz de Camões.
Jorge de Sena segue, fundamentalmente, a mesma linha. O tal Vasco Perez de Camões que passou a Portugal teria recebido de D. Fernando o senhorio de vilas como o Sardoal ou Punhete (hoje Constância) e a alcaidaria-mor de Portalegre. João Vaz de Camões, filho de Vasco, conseguiria, além da honra de ser vassalo do Rei, o posto de corregedor de Coimbra. Filho deste João seria António, ou Antão, pai de Bento e Simão Vaz e, por isso, avô do poeta.
Jorge de Sena explora, ainda, outros ramos da família. O filho mais velho de Vasco Perez, Gonçalo, teria casado com Leonor Vasques Coutinho; esta seria sobrinha por afinidade do senhor de Bragança, D. Fernando, neto de D. Pedro e de D. Inês de Castro. Daqui surgiriam dois filhos. Um Lopo Vaz, cuja mulher, Inês Dias da Câmara, seria neta de João Gonçalves Zarco, ligando assim os Camões aos Câmaras, e uma Aldonça Anes de Camões, de quem descenderia uma Leonor de Camões, que por casamento se ligaria novamente à descendência de Inês de Castro, e que teria também uma sobrinha que viria a casar com Aires da Gama, irmão de Vasco da Gama. Por este ramo também estaria a família de Camões ligada aos Silveiras, já que um sobrinho-neto de Leonor, António Vaz de Camões, casaria com Francisca da Silveira, sobrinha-neta do jesuíta Gonçalo da Silveira, morto em África em 1561, e que aparece n’Os Lusíadas: a sua morte marca mesmo o limite histórico do épico, de que se pode dizer que vai desde tempos mitológicos até ao martírio africano de Gonçalo da Silveira.
Mas da aliança entre Gonçalo Peres e Leonor Vasques Coutinho ainda extrai Jorge de Sena outra ligação importante. Um tio direito desta Leonor seria o pai do primeiro conde de Marialva, de Fernando Coutinho, pai do primeiro conde de Redondo, e de Álvaro Gonçalves Coutinho, o Magriço do poema de Camões.
Mencionamos estas relações porque são usadas por Sena para interpretar Os Lusíadas como um épico familiar, inserido num quadro mental em que a honra de família é um valor político importante e uma forma de legitimação das intenções de quem escreve ou quem age; o épico do reino seria o épico das suas grandes famílias, uma espécie de história heróica da nobreza, e as personagens que à distância nos parecem sobressair apenas pelos seus feitos estariam intimamente ligadas, numa unidade familiar que daria uma nova coerência a Os Lusíadas; fazer dos grandes heróis familiares os principais heróis do reino capitalizaria a própria figura de Camões e poderia explicar o porquê de encontrarmos Vimiosos, Coutinhos, Câmaras, entre os protectores de Camões. Sena, aliás, traça o parentesco entre Camões e todos os seus grandes protectores: Manuel de Portugal, o conde de Redondo, Gonçalo Coutinho, que cuidou da sepultura de Camões e a quem são dedicadas as primeiras edições das suas Rimas, Rui Dias da Câmara, que lhe teria encomendado a tradução dos Salmos que resultaria em “Sôbolos rios”, os condes de Linhares, e outros a quem o poeta dedica alguns dos seus versos: Leónis Pereira, António e Heitor da Silveira, personagens d’Os Lusíadas ou de poemas camonianos, ou o duque de Aveiro, destinatário de uma das églogas.
Esta arrojada interpretação de Sena escora-se nas ligações tecidas pelos primeiros biógrafos de Camões. Contudo, é preciso ter em conta a pouca fiabilidade das genealogias modernas e medievais. Em qualquer nobiliário ou crónica biográfica o vício de entroncar personagens nas famílias mais ilustres, de aparentar imediatamente personagens com apelidos iguais, de recuar nas origens familiares qualquer protagonista histórico sobrepõe-se ao escrúpulo genealógico e mascara saltos geracionais ou toma como certas filiações que nada, a não ser um apelido vagamente semelhante, prova.

▲ É certo que o humanismo não explica Camões; no entanto, o conhecimento das suas preocupações intelectuais ajuda-nos a perceber a dimensão do poeta (na imagem: a praça Luís de Camões, em Lisboa)
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
As imprecisões desta genealogia camoniana, por exemplo, podem ser-nos dadas por vários lados. O primeiro elo da cadeia genealógica é-nos confirmado pelos documentos. O alvará de 1585 que atribui à mãe de Camões a tença que, até à morte deste, era paga ao filho, filia claramente Luís de Camões em Simão Vaz: “havendo respeito aos serviços de Simão Vaz de Camões e aos de Luiz de Camões, seu filho…” Este Simão Vaz pode entroncar em António ou Antão Vaz a partir das informações dadas pelas crónicas de Santa Cruz de Coimbra. Aí é dito, como refere Pinto Loureiro, que em 1539 foi eleito prior trienal “o padre D. Bento de Camões, natural da Cidade de Coimbra, filho de António Vaz de Camões e sua mulher D. Guiomar Vaz da Gama”. A Crónica de D. Nicolau de Santa Maria acrescenta que “D. Bento teve um irmão, de nome Simão Vaz de Camões, que herdou a casa do pai”.
Estes dois fragmentos parecem confirmar a genealogia tradicional, que vem desde Pedro Mariz. Tanto este como Severim de Faria escrevem que Antão Vaz de Camões, que casou com D. Guiomar Vaz da Gama, seria pai de Simão Vaz, pai do poeta, e filho de João Vaz de Camões e de sua mulher, Inês Gomes da Silva. Estaria, por aqui, entroncado Luís Vaz de Camões na família Camões de Coimbra, comprovada a sua fidalguia e o seu ambiente familiar. O estudo desta família, contudo, dá-nos informações algo contraditórias.
Nenhum documento nos dá João Vaz casado com Inês Gomes da Silva. A partir de um processo relacionado com uma quinta nos arredores de Coimbra, a Quinta do Lordemão, que pertenceu a Isabel Tavares (tomada por alguns estudiosos, com Teófilo Braga à cabeça, como a “Belisa ingrata” que Camões cantou) é possível fazer uma genealogia destes Camões de Coimbra – que, aliás, poucas vezes usaram o apelido Camões. Isabel Tavares era irmã de Simão Vaz – o almotacé, não o pai do poeta – e filha de João Vaz. Este João Vaz, casado com Branca Tavares, seria filho de outro João Vaz, por sua vez casado com Catarina Pires, como comprova um contrato de aforamento de 1508. Para entroncarmos Antão Vaz no ramo dos Camões de Coimbra teria de ser aqui, como filho deste João Vaz. Há que acrescentar, contudo, que são referidos nos documentos que dizem respeito às propriedades destes Vaz outros filhos e netos de João Vaz – Pero Vaz, depois Henrique Freitas, Estêvão Vaz de Camões… – mas nada nos é dito sobre Antão Vaz. É necessário dizer, ainda, que segundo as contas de Calvão Borges, dificilmente, entre Vasco Peres e Antão Vaz, medeia apenas uma geração. Vasco Peres teria servido o rei D. Fernando, ainda no século xiv, e no século xvi, em 1508, estaria ainda viva a mulher de seu filho: a hipótese é tão improvável que o mais natural é que se não possa entroncar estes Vaz de Camões, também chamados Vaz de Coimbra ou Vaz de Vila Franca, no tal Vasco Peres, considerado patriarca da família.
Uma genealogia distante
A teia, no entanto, complica-se. Em 1974, o general Calvão Borges robusteceu a hipótese de Luís Vaz de Camões ser originário de perto de Chaves, de Vilar de Nantes. Numa habilitação para o Santo Ofício de um tal doutor Pedro Álvares de Freitas afirma-se que este seria filho de Álvaro Anes de Freitas e de sua mulher, Mécia Vaz de Camões. Esta Mécia Vaz de Camões poderia – os testemunhos ouvidos pelo Santo Ofício são contraditórios – ser filha de Antão e Guiomar Vaz, nascidos, ou pelo menos um deles, em Coimbra: precisamente os avós do poeta. Há entre as testemunhas ouvidas, porém, quem afirme que o pai de Mécia se chamava Miguel, e quem afirme que se chamava Simão.
A hipótese de se chamar Antão, contudo, é reforçada por Matias Gonçalves, uma das testemunhas na habilitação, afirmar que os pais de Mécia, a que ele chama Antão e Guiomar, teriam filhos “muito letrados”. Nos estudos de Braga encontram-se matrículas de Sebastião, Francisco, Simão, Miguel, Luís e Manuel, todos filhos de Antão Vaz e de sua mulher Guiomar.
Estas matrículas confirmariam não só que os pais de Mécia Vaz se chamariam Antão e Guiomar, mas também que esta teria um irmão chamado Simão, como o pai do poeta, e ainda um irmão Luís, que poderia inspirar o nome do sobrinho.
Note-se, ainda, que no dito processo o visado afirma ser, pela parte da mãe, dos Vaz de Camões de Coimbra, o que permitiria entroncar este Antão Vaz nos descendentes de João Vaz. A presença de Antão Vaz em Vilar de Nantes permitiria, também, explicar a falta de documentos que, em Coimbra, se lhe refiram. E se a genealogia firmada por Pinto Loureiro tornava improvável a ligação destes Vaz a Inês Gomes da Silva, a verdade é que este Antão Vaz que Calvão Borges descobre em Vilar de Nantes tem uma filha chamada Isabel Gomes da Silva. Mais, uma genealogia manuscrita do século xix, existente na torre do tombo, lavrada, segundo Martim de Albuquerque, pelo padre José Correia e cuja fiabilidade testaremos adiante, diz-nos que Antão Vaz “vivia em Coimbra com o seu irmão João Vaz, por um crime de homicídio fugiu com sua mulher acoutando-se em Chaves”. O facto de Chaves ser, desde o tempo de D. João I, Couto de Homiziados, ou seja, que se perdoavam certas penas a infractores que aceitassem viver no couto, reforça a verosimilhança desta hipótese.
Ou seja, torna-se possível que, embora confundindo os João Vaz, haja alguma verdade na genealogia aventada por Pedro Mariz, que atribui a João Vaz (embora ao errado) uma “primeira mulher Inês Gomes da Silva, filha bastarda de Jorge da Silva, que também era filho bastardo de Gonçalo Gomes da Silva, que era irmão do bisavô do príncipe de Melito, Rui Gomes da Silva”.
Há, contudo, mais uma dificuldade por resolver. Entre os registos de Braga não figura o nome de Bento, tido nas genealogias tradicionais por único irmão do pai do poeta e elo principal na ligação entre Simão Vaz, pai do poeta, e Antão Vaz. Calvão Borges mostra, ainda assim, que aos irmãos encontrados no registo de Braga se pode somar um Isidro Vaz, capelão do Rei e, com toda a certeza, filho de Antão e Guiomar. Avança, assim, com a hipótese de Isidro e Bento serem filhos mais velhos, nascidos ainda quando Antão vivia em Coimbra, o que justificaria que não tivessem matrícula em Braga. Esta hipótese, no entanto, tem de ser alterada diante de novos elementos. Ao consultar o tombo de propriedades da Igreja de Vilar de Nantes, descobre-se que este Isidro Vaz, em 1548, era raçoeiro da Igreja de Vilar de Nantes. O registo desta ração diz-nos que Isidro Vaz a) tomou ordens menores em Évora b) as recebeu em 1525. Esta informação embora demonstre que, de facto, havia filhos de Antão Vaz que não receberam ordens em Braga, enfraquece a ligação com Coimbra. Por outro lado, pode deduzir-se que Isidro Vaz não era dos irmãos mais velhos – dado importante para a tese de que alguns irmãos teriam permanecido em Coimbra aquando da partida de Antão para Vilar de Nantes.
Ora, esta ração levanta ainda outras intrigantes questões camonianas. Ela já teria sido, segundo a já referida genealogia manuscrita oitocentista encontrada por Calvão Borges (e cuja fidelidade os documentos, em geral, parecem salvaguardar) usufruída por Antão Vaz, coisa aliás pouco estranha ao funcionamento das rações naquela época e naquele lugar, já que noutras se vê como é comum a passagem, de pais para filhos ou de parentes para parentes, das mesmas rações; segue-se que Isidro a recebe, em 1536, de um Simão Vaz, que por sua vez a recebe de outro Simão Vaz. É possível que nenhum destes Simão Vaz fosse da família do poeta. No entanto, e como tal não se afigura provável, vale a pena conhecer um pouco melhor estes dois homónimos. O primeiro, morador em Santarém, era capelão e tesoureiro da Capela d’el Rei e chantre da Igreja da Alcáçova. Em 1523, este renuncia à ração e esta passa para outro Simão Vaz, clérigo de ordens do evangelho ou ordens sacras (o texto está rasurado, coisa que se revelará importante). O facto de a passagem se fazer por procuração, passada no mesmo lugar, mostra que ambos estavam, à data, em Santarém.
Acrescentemos que a ração de Isidro era usufruída por vários dos seus irmãos – Miguel Vaz, Manuel Gomes, Mécia Vaz de Camões – e até cunhados – Gonçalo da Serra, casado com a sua irmã Maria Gomes da Silva. Não está entre os usufrutuários o nome do pai do poeta, Simão Vaz. Poderá isto querer dizer que um dos Simão Vaz que renunciaram à ração seria o pai do poeta? Dificilmente o chantre da Igreja da Alcáçova o seria, visto que o filho de Antão Vaz teve ordens menores em Braga em 1514, significando isso que em 1523 teria cerca de vinte anos – idade improvável para ocupar os cargos descritos no documento. Poderia, contudo, ser o segundo. Significaria isto que Luís Vaz de Camões seria um filho sacrílego? O facto de estar este Simão Vaz em Santarém e se dizer que a mãe de Camões era dos “Macedos de Santarém” reforça esta hipótese? É certo que há alguns versos de Camões que demonstram uma certa simpatia pelos bastardos, como se vê no passo de Os Lusíadas sobre D. João I:
“Sempre foram bastardos valerosos
Por letras, ou por armas, ou por tudo
Foram-no os mais dos deuses mentirosos
Que celebrou o antigo povo rudo”
José Hermano Saraiva, embora sem prova alguma que o justifique, pretende até que a famosa estrofe:
“Oh! Tu que me atarracas
Escudeiro de solia
Com bocais de fidalguia
Trazido quase com vacas Importuno a importunar
Morto por desenterrar
Parentes que cheiram já”
Não é de Camões mas sim sobre ele. No entanto, nada disto reforça directamente a hipótese de uma bastardia.
É verdade que a natureza da ração torna mais do que possível que esta seja recebida pelo filho de Antão Vaz; que a ligação a Santarém também faça sentido na genealogia tradicional do poeta, podendo até, caso se verificasse a ligação e dado o provável nascimento de Luís de Camões em 1524, apontar o local de nascimento do poeta; pode também ter significado o facto de Pedro Mariz, na sua genealogia, não dizer explicitamente que Simão Vaz era casado com Ana de Macedo. Também é possível que Simão Vaz tenha pedido dispensa das suas ordens (situação de gravidade variável e que torna importante a rasura do texto, porque não é igual pedir dispensa de “Ordens de Evangelho”, diaconato, e do sacerdócio) e tenha casado legitimamente, embora a referência coeva ao seu estatuto de cavaleiro-fidalgo confunda um pouco a situação.

▲ O português de Camões está muito mais próximo do nosso do que o de Fernão Lopes (na imagem: Camões na prisão em Goa, pintado por Moreaux)
Ou seja, podemos ter: um Luís de Camões ilegítimo ou quase, nascido de uma união com contornos complicados; podemos ter ainda outro Simão Vaz nesta complexa teia que rodeia Antão Vaz, que seria o pai do poeta e nenhuma relação teria com os raçoeiros; ou podemos, ainda, ter como falsas todas as informações que ligam o pai do poeta a este Antão Vaz. Tudo indica que é de facto daqui que vem o pai de Camões; contudo, continua difícil de explicar, por um lado, que nada, na documentação da época, refira o delicado problema de um nascimento ilegítimo, ou perto disso, de Camões, e que a ligação mais forte das genealogias tradicionais – a do pai de Camões ao D. Bento cancelário – não apareça nunca na documentação relativa a Vilar de Nantes e só possa ser explicada pela permanência em Coimbra de um único filho, enquanto todos os outros seguiam para Braga ou, no caso de Isidro e por circunstâncias inexplicáveis, para Évora.
Mesmo que aceitemos esta justificação, torna-se então difícil que, no meio de tanta descendência, só Simão Vaz herde, como nos diz a crónica de D. Nicolau de Santa Maria, a casa de seu pai. Embora não se possa pôr de parte a hipótese de só Simão ter regressado à Coimbra natal de seu pai, ficando assim com a sua casa, também não podemos por de parte: a) que não possamos juntar D. Bento aos filhos de Antão de Vilar de Nantes; b) que haja confusão na parca genealogia atribuída a este D. Bento.
A verdade é que, em princípios do século XVI, há pelo menos três D. Bento entre os crúzios e que nem sempre as crónicas são muito minuciosas na sua identificação. Pinto Loureiro já provou que não é possível que o Frei Bento, irmão do almotacé, seja o cancelário da universidade; no entanto, e por mais provável que nos pareça a ligação tio-sobrinho entre Camões e D. Bento de Camões, a verdade é que já vários estudiosos duvidaram dela.
Certo, assim, na genealogia distante de Camões, é quase nada. Há vários elementos que parecem ligar Camões à família de Coimbra. Um dos mais relevantes foi encontrado por Maria Clara Pereira da Costa, num documento em que Isidro oferece um seu escravo jalofo a um dos Vaz de Vila Franca; aos já referidos, podemos acrescentar que da sua mãe, a que os biógrafos tanto chamam Ana de Sá como Ana de Macedo, também já houve quem a dividisse em duas (Storck põe a hipótese de a mãe, Ana de Macedo, ter morrido a dar à luz, tornando-se depois Ana de Sá a madrasta), mas dada a quantidade de informações contraditórias e mirabolantes que têm enfeitado a genealogia de Camões, parece-nos tão importante esclarecer aquilo que não se sabe e o que, nos vários ramos, é certo, provável ou improvável, como aquilo que se sabe.