Isto sabemos: os leitores e os críticos literários adoram modas. Sobretudo adoram criar modas. Ou pensar que criaram. Digladiam-se em ver quem é que aparece primeiro com “aquilo que se lê lá fora”. E “lá fora” sobretudo se for ango-saxónico é, já se sabe, um lugar mítico onde se produzem todas as obras-primas da literatura, do cinema, do teatro. Então é ver a triste corrida aos Franzen, aos DeLillo, aos Philip Roth, que depois se mostram triunfantes nas redes sociais, nos blogues e nas páginas dos suplementos culturais de fim-de-semana.
Falar em autores portugueses não tem aquele hype que se exibe nas listas de melhores do ano, não transpira cosmopolitismo para mostrar nos salões. Não se pode acrescentar ao titulo “tem um Booker Prize, um Pulitzer”.
Falar em autores portugueses mortos — e mortos há quase um século — é quase um crime de “mau gosto”, além de que, como ninguém lê, ninguém conhece, ninguém sabe, não dá para exibir cosmopolitismo e conhecimento das novidades que, como se sabe, é o que verdadeiramente importa.
Posto isto, vem a notícia: Húmus, de Raul Brandão, uma obra-prima da literatura universal, teve em outubro a sua reedição pela Relógio D’ Água. Não uma reedição qualquer. Mas uma grande reedição que faz a fixação do texto e é acompanhada por uma introdução instigante de Maria João Reynaud (da Universidade do Porto) que mostra como este livro, precursor do Expressionismo e Modernismo português, antecipou Virginia Woolf, James Joyce ou Kafka, antecipou a escrita fragmentária do Nouveau roman ou mesmo do Livro do Desassossego de Fernando Pessoa. Era adorado por Herberto Helder e só o facto de ter sido escrito em português justifica que não seja mundialmente lido e reconhecido.
Nas livrarias pode ser encontrado nas prateleiras ao rés-do-chão e, como desabafou Francisco Vale, o editor, “se vender setecentos exemplares num ano será muito bom”.
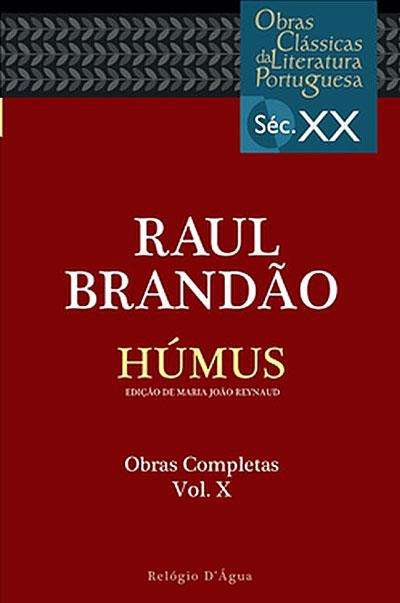
Húmus, edição crítica, Relógio D´Água, Outubro, 2015
“Se Húmus fosse um quadro era O Grito de Munch”
Sempre as mesmas coisas repetidas, as mesmas palavras, os mesmos hábitos. Construímos ao lado da vida outra vida que acabou por nos dominar. Vamos até à cova com palavras. Submetem-nos, subjugam-nos. Pesam toneladas, têm a espessura de montanhas. São as palavras que nos contêm, são as palavras que nos conduzem. Toda a gente forceja por criar uma atmosfera que arranque à vida e à morte. O sonho e a dor revestem-se de pedra, a vida consciente é grotesca (…) remoem hoje, amanhã, sempre as mesmas palavras vulgares, para não pronunciarem as definitivas (…) Formam-se assim, lentamente, crostas: dentro de cada ser, como dentro das casas de granito salitroso, as paixões tecem no silêncio, teias de escuridão e de silêncio (…) Começo a perceber que o hábito é o que me faz suportar a vida. Às vezes acordo com este grito: a morte! A morte! ” p.59
Publicado pela primeira vez em 1917, Húmus, será por duas vezes revisto por Raul Brandão e só em 1926 sai a versão definitiva do livro. Apesar de contemporâneo do grupo do Orfeu, apesar de ser claramente um modernista e de estender o decadentismo e o simbolismo, “é claramente uma obra expressionista, a primeira e uma das únicas obras expressionistas da literatura portuguesa”, afirma, em entrevista ao Observador, José Carlos Seabra Pereira, da Universidade de Coimbra, um dos principais conhecedores da obra de Raul Brandão. E acrescenta: “Se Húmus fosse um quadro era O Grito, de Munch”. O pintor norueguês transpôs para a tela a mesma angustia existencial, o grotesco e o absurdo da condição humana, condenada pelos milénios fora a viver uma vida que mais não é do que uma putrefação progressiva, uma soma de máscaras, invejas, mesquinhez, egoísmos.
A par desta condição de íntima miséria anda a miséria material das hordas de pobres, de mendigos, dos que vivem como bichos e estão ali no limiar de uma metamorfose. (Se Kafka deu um corpo animalesco à angustia existencial, Brandão deixa essa animalidade sugestionada nos rostos e nos corpos carcomidos pela vida e pela morte. E, talvez por isso, o horror e a asfixia que Húmus produz nos leitores é muito maior do que A Metamorfose.) Por isso, acrescentamos nós, se Húmus fosse uma tela poderia também ser Os Comedores de Batatas, de Vincent Van Gogh, um dos pais do Expressionismo.

“Os Comedores de Batatas”, de Van Gogh (1885): a miséria e o grotesco que recentemente foram usados para criar planos no magistral “O Cavalo de Turim”, do cineasta húngaro Béla Tarr
“É essa angustia, esse horror levado até ao exagero, até à náusea, que faz com que este também seja um livro de temática existencialista, muito antes do existencialismo”, explica Seabra Pereira. Aliás, Vergílio Ferreira, que dedica um ensaio à obra de Brandão, considera-o “o primeiro ficcionista de ideias da literatura portuguesa”, cuja grande influência foi Dostoievski.
Em Húmus não há personagens, não há enredo, há um discurso poético que faz da línguagem e da ambiguidade das palavras o protagonista, de resto como o fizeram grandes poetas expressionistas alemães como George Trakl, Gottfried Benn ou Georg Heym. A linguagem, mais até do que as temáticas, faz a grande rutura desta literatura do final do século XIX/início do século XX. Há toda uma carga simbólica que se levanta contra a literatura naturalista, contra o racionalismo, o positivismo, e deseja mostrar as fossas abissais da alma humana. A isto não será alheia a ideia da “morte de Deus” declarada por Nietzsche e o nascimento da psicanálise de Freud.
De qualquer forma, os críticos não lhe perdoaram e o livro só chegou a um pequeno círculo de leitores. Acusado de não saber criar personagens nem enredos e de preencher o espaço com exageros, excesso de adjetivos, repetições, Raul Brandão era tido como um escritor falhado e só em 1967, quando se comemorou o centenário do seu nascimento, começou a haver um interesse maior e uma visão mais clara da grandeza e singularidade da sua obra.
É nesse ano que Herberto Helder escreve o poema Húmus, usando apenas palavras retiradas da obra homónima de Brandão e que David Mourão Ferreira escreve um ensaio determinante para o reposicionamento da obra brandoniana na paisagem literária portuguesa. E sobre Húmus há-de escrever: “Um diário? Um romance? Mesmo que inclassificável, trata-se de uma obra-prima em qualquer literatura, Acabo de reler o Húmus de um fôlego, numa só noite, e dessa leitura saio, ao mesmo tempo, sufocado e eufórico. Fiquei impregnado até aos ossos de uma sensação física de ‘mixórdia’ e de ‘espanto’.”
“É preciso criar palavras, sons, palavras vivas, obscuras, terríveis.
Uma candeia vem de mão de mulher
em mão de mulher, debruça-se
sobre uma grandeza.
Aumenta.
— Quem grita?
Só a água fala nos buracos.
Tocamo-nos todos como as árvores de uma floresta
no interior da terra. Somos
um reflexo dos mortos, o mundo
não é real. Para poder com isto e não morrer de espanto
— as palavras, palavras.
A lua de coral sobe
no silêncio, por trás
da montanha em osso. É o silêncio.
O silêncio e o que se cria no silêncio.
E o que remexe no silêncio.
É uma voz.
A morte.”
(Excerto de Húmus, Herberto Helder, Oficio Cantante, 1967)
Raul Brandão, um indisciplinador de almas
Raul Brandão nasceu na Foz do Douro em 1867, pertenceu à geração de Camilo Pessanha, e António Nobre, fez carreira militar mas destacou-se como jornalista nos jornais O Dia, Correio da Manhã, República. Foi um dos fundadores da revista Seara Nova. Viveu entre uma quinta em Guimarães e a casa na Lapa em Lisboa. José Rentes de Carvalho, que escreveu uma tese sobre ele, descreve-o como um homem indeciso, contemplativo, pouco dado à ação e a verdadeira imersão no mundo. Era uma alma insatisfeita, inquieta pelo excesso de pathos que as suas obras traduzem. Apesar de procurar formas artísticas novas e de ter arriscado escrever de uma forma pouco convencional, nunca assumiu posturas abertamente críticas e agressivas, como fizeram os membros do Orfeu, por exemplo.

Raul Brandão (1867-1930) foi jornalista, dramaturgo, romancista, pintor
Filho de comerciantes abastados, não consta que tivesse passado por dificuldades financeiras e as suas crises são de ordem psicológica. O sentimento de náusea e de absurdo acompanham-lhe a existência. Faz viagens pelo Mediterrâneo com a mulher, Angelina, mas não se cura desse mal de vivre. No final da vida converte-se ao cristianismo, embora nunca tenha sido um ortodoxo. Morreu em 1930.
É pois a sua obra, em especial Húmus, mas também a Morte do Palhaço ou A Farsa, que criam à sua volta permanente desassossego. Quando o jornal Público lançou Húmus na coleção Mil Folhas, o ensaísta Carlos Câmara Leme resumia a obra assim: “Raul Brandão não dá descanso. De todo em todo não se aconselha levar Húmus para férias, a não ser que queira desassossegar a sua alma. Construído em forma de diário fragmentado, com rápidos lances, descrições realistas e fantasmagóricas, personagens vivas-mortas, um alter-ego, Gabiru, Húmus tem como cenário uma Vila. Um microcosmos universal de demência a que nem o tempo escapa. Ao longo de 19 capítulos e de três estações de um ano — o Verão escapa à trituração do escritor –, diante dos nossos olhos vão desfilando seres abjectos (só Joana, a mulher da esfrega, é um pouco salvaguardada: ‘Cabem na noite os mundos infinitos mas só me interessa a alma de Joana’).”
“Raul Brandão pôs radicalmente em causa os modelos literários vigentes na sua época, por uma exigência de liberdade (…) e abolindo a oposição entre prosa e poesia, subvertendo as categorias de géneros, desvalorizando os elementos convencionais da narrativa, a ficção brandoniana antecipa as experiências mais inovadoras da narrativa contemporânea: de Finisterra de Carlos de Oliveira à escrita inclassificável de Maria Gabriela Llansol, passando por Saramago, como mostram os romances Todos os Nomes ou As Intermitências da Morte”, afirma Maria João Reynaud.
“Penso em Húmus, e em Raul Brandão, como uma daquelas enormes pedras de aspeto pré-histórico que surgem de repente no meio da planície e ninguém percebe o que estão ali a fazer ou como é que foram levadas para lá”, diz Francisco Vale, da Relógio D’Água, que desde 1998 está a editar a obra completa de Brandão, em volumes com o texto fixado e introduções críticas feitas por académicos. Um luxo intelectual do qual poucos se darão conta. E, claro, há mais movida, excitação e irreverência nisto do que todos os romancistas americanos dos quais é suposto “não deixar de ler” sob o perigo de ser expulso da sociedade de gente culta.
O mundo em decomposição
“As florestas já mortas, a luz das estrelas desaparecidas no caos — tudo está presente. O esforço dos mortos, o sonho dos mortos, o desespero dos mortos sobre os mortos, o reflexo de ternura, a mão que o amparou, a boca que sorriu, levadas pelo vento que soprou há dez mil anos, aqui estão vivos. Aqui está vivo o sonho que sonhamos todos, o primitivo sonho humilde e o sonho repercutido de século em século, assim como a tua voz compadecida. O sonho sepultado nas profundidades da terra, o primeiro resquício, o nada e o sonho frenético, tudo aqui está na floresta embravecida. E, com ou sem boca, com ou sem consciência, nunca mais deixarei de andar nisto, disperso, amalgamado, confundido, de fazer parte deste drama, queira ou não queira, proteste ou não proteste. Tudo é inútil, todo o esforço inútil, todas as palavras inúteis”. (p. 231)
Húmus é a matéria que resulta na decomposição de animais e plantas na camada superficial da terra. Nesta vila sem nome onde não se sabe quem são os vivos e quem são os mortos, onde cada capítulo é um pedaço, um rasgão que vai minando a segurança que nos dão os romances convencionais, este é um livro que encontrará sempre mais público entre os leitores de poesia do que entre os leitores de romances.
De certa forma é um livro paralelo ao Livro do Desassossego, defende Reynaud, não apenas pelo seu caráter fragmentário mas também pela tragédia do Homem face ao absurdo da vida que passa.
É ainda um livro onde há uma imersão total do humano no cosmos, da mesma forma que faz Virgínia Woolf no prodigioso livro As Ondas. Se em Húmus a vida interior se projeta e refrata no ritmo das estações, em As Ondas ela faz-se ao ritmo das marés, entre a aurora e o anoitecer. Ahhh, se Brandão tivesse escrito em inglês, estaria agora na lista dos grandes livros postos à venda em 2015.














