Numa das salas da ampla casa da Malveira da Serra, em Cascais, onde se refugiou em 1999, “antes da chegada dos franceses e dos brasileiros”, Pedro Bidarra, 59 anos, ex-vedeta da publicidade de uma época em que a publicidade produzia vedetas, promove de forma renitente o segundo romance, Azulejos Pretos (Guerra & Paz).
Ao longo de quase duas horas de conversa, driblará umas perguntas e placará outras com chavões que se intuem imagens de marca. “Been there, done that”, a indiciar territórios já percorridos e onde não faz tenções de voltar. Ou “Sou psicólogo, não sou dado à introspeção”, provocação em jeito de alerta (e vice-versa), a sinalizar um lugar inóspito que não pretende explorar, muito menos nesta companhia.
Do lado de fora das portadas de vidro, Pepa (diminutivo espanhol de Maria José), uma dócil rafeira alentejana, assiste paciente à conversa. Ao fundo, vislumbra-se a Praia do Guincho. Foi aqui que Bidarra, hoje consultor de marketing, estratégia e comunicação, trabalhou durante um ano (mais um ano de pousio) na história de uma festa metafórica onde um criativo – “Que raio de pessoa descreve a sua profissão com um adjectivo?” – se encerra numa deriva auto-destrutiva, e numa casa-de-banho.
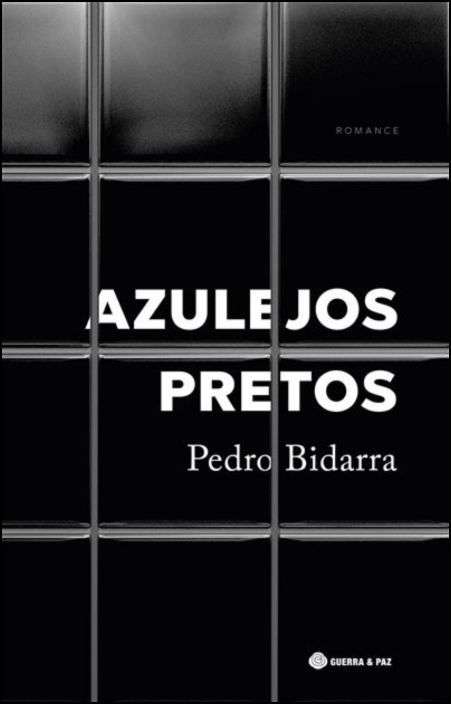
A capa de “Azulejos Pretos”, o novo romance de Pedro Bidarra (Guerra & Paz)
Quando lançou o primeiro livro, “Rolando Teixo”, disse que foi porque o seu editor e amigo, o Manuel S. Fonseca, o desafiou. Então e este, foi porquê?
Sempre fiz uma coisa de cada vez. Comecei a escrever ficção na faculdade, num programa da Rádio Universidade Tejo que fazia com o Edgar Pêra. Depois a vida tomou outros rumos e fui escrever ficção comercial. Enjoei daquilo e voltei à ficção, ao primeiro gozo. Depois de o Manel me desafiar, continuei a escrever. Este livro nasce de um conto que publiquei no Escrever é Triste [blogue coletivo de que fazem os dois parte], que se chamava “Eu Vivo Aqui”. Ter ideias é fácil, ter paciência para as desenvolver é que é mais complicado.
Que história quis contar?
É a história que lá está. É a história de uma viagem por aí abaixo até um buraco negro. Resume-se melhor na citação do Nietzche que aparece no início, “Se fores pássaro, tem cuidado para não acampares à beira de um abismo.” Este é um pássaro que acampou à beira do abismo, mas não era bem pássaro ou tinha as asas partidas. Passa-se no mundo social da cultura e dos livros e das artes e dos artistas e da noite. O mundo que se move num salão. O personagem é alguém que não está bem no salão e, portanto, vai para outra zona da casa, que é a casa-de-banho.
Porque é que quis contar esta história?
Sabe que eu sou formado em psicologia e, portanto, não sou dado à introspeção. Sem ofensa à perguntadora, parece-me redutor achar que os leitores não vão encontrar ali o seu gozo, o seu caminho, e ter de ser eu a entregar reflexões e dizer, “eu escrevi isto porque…” Eu escrevi isto porque comecei por gostar de um personagem que não saía da casa-de-banho, o sítio onde caem as máscaras, porque uma pessoa ter modos de salão, mas estar de joelhos em frente a uma retrete, não é bem a mesma coisa. Achei interessante esse contraste e aquilo foi crescendo. Depois tem muitos “layers” [camadas] metafóricos.
Reformulando a pergunta: no seu primeiro livro, tinha uma personagem que passava os dias em jardins; neste, uma pessoa que não sai da casa-de-banho – parecem universos muito diferentes, mas se calhar vai dizer-me que são parecidos.
São situações parecidas, de cerco. Já não sei quem é que dizia que só há duas histórias: histórias de viagem e histórias de cerco, que são a Ilíada e a Odisseia. E que daí nascem todas as outras histórias. Na verdade, o primeiro livro, [sobre um homem que não conta à família que foi despedido e todos os dias sai de casa, de pasta, como se fosse trabalhar], embora se passe em jardins, é uma história de cerco. Este é uma história de alguém que vai sendo remetido para uma casa-de-banho, até ficar lá.
Porquê um roman à clef, como se lê na contracapa?
Roman à clef foi o editor que inventou. Porque diz ele que é um roman à clef? Primeiro, porque está escrito na primeira pessoa. Depois, porque ele próprio reconhece uma data de personagens. Até fico contente, porque quer dizer que estas personagens vivem. No primeiro romance também houve duas pessoas que me disseram, “acho que isto é sobre mim.” Todos os personagens que aí estão de alguma maneira sou eu: eu em versão parva, em versão jovem, em versão poeta. Todas eles são o autor, que vai pondo vários chapéus.
Mas não é o clássico roman à clef, em que aquelas são pessoas que realmente existem?
Claro que a pessoa se inspira em traços de pessoas com quem se cruza. Por exemplo, quando a dada altura falo na adolescência, são situações de que me lembro e com o tempo já não sei se fui eu que vivi, se me foi contado. É tudo remoído e regurgitado em forma de personagens.
Por essa lógica, o narrador é mais o Pedro Bidarra que os outros personagens?
O narrador é o único que faz reflexões. Nesse sentido, muitas das reflexões nascem da minha cabeça. Quando me perguntam se é autobiográfico, é e não é. É autobiográfico no sentido em que, se eu vivesse num universo paralelo, podia ter sido aquilo, podia ter caído num buraco negro. Se calhar ainda vou cair, não se sabe. O meu editor diz que todos os escritores, mesmo o que têm vidas mais anódinas, escrevem como se fossem eles próprios. No Anna Karenina, o Tolstói dá-nos umas secas gigantes sobre agronomia e agricultura, que eram preocupações dele. O narrador tem de ser ator também. Sinto isso. Provavelmente é uma estupidez, mas eu estou muito confortável com a minha estupidez, como se vê pelo livro.
Essa frase auto-depreciativa podia ter sido dita pelo narrador.
Podia. Está a ver? Por isso é que digo que estou muito confortável com o livro.
Tem fama de ser uma pessoa muito exigente. Preocupa-o alguém pegar no livro e dizer “isto é uma porcaria”?
Ficava envergonhado se alguém dissesse “isto está muita mal escrito”. Não estou a dizer que seja bom ou mau. Para mim é tudo mau. Só parei de costurar porque o editor a dada altura disse para parar. Por mim, continuava. Agora, a opinião sobre o assunto, não me preocupa. Claramente, é um livro que não é para os tios e as tias da cultura lerem em voz alta, porque vão ficar muito desconfortáveis a dizer algumas das palavras. Não é um romance típico do salão português, ou do cânone, como quiserem. É doutro sítio.
Referia-me ao livro como um todo. Quando lançamos uma coisa tão pessoal como um romance estamos a expor-nos.
Há uma ideia que acho que tem de estar por trás de toda a arte que é a ideia do livre arbítrio. Para que é que eu ia escrever um romance de salão português se já há milhares de pessoas a fazê-lo? “Mais um romance na tradição do…” Isso já está feito.

▲ "O país é pequeno de mais para abrigar a dissidência. Somos um país de convenções: é assim que se faz, é assim que se diz"
ANDRÉ DIAS NOBRE / OBSERVADOR
Quis ser original?
Não. Há uma metáfora no livro que tem que ver com uma manta. É o que o país muitas vezes me lembra: está toda a gente debaixo de uma manta velha, mas quentinhos. De cada vez que a manta se esburaca, remendam a manta. E ninguém vai olhar para o sol, procurar outras paisagens, outras vidas.
Ninguém sai da sua zona de conforto.
Não é muito diferente de outras áreas da produção artística no país. Até estou admirado que tenha havido gente que tenha dito, “uau, isto vale a pena ler”.
Estava à espera do quê?
De nada, de silêncio.
Porquê?
O país é pequeno de mais para abrigar a dissidência. Somos um país de convenções: é assim que se faz, é assim que se diz.
É uma característica só nossa?
Acho que é de países pequenos. A Bélgica provavelmente será assim também. São menos lugares, menos pessoas, menos hipóteses…
Toda a gente se conhece…
Toda a gente se conhece, as pessoas têm vergonha, depois não são convidadas: “agora vou lá convidar aquele porco”. É preciso não ter vergonha para a pessoa ser o que é. Não é só vergonha…
É preciso o quê?
É preciso independência. Todos os tipos de independência: psicológica, financeira…
Revê-se nessa independência?
Tento pensar o mais possível pela minha cabeça. No tempo em que fazia comunicação comercial dizia que havia quatro níveis: um é o da “convenção, convenção”, ou seja, fazer o mesmo da mesma maneira, e isso é um enjoo. Depois existe o “fazer coisas diferentes de uma maneira familiar” ou “fazer a mesma coisa de uma maneira diferente”, que já têm algum interesse. E depois há o nível acima, que é “dizer coisas novas de maneiras novas”, o nirvana da coisa. E aí há desconforto. O leitor está fora de pé, não percebe, não sabe o que há-de pensar. Não sei se serei capaz, mas é aquilo que eu gostava de fazer.
Criar desconforto?
Não. Dizer coisas novas de maneiras novas. Ou, no máximo, dizer coisas novas de maneira a que se entenda. Acrescentar qualquer coisa ao puzzle. Voltando à pergunta: “e se alguém disser que é uma porcaria?” Azar. Se calhar há pessoas que vão dizer, “uau”. Já tive ambas as reações.
“O artista”, “o poeta”: o livro está cheio de “tipos”. Somos todos “tipos”?
O livro está cheio de estereótipos. Acho que toda a gente se encaixa num sítio qualquer. E, se não, cria-se uma categoria para a encaixar. Cada vez as pessoas se encontram mais fechadas em gavetas. Isto é informação que vem do trabalho que desenvolvo com outro chapéu que é o de consultor. As pessoas vivem em túneis de realidade que são alimentados por elas próprias e por pessoas iguais a elas. Ao lado correm outros túneis de realidade paralelos. Quando alguma vez se tocam ou se encontram, acham-se todos estranhíssimos.
Está a falar das bolhas de realidade potenciadas pelas redes sociais?
Sempre houve essas bolhas, mas como as pessoas precisavam de falar umas com as outras e de se tocar… Agora, nunca se viram. Ainda assim, há pessoas que criam o seu próprio tipo, que desafiam as convenções. Não é uma coisa que na nossa cultura se faça muito, embora seja até rentável.
Como assim, rentável?
Quando se desafia uma convenção que já não funciona e se consegue substituí-la por outro comportamento, abre-se um caminho. É rentável para a sociedade. Nos negócios, é rentável para quem inventa uma coisa nova. Quando o meu antigo colega e amigo Albano Homem de Melo teve a ideia de criar o h3 e vender hambúrgueres portugueses e bons, desafiou duas ou três convenções ao mesmo tempo e foi rentável. Somos uma sociedade muito convencional, burocrática e com muito salamaleque. Desafiar essas coisas não pode fazer mal.
As pessoas gostam de dizer que esse é um retrato da sociedade portuguesa antes do 25 de Abril. Que agora já não é assim.
Eu era adolescente no 25 de Abril, portanto lembro-me do antes. E tive familiares presos, o meu pai foi interrogado várias vezes, fui visitar o meu padrinho [Nuno Teotónio Pereira] à Prisão de Caxias. Na altura era uma casa da oposição; hoje seria uma casa social-democrata. E hoje quando oiço os jornalistas a falar, a deferência, os salamaleques, sinto muito perto o ambiente, o cheiro, o som do Estado Novo. Não devia nada enfiar-me pela política adentro, mas acho que a pessoa que melhor encarna a decadência deste fim de regime é o presidente da Assembleia da República [Ferro Rodrigues]. A maneira como fala, as coisas que diz, o achar-se… E eu temo que não venha aí nada de bom…
Falando de política.
Falando de política.
Por que razão não quer ir pela política?
Porque é o tema do dia. A política, o futebol. Só falta o fado. E também há, raios…
Não faltará à política esse discurso fora da espuma dos dias?
Não consigo ver a atividade política de uma forma muito diferente da atividade empresarial. Os modos de organização, os tiques, as dinâmicas, são iguais numa grande empresa de telecomunicações e num partido. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, nunca a incerteza – e a incerteza é a incapacidade de planear – tinha sido tão alta como no final de 2019. Isto antes da pandemia. Neste momento, é como se houvesse duas forças: pessoas que querem fazer, mas não conseguem planear, e muitas outras a ir ao passado à procura de soluções que não funcionam, mas que são tão convencionais que parecem edifícios seguros. Não são. É tudo pensamento bolorento, que aparece outra vez como salvífico. É muito deprimente. Por isso é que não gosto de falar de política. E nas organizações a mesma coisa. Vê-se pela maneira como a maior parte dos anunciantes fala, como se estivéssemos a viver há 10 anos. Há um completo desinteresse pelo “zeitgeist”, o espírito do tempo.

▲ "Da minha experiência, não há festa maior que uma revolução. Pode ser uma desgraça, mas é uma festa"
ANDRÉ DIAS NOBRE / OBSERVADOR
Na publicidade, a justificação mais repetida é que deixou de haver dinheiro.
Deixou de haver dinheiro para quê, para entender o mundo? Parece que o mundo está dividido entre papagaios e avestruzes. Uns só repetem as mesmas coisas e outros enfiam a cabeça na areia.
Antes não era assim?
Não sei se está pior, ou se é por estarmos a fazer esta entrevista em dezembro, numa altura em que os dias são mais pequenos e as neuras e as melancolias assentam melhor com as nuvens escuras.
Pegando nesse negrume, este também é um livro…
Preto.
O protagonista é um misantropo, alguém que de vez em quando suspira pelo passado e por alguns ideais, mas que tem dificuldade em gerir a forma como as coisas evoluíram. Sente-se uma amargura resignada.
É um cínico. Tentei… É a história do buraco negro: a gravidade do sítio para onde ele vai é tão grande que ele só consegue ver fragmentos daquilo que está à volta dele. E cada personagem que ele encontra – porque no limite toda a gente que ali passa está no mesmo vórtex – caminha para o mesmo lugar.
Porquê uma festa?
Não sei. Não faço muita análise à coisa.
Esta festa será uma metáfora da nossa sociedade.
Da nossa terrinha.
É uma ficção de certa forma anacrónica, porque sai numa altura em que por causa da pandemia as festas acabaram. Como vê esta sociedade sem festa?
A festa há-de voltar porque é da natureza humana. Nós mudámos muito pouco enquanto seres biológicos e sociais. Muitos amigos meus continuaram a festa durante o verão. Estão todos “de covid”, mas continuaram. A festa é necessária, sobretudo em certas alturas da vida em que a socialização é mais importante. Consigo lembrar-me de certos rubores e exaltações que agora não sou capaz de ter. Vou ter para quê? Been there, done that.
O envelhecimento é um dos temas do livro. É possível lidar bem com o envelhecimento?
Deve ser. Deve haver quem lide. O tempo é outra das coisas que tentei trabalhar de uma maneira não linear. O protagonista começa jovem e acaba velho. São 40 anos de festa ali resumidos em 170 páginas. Não é a mesma festa a que começa e a que acaba. A pergunta era?
Perguntava-lhe sobre o envelhecimento. Interpretei de uma maneira diferente, como a história de alguém que se recusa a deixar uma festa que se calhar já não é para ele.
Consigo encontrar vários “layers” de leitura. Não sei se toda a gente conseguirá. Há quem leia e só veja cocaína. Este é um romance pré-pandémico mas de fim de festa. Se pensar, os últimos dirigentes deste país foram todos adolescentes no 25 de Abril. E eu digo-lhe, da minha experiência, não há festa maior que uma revolução. Pode ser uma desgraça, mas é uma festa. Foi um período de imenso otimismo, em que todos tivemos sonhos de deixar de ser um “país de leste”. Isto foi melhorando numa grande galhofa e agora chegámos aqui.
E a visão que aparece no livro sobre a nova geração não é a melhor.
Ainda estou para descobrir alguém velho – talvez o meu pai, que era muito boa pessoa – que consiga ter um olhar de admiração pelos novos. É quase uma impossibilidade biológica. Ternura, sim. Agora, admiração intelectual? Para resolver problemas, para ter ideias, a gente precisa de um tipo de informação que vem nos livros e precisa de uma informação que vem da vida. Quando chegamos ali aos 30 anos, ainda não sabemos tudo, mas temos uma grande energia vital, uma frescura maravilhosa, que nos ajuda a forçar atalhos e leva a novas maneiras de ver. A maior parte dos grandes descobridores são dessa idade.
E isso não é digno de admiração?
É digno de admiração. Estou a falar dos génios. Por cada um destes, há milhares de otários a repetir os mesmos erros dos mais velhos. Com a idade ganha-se conhecimento e experiência de vida e perde-se a frescura de olhar de novo, que é uma coisa que é preciso manter. Ganha-se alguma sobranceria e também alguma condescendência com os otários que erram, erram.
Está mais sobranceiro com a idade?
Não. Não sei. Não faço ideia. Já lhe disse que sou psicólogo, não faço autoanálise. Deixei a psicologia muito novo porque não sou dado a introspeções, a não ser aquelas que uso para a ficção. Para mim próprio, andar aqui em loops é perder tempo.
Portanto, apesar de ter estudado psicologia, não é dado à psicoanálise, à psicoterapia…?
Não. Aprendi a fazer na faculdade, ainda fui psicoterapeuta, mas aquilo não era para mim. Viver empaticamente a desgraça alheia não era para mim.
Voltando ao livro, cresceu no bairro dos Olivais, o Nuno Teotónio Pereira, seu padrinho, foi um dos arquitetos dos Olivais, e o seu protagonista também é dos Olivais.
Uma pessoa tem de escrever sobre o que conhece. E é um bairro que representa muito esta evolução de que falo. Foi uma coisa criada do zero nos anos 1960. Foi também uma experiência sociológica muito interessante. Misturaram classes sociais. Na praceta onde morava, que tinha um lago e um campo de jogos e um ringue de patinagem, havia um prédio que era só classe média-alta, com médicos e mais não sei quê, outro de classe média normalita, que era onde eu morava, um de operários e outro de funcionários públicos. Normalmente os pais não se davam, mas os putos brincavam juntos. A ideia era que a mistura fizesse com que os que tinham menos possibilidades tivessem mais. Pela minha experiência, foram as classes mais altas que desceram. Porque aos 10 anos já todos sabíamos roubar carros e fazer tudo o que era disparate.
Não lhe foi útil na vida?
Foi útil porque é sempre bom conhecer novas realidades. Cada um saía da sua bolha e partilhava a bolha com os outros. Hoje dou-me com as memórias destas pessoas. Estávamos a falar de envelhecer. A maneira de ser mais velho e continuar ativo e criativo é ver coisas novas, passar por experiências novas, arranjar desafios novos.
Faz esse esforço?
Então não faço? Despedi-me em 2011 e quis começar uma vida nova porque been there done that. Queria dedicar-me a ser criativo doutra maneira, que não comercialmente, ser criativo sem lucro, que é o que se faz quando se escreve.
É um luxo também.
É um luxo, quando se pode. É uma miséria.

▲ "Hoje [a publicidade] não tem graça nenhuma. Lá está, não há dinheiro. E quando se corta, a primeira coisa em que se corta é no talento. Igualzinho ao que aconteceu nos jornais"
ANDRÉ DIAS NOBRE / OBSERVADOR
É um luxo ter podido tomar essa decisão.
Bem me saiu do pelo. Fez-me trabalhar muito, muito, muito até ficar muitas vezes maluquinho. Triste é haver autores que não conseguem fazer disso uma vida. Mas é um problema de escala. Um romance alternativo, num país de 50 milhões de pessoas, tem ali uma data de alternativos a quererem comprar. Aqui só vende o romance de salão português ou o romance de locutor de televisão.
Tem saudades do tempo da publicidade?
Não. É como lhe disse, já lá estive, já fiz. Foi muito bom, muito intenso, muita galhofa. Mas são tempos que já lá vão.
Quando vinha para cá, perguntei ao editor de cultura do Observador se havia alguma coisa que ele quisesse perguntar-lhe. E ele disse que o mundo da publicidade lhe parecia fascinante, que queria muito saber se era mesmo assim.
É como o mundo dos filmes, não é? Ouça, a maior parte das coisas não tem nada de fascinante. É um mundo que cria imagens fascinantes. Narrativas fascinantes. Hoje não tem graça nenhuma. Lá está, não há dinheiro. E quando se corta, a primeira coisa em que se corta é no talento. Igualzinho ao que aconteceu nos jornais. Pessoas muito espertas e muito boas e muito bem formadas começam a rarear. Porque os putos percebem que nem nos jornais nem na publicidade há qualquer futuro profissional. “O quê, pagam-me isto? Não vou conseguir ter uma casa, uma vida.” Sinto que se tivesse sido jovem hoje, não era publicidade que ia fazer. Também não sei o que seria.
É um problema incontornável ou que tem, de novo, a ver connosco?
Há 20 anos, dizia-se que os anunciantes sabiam que 50 por cento do dinheiro que investiam em publicidade era desperdício mas, como não sabiam qual dos 50 por cento era, tinham de pôr os 100 por cento. Sabia-se que as coisas funcionavam, mas havia uma dimensão mágica, uma caixa negra. Por outro lado, chegávamos ao local de trabalho e todos tínhamos visto a mesma coisa na véspera. Hoje, com a dispersão de meios, ou estamos no mesmo túnel de realidade ou está aqui um gajo ao lado que nem sabe do que estamos a falar. Fica muito difícil chegar às pessoas. Quem é que lucra com isto? A Google, a Amazon, o algoritmo. Os anunciantes estão convencidíssimos que vão chegar ao consumidor final na altura em que ele ainda não sabe do que precisa. Estão enganados. O dinheiro não desaparece; só muda de bolsos. Qualquer puto esperto hoje vai pensar, “eu quero ser programador, quero escrever código, quero ir para Silicon Valley”.
Então e quando ainda havia dinheiro?
Era muito divertido. Lembro-me de estar em Paris com um diretor criativo americano que depois foi preso por assédio e de ele dizer, “que sorte que temos. Em que outro sítio te pagam para fazeres aquilo que te dá na cabeça?” Ao que acrescentou, “os meus amigos que fazem aquilo que lhes dá na cabeça estão todos presos”. Era o fascínio da indústria. Pagavam e bem para pensar e ter ideias. Claro que depois era muito competitivo e cansativo. Muita gente tentou e foi-se embora a dizer que era tudo uns parvos e umas bestas.
Por falar nisso, tem fama de ter mau feitio. É imagem de marca?
O que quer que lhe diga? Já disse que não queria interpretar o meu próprio livro, agora interpretar o meu carácter… Não sei se tenho. Toda a gente tem. Até a Madre Teresa tinha mau feitio.
O que é então ter mau feitio?
É o pecado da ira. A maior parte das pessoas que conheci em situações de responsabilidade e chefia tem mau feitio, ou ataques de ira ou de fúria, porque as coisas não estão a ser feitas de acordo com o combinado. Quantos chefes de redação nos velhos tempos dos jornais tinham mau feitio? Tem de se pôr uma data de gente, cada um com a mania que é autor, a fazer aquilo que é preciso.
Agora já não está nesse mundo. Já não se enfurece?
Não. Nem com o cão.
Chateia-o que as pessoas ainda venham ter consigo para falar da sua vida enquanto publicitário? Já o vi lamentar em mais de uma entrevista o facto de quase não lhe fazerem perguntas sobre os livros.
Não me chateia nada explicar as coisas que sei sobre a indústria, agora estar a falar sobre coisas que eu fiz, factos do passado… Eu saí desse mundo porque precisava de olhar de novo para o mundo, arranjar interesses novos. Estar sempre a ser puxado para trás é levar com o rótulo do gajo que nunca vai poder ser outra coisa. Como se dissessem, “Isto é um livro de um publicitário.” Não, é o livro do Pedro, que foi pianista, e depois foi psicólogo e…
Gostava que daqui a uns anos o atributo de ficcionista fosse o primeiro de que as pessoas se lembram quando falam de si?
Não, não. Se há atributo de que me lembro é que tenho sido sempre autor: da minha vida, de livros, de anúncios.
Usa muito a imagem dos chapéus. Se tirarmos os chapéus todos, o que se vê é o autor?
É. Não sou um copiador.
O que é que o motiva neste momento?
É fazer outro livro.
Uma curiosidade: porquê a insistência em dizer “duas gramas de coca” (em vez de “dois gramas”) na primeira página do livro, que depois corrige no final?
É uma brincadeira. É assim que um gajo pede ao dealer, “traz-me aí duas gramas”. A revisora viu e disse, “não é duas; é dois gramas”. Pode até ser, mas não é assim que as pessoas pedem. E a revisora, “podemos passar para três, porque três dá para os dois lados.” E eu, “Eh pá, não me lixem.” E de repente pus o dealer, que é o gajo que vem do gueto, a dar uma lição de português. E ela ficou muito contente. E eu disse-lhe, “agora voltas a pôr ‘duas gramas’ ao princípio, se faz favor, que é assim que nós dizemos quando falamos com o dealer.”


















