Índice
Índice
“A vida, hoje”
“Muitas vezes, as pessoas perguntam o que ando a fotografar. É uma pergunta de difícil resposta,” explica William Eggleston (n. 1939, Memphis) num documentário (William Eggleston: Photographer, Reiner Holzemer, 2008; no YouTube pode ser vista uma versão para a BBC). A dificuldade reside, em parte, na inteligibilidade das acções do fotógrafo para si mesmo; e, em parte, na inteligibilidade, para terceiros, quer das suas acções, quer da maneira como as descreve. “O melhor que me ocorre até ao presente é eu dizer simplesmente: «A vida, hoje. [Segue-se uma longa pausa, interrompida com um sorriso:] Não sei acreditam ou não em mim, ou o que significa isso.»”
Outro documentário (William Eggleston in the real world, Michael Almereyda, 2005) descreve esta dificuldade com eloquência. Visto em acção os movimentos de Eggleston chegam a parecer sem sentido — pelo menos, a não fotógrafos. O documentário “abre com um plano do fotógrafo a vaguear por uma rua sem especial interesse, um pouco encurvado, de câmara na mão, olhando, olhando”, lembra David Campany num ensaio. “Fachadas de lojas. Janelas. Letreiros. Tijolo. Árvores. Lixo. Ele pára, recomeça, detém-se, recua dois passos, tira uma fotografia, avança e repete. Quando mais a cena se prolonga mais precariamente se equilibra, Beckettiana, entre o profundo e o absurdo. Cada movimento deste homem curioso e infatigável diz que ele anda a fazer a mesma coisa há décadas” (Mr. Eggleston, have we met before? Source N. 61, 2010) É bem possível que “a vida, hoje” seja de facto a única resposta infalível. Em todo o caso, é uma resposta tão geral que não deixa de parecer insuficiente, ou evasiva.
Por volta de 1970, Eggleston deu a Walter Hopps, então director da Washington Gallery of Modern Art, uma resposta um pouco diferente. Acabara de lhe dar a conhecer uma parte das imagens que vieram a dar origem à obra-prima de John Szarkowski, William Eggleston’s Guide (MoMA, 1976). (Eram ainda impressões cromogénicas em 8×10 e não as impressões mais vívidas por transferência de tinta, ou dye-transfer, pelas quais Eggleston veio a ficar famoso.) Hopps nunca tinha visto nada assim. Perguntou, curioso: “Como descreverias o que estás a fazer?” Eggleston respondeu: “Acho que estou a trabalhar num romance.” (0:50′)
O apelo à forma do romance, se é que existe “a forma do romance”, tinha tanto de desconcertante quanto de revelador. Se é verdade que cada romance deve ter uma forma, essa forma (possivelmente, uma ilusão) é a da percepção de que uma vida e vidas ligadas têm uma forma. Nos anos 1960 e 1970, o trabalho de Eggleston era indissociável de um sentido de pertença e de lugar, como perceberam Szarkowski e, mais tarde, Eudora Welty. São imagens em torno de Memphis e do Tennessee, e de pessoas próximas em círculos privados, no fundo, imagens de uma vida e de um certo modo de vida. “Enquanto imagens”, declarou Szarkowski em 76, “parecem-me perfeitas: substitutos irredutíveis da experiência que procuram registar, análogos visuais para a qualidade de uma vida, tomadas em conjunto, um paradigma de uma visão privada, uma visão que consideraríamos inefável, aqui descrita com clareza, plenitude, e elegância.” Guide, p.14.)
Fotografar sem projecto
A par do aparecimento de uma visão robusta, de uma mundividência, essa primeira grande fase mostra ainda a descoberta daquilo a que para abreviar chamam uma “linguagem”. Essa descoberta parece ter-se sobreposto gradualmente ao que houvesse de implicitamente narrativo no trabalho de Eggleston. Não me refiro ao gesto (pioneiro, em arte) de fotografar a cores, ou ao recurso ao dye-tranfer como processo de eleição, ou à composição em cruz, centrífuga, alegadamente baseada na estrutura da bandeira confederada; mas a um entendimento, por assim dizer, polifónico de cada imagem.
Há nas imagens de William Eggleston um modo de harmonia nunca levado a sério pelos seus detractores, que continuam a vê-las (se se chama a isso “vê-las”) como snapshots. Tal harmonia depende da relação entre o conteúdo e a felicidade da organização relativa de mais do que um elemento: a luz, as linhas, a volumetria, as cores, as superfícies, os corpos, as expressões, os contextos; é uma arquitectura de particulares. (A sua grande referência é, como se sabe, Johann Sebastian Bach.) “Ou tudo funciona, ou nada funciona”, disse recentemente a John Jeremiah Sullivan (Listening for Eggleston, Aperture 224, p.32), num artigo onde surge fotografado por Stefan Ruiz ao piano, um Bösendorfer preto (“«O preferido de Chopin», disse ele”).
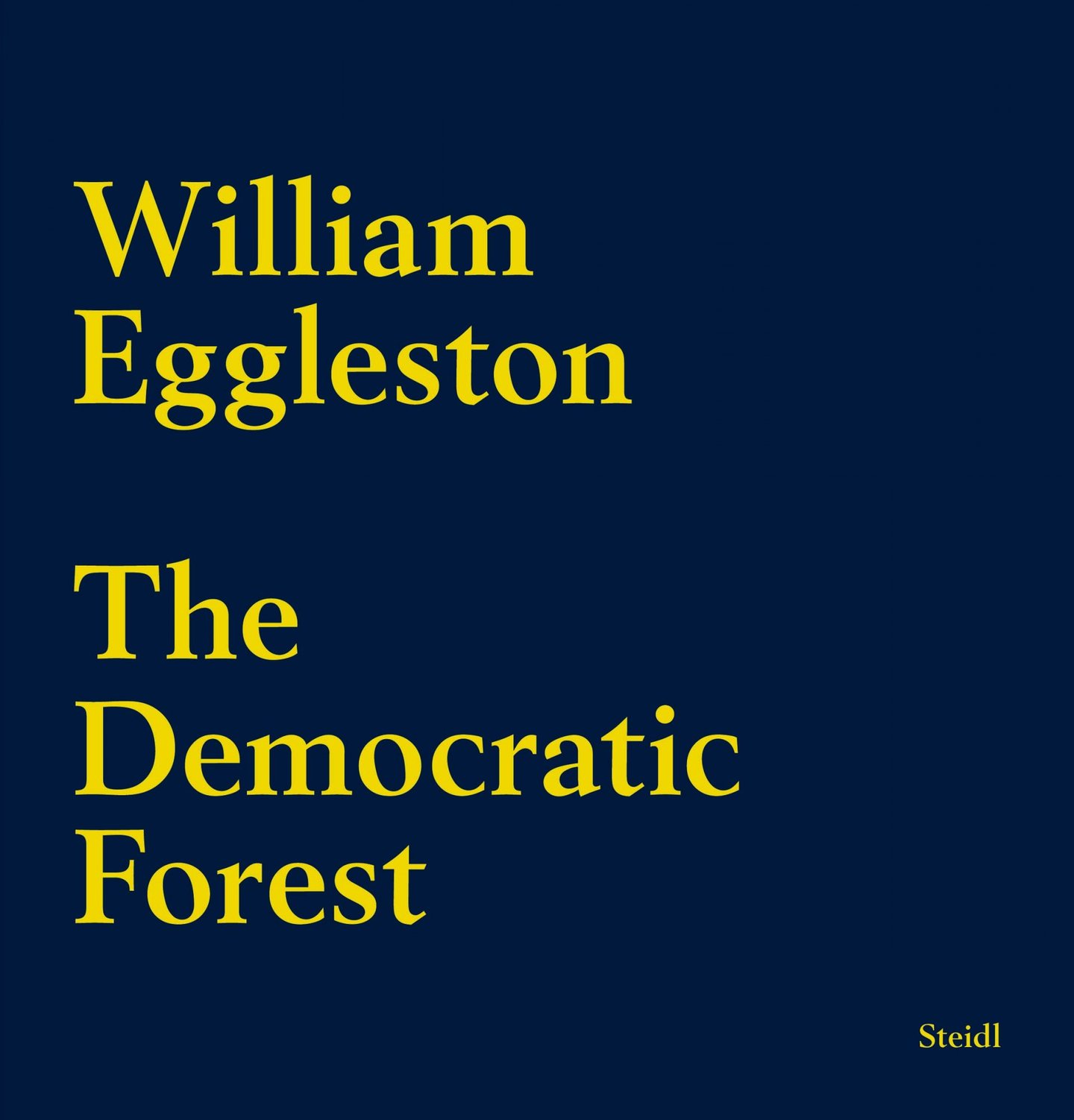
A nova edição da Steidl de “The Democratic Forest”
Ao longo dos anos, o interesse de Eggleston por este modo de harmonia parece-me ganhar prioridade sobre toda e qualquer inclinação narrativa — esta sendo, afinal, uma questão de arrumação que, como todas as outras questões de arrumação, parece ter vindo a delegar a terceiros. Apetece dizer que a dada altura Eggleston acabou por desistir do romance, para se limitar a olhar para “a vida, hoje”. Mas, voltando um pouco atrás, esta resposta não nos deixa inteiramente satisfeitos.
A “a vida, hoje” é uma superfície informe, excessiva, mesmo asfixiante, cheia de irregularidades, contravoltas, incoerências, lacunas. Como fazer sentido do arbitrário indomesticável? Existem no mundo, por hipótese, dois géneros de fotógrafos. Existem aqueles para os quais a pergunta “o que andas a fotografar?” não levanta grandes problemas; e aqueles que passam a vida inteira sem encontrar uma resposta conclusiva. Escusado será dizer que a unidade e a inteligibilidade são tanto uma questão de sentido como um problema de dinheiro.
Muitos dos últimos acabam por organizar o seu trabalho em torno de um dado spiel. Num sem-número de casos, os projectos passaram aliás a preceder a própria fotografia — o que outros fotógrafos (de facto, cada vez menos, e cada vez mais velhos) vêem com cepticismo, e pena. A diferença entre uns e outros não pode ser estabelecida por juízos de valor. Apenas, para estes últimos nada de duradouro aparece senão in medias res, ou mesmo ex post facto, ou seja, organicamente, retroactivamente, da própria vida. Ansiedades críticas que surgem no contexto de discussões sobre literatura (o pudor de mostrar a própria vida, a legitimação da autoficção, etc.) simplesmente não se colocam na história da fotografia, muito menos na fotografia contemporânea; ainda que exista, tal como na literatura, uma constante nostalgia da unidade e da inteligibilidade.
A “Floresta Democrática”
Pode ser que haja porém, entre os fotógrafos sem resposta para a pergunta “o que andas a fotografar?”, alguns nos quais a perplexidade dessa pergunta não desperta a menor ansiedade a respeito de nenhuma daquelas coisas. William Eggleston, ao qual inteligibilidade e finanças parecem nunca ter dado muitas dores de cabeça, pertence porventura a este grupo. Talvez não tenha sido sempre assim. Parece ter havido uma viragem em meados dos anos 1980. Cerca de 1986, num jantar, ou talvez num bar de hotel em Oxford, Mississippi, perguntaram-lhe: “Que andaste a fotografar por estas bandas, Eggleston?” Então, com a fleuma gnómica que o caracteriza, deu uma resposta que ficou na história da fotografia. Respondeu que passara o dia “a fotografar democraticamente:”
“Mas tiraste fotografias de quê?”
“Andei lá fora, em lado nenhum, no nada.”
“Que queres dizer com isso?”
“Bom, só floresta e terreno, um pouco de asfalto aqui e acolá.”
“Estava a tratar as coisas democraticamente”, explica Eggleston numa conversa com Mark Holborn que serve de posfácio ao livro de 1989 The Democratic Forest, assim como à sua recente reedição (de facto: reinvenção) pela Steidl, que, na sequência de Chromes (2011) e de Los Alamos Revisited (2012), retomou há meses a sua grande revisão da obra completa do fotógrafo. Eggleston explica de seguida que a descoberta da ideia de “fotografar democraticamente” significou para si o que a noção de “instante decisivo” havia significado para Henri-Cartier Bresson. “De então em diante tudo daquelas caixas de milhares de ampliações fez pela primeira vez sentido de um modo coerente”: tudo passou a estar “unificado pela democracia”; ou “pelo menos tinha encontrado um amigo nesse título” (The Democratic Forest, Steild, 2015, p. 164). Sob esta descrição, a unidade deixa de ser derivada do reconhecimento de propriedades comuns nos assuntos e objectos fotografados, ou da tentativa de estabelecer relações entre imagens de acordo com um dado discurso unificador; a unidade é derivada antes da maneira como tais assuntos são fotografados. Seja como for, o que significa “fotografar democraticamente”?
Talvez isso signifique fotografar com um espírito igualitário a respeito da mobília do mundo, tratando sem diferença pessoas, animais, janelas, fachadas, letreiros, árvores, lixo, um pouco de asfalto, aqui e acolá, procurando um mesmo modo de harmonia sem olhar a distinções extra-fotográficas quanto ao que pode, deve ou merece ir parar a uma fotografia. “Disto fez Eggleston um monumento”, considera Mark Holborn na Introdução: “Pôs-se a caminho com uma mala cheia de câmaras, aparentemente sem se sentir intimidado pela possibilidade de tudo quanto cruzasse a sua vista ser um assunto fotografável, assim fosse capaz de lhe aplicar a linguagem necessária para o conter.” (p. 7) Num sentido, Holborn pretende sugerir que este livro documenta um atingir da maturidade:
“A capacidade de ser descritivo e abstracto é inerente a qualquer fotografia, mas Eggleston parecia estar a explorar esta dualidade de maneira implacável e talvez mesmo inconsciente. […] ao longo dos anos oitenta, é como se tivesse sido visualmente reprogramado. A sua linguagem, ainda que se verifique um frequente refinamento, estava completamente estabelecida. A sua complexificação e a sua sobreposição de camadas apenas aumentou. Aquilo que distinguia a ‘floresta’ eram os seus assuntos e a escala à qual Eggleston criara uma epopeia americana.” (Idem)
Se isto significa ‘fotografar democraticamente’ é uma outra questão. O crítico Jörg M. Colberg, para o qual The Democratic Forest é “essencialmente um American Photographs Redux [refere-se a American Photographs de Walker Evans], ainda que numa forma amplificada e garrida”, questionou a noção de democracia implicada:
“Não creio que Eggleston tenha fotografado democraticamente, exercitando as suas câmaras de igual maneira em relação a tudo e mais alguma coisa. Vemos antes um fotógrafo muito familiarizado com a história do seu meio, recuperando (…) abordagens usadas por aqueles que o precederam. Walker Evans já usara uma democracia visual muito semelhante (basta passar os olhos por American Photographs), e há certamente ecos de gente como Stephen Shore ou Lee Friedlander, para mencionar apenas dois outros fotógrafos. Isto de maneira alguma diminui o triunfo de Eggleston. Apenas, situa-o num contexto adequado. (…) Para além destas ligações, poderíamos notar, por exemplo, a ausência de pessoas na maior parte destas imagens (ao contrário do livro de Evans). É apenas um exemplo, esta curiosa exclusão de pessoas. E por falar na inclusão do que é fotografado, podemos dizer que, simplesmente por via das decisões que tomou, por via de fotografar isto e não aquilo, Eggleston estava a impôr uma hierarquia, a determinar o que as pessoas podem ver (e o que não podem ver). Isto simplesmente não é democrático. A arte não é democrática (e é isso que a torna maravilhosa).”
A crítica
Convém entender as palavras de Colberg no contexto do posicionamento da crítica em relação à obra de William Eggleston. É bem conhecido o repúdio suscitado (em especial, nos círculos nova-iorquinos, como lembra John Jeremiah Sullivan) pela exposição curada por Szarkowski no MoMA, em 1976, William Eggleston’s Guide. Treze anos depois da exposição, a percepção do Guide tinha mudado muito; mas, ironicamente, por essa mesma razão, a primeira versão de The Democratic Forest (editada igualmente por Holborn, com o mesmo prefácio — magnífico — de Eudora Welty) não arrebatou muitas almas.
À excepção de Jackie Onassis, que comprou vinte mil cópias à cabeça, e apesar da anuência de Szarkowki, o livro de 1989 foi recebido com condescendência e, sejamos francos, continua a ser mal amado. (Eis uma das justificações para o presente makeover.) Uma explicação rápida para tal é a de que ainda não estávamos preparados para um Eggleston não Szarkowskiano; e é muito provável que nalguns quadrantes o Eggleston de Holborn continue a não chegar aos seus (de Szarkowski) calcanhares.
Apesar disso, gerou-se em torno de Eggleston nas últimas décadas, além de um ambiente aclamatório, toda uma mitologia. A isso de deve, em parte, uma nova estirpe de anticorpos. Confusamente imitável e profusamente imitado, persiste a respeito do seu estilo, e quem sabe a respeito da sua estatura, um certo espectro de cepticismo. Alguns fotógrafos levam a peito que outros fotógrafos, quase sempre mais jovens, aspirem a fotografar como [entoação sardónica] o grande William Eggleston. Nunca é claro se esta é uma questão fotográfica ou uma questão de ciúme. (Verdade seja dita que não parecem ser um nem dois os fotógrafos já deste milénio que, para fazerem o seu nome, precisaram de começar por libertar-se do fascínio por Eggleston. Alec Soth [n. 1969] fala um pouco sobre a importância deste fascínio num episódio recente de The Halftone.) Voltando um pouco atrás, ainda que, de maneira geral, a estatura de William Eggleston tenha deixado de ser questionada, os críticos inclinam-se, à semelhança de Colberg, a expressar a sua admiração de uma maneira cautelosa. (Assim se compreende o esclarecimento desnecessário de que um crítico não deve incorrer no pecado da hagiografia.)
Enquanto Egglestoniano professo, vejo-me forçado admitir que Colberg está coberto de razão ao advertir-nos de que devemos receber Eggleston não pela reputação que o precede, mas pela qualidade da sua fotografia e, em particular, pela qualidade das suas obras. Devo também conceder que, de certo ponto de vista, a qualidade dos dez volumes que compõem a actual — e, de facto, incomparavelmente ambiciosa — versão de The Democratic Forest é porventura desigual. É possível que algumas (quem sabe, muitas) imagens devessem ter ficado de fora; e talvez algumas repetições (imagens da mesma situação capturadas de ângulos ligeiramente diferentes ou em momentos distintos) pudessem ter sido evitadas.
De certo modo, esta linha de críticas visam menos a figura do artista que a figura do editor, sendo, por isso mesmo, uma forma evitável de ingratidão. Não é, a meu ver, evidente que The Democratic Forest deva porém ser julgado enquanto fotolivro, quer no seu todo como nas suas partes. Há na realidade algo de fundamentalmente incompatível entre a forma do livro e a indiferença de William Eggleston pela unidade e a inteligibilidade. Aquilo que prende as imagens entre si não são necessariamente rimas, relações visuais, ou uma narrativa coesa: não existe qualquer estrutura unificadora além da visão (e da “linguagem”) de Eggleston.
A edição da Steidl
Além disso, há uma subtileza calada nas escolhas editoriais que acabámos de questionar. Por um lado, a inclusão de imagens menos conseguidas, ou antes menos exemplificativas do fotógrafo no seu melhor, acaba por ser um análogo performativo de um moroso — e quase completamente frustrante — processo fotográfico: afirma a aceitação realista de que nem todos os dias são inspirados. É certo que revela um Eggleston (ainda) mais mundano e por vezes falho de ideias, admissão que não deixa de ser sábia e tocante num fotógrafo a entrar na casa dos oitenta.
“A divisão (…) em dez volumes é uma construção editorial”, explica Holborn na introdução: “Eggleston nunca concebeu nada senão um mar de imagens” (vol. 1, p.7; itálico meu). Tendo partido de um corpo de trabalho com mais de 12 mil fotografias, uma edição mais parcimoniosa falharia em preservar este curioso efeito de um mar de imagens, no qual por vezes se perde momentaneamente os pontos de referência. (Tal como numa ‘floresta’.) Por outro lado, a repetição de imagens tem, a meu ver, uma função — ou pelo menos uma consequência — desmistificadora.
Eggleston lançou famosamente o boato de que nunca tira duas vezes a mesma fotografia, para evitar os problemas que isso lhe causa, mais tarde, ao ter fazer uma escolha. A presente versão (apetece dizer: a verdadeira) de The Democratic Forest mostra não apenas as imagens e os avanços de um segundo grande período, e os picos de concentração a ele associados, mas também certos instantes de dúvida, o olhar cansado, e um género de brilho da concentração associada ao extenuamento. As imagens não vêm legendadas, mas é fácil imaginar que alguns dos triunfos da ‘Floresta’ tenham surgido quando já se menos esperava, quando o dia já estava dado por terminado.
A organização em dez volumes divide-se tematicamente e geograficamente (1. The Louisiana Project; 2. The Language; 3. Dallas. Oil. Miami; 4. Pittsburgh; 5. Berlin; 6. The Pastoral; 7. The Interior; 8. The Surface; 9. The Forest; 10. The Finale), em paralelo com um percurso biográfico e de refinamento fotográfico, digamos assim. Mark Holborn apresenta The Democratic Forest como uma epopeia americana e, pelo menos disso, estão de acordo, Colberg e ele. Aquilo a que o critério largo de Holborn nos dá acesso é visto pelo segundo como “tão hipnotizante e fascinante e belo e enervante e gratuito e obsceno e sem remédio quanto o país que retrata, o país com que nos confronta. Talvez este seja o seu grande triunfo, já que, embora seja bom ver livros resolvidos, pode ser que algumas coisas sejam simplesmente demasiado complexas para terem solução”.
Esta vocação épica posiciona William Eggleston num conjunto restrito de lendas, algumas delas vivas, como Evans, Frank, Friedlander e (pelo menos num nível superficial) Shore. (De passagem, as afinidades entre Eggleston e Shore são sobretudo geracionais e de superfície. Salvo em American Surfaces, a complexidade de cujas imagens nunca se compara com a das imagens da ‘Floresta’, o trabalho de Stephen Shore, aliás em grande formato, sugere um temperamento e propósitos de índole muito distinta. Existe nele uma frieza e um espírito de missão totalmente ausentes em Eggleston. A missão de Shore ficou concluída no começo dos anos 1980, ao resolver todos os problemas técnicos a que se tinha proposto. O seu trabalho posterior, embora admirável, perde uma certa vitalidade. Já para Eggleston não havia quaisquer problemas por resolver, e missão alguma além de ser William Eggleston todos os dias: apenas, um interesse por reencontrar uma harmonia no desirmanado; e esse interesse é que não tem solução.)
Em vez de ‘A Floresta Democrática’, ou mesmo de ‘A Vida, Hoje’, pode ser que o melhor título para este último (?) monumento fosse não haver título de todo — ou indicar apenas, com um leve gesto de mão, ‘William Eggleston’. Claro está que isto não seria bem compreendido. O grande Lee Friedlander e Richard Benson (fotógrafo, editor, impressor e professor emérito de Yale) lamentaram uma vez que os jovens fotógrafos tenham passado a acreditar que para fotografar é necessário ter um projecto. “Isto é muito esquisito,” comentou Benson: “É como se aquilo em que estão interessados fosse uma certa ideia acerca do que vão fazer, e não aquilo que fazem.”
Friedlander e Benson advertem-nos aqui contra o perigo de os jovens artistas se deixarem transformar prematuramente no seu próprio discurso. Talvez pressintam algo de timorato e inautêntico na fotografia contemporânea. Embora uma enorme vaga de imitadores leve a que não pareça, The Democratic Forest está nos antípodas da fotografia feita hoje. Documenta uma vida sem medo da inteligibilidade. Se eu fosse um pessimista poderia concluir afirmando que The Democratic Forest ficará na história da fotografia como o último grande monumento a um certo modo de fotografar — o de navegar à vista sem entrar em pânico. Mas não creio que essa atitude tenha morrido: a arte é que anda distraída.
















