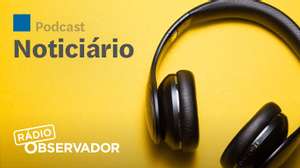Vejo-me como um não crente, mas um não crente que procura um significado, um sentido. Talvez seja um ateu à procura de Deus. Sempre que posso, e aos fins de semana nunca falha, gosto de tomar o pequeno-almoço em casa. Com alguma liturgia faço um sumo de toranja, ponho a cafeteira do café na placa de vitrocerâmica e aguardo. Quando a placa atinge 200 graus Celsius forma-se uma coluna de vapor que se intensifica à medida que a cafeteira aquece. A água entra naquele sistema no estado líquido mas com a energia da placa em poucos segundos acelera a sua transição para o estado gasoso.
À medida que a cafeteira aquece a emissão de vapor intensifica-se e quando atinge os 100º C, as moléculas de água têm então a energia suficiente para completarem a transição. A esta temperatura forma-se uma coluna de vapor que sobe numa homogeneidade que rapidamente se desfaz num turbilhão caótico , um fenómeno semelhante ao “efeito borboleta” de Edward Lorenz.
A coluna de vapor eleva-se em espiral e no meio de um caos, acaba por se desfazer alguns centímetros acima. Nunca medi a temperatura, mas o passar da mão é suficiente para reconhecer que vinte, trinta centímetros acima a temperatura é bastante inferior aos 100ºC na evaporação. E aqui reside a minha interrogação. Se a energia fornecida resultou na evaporação, por que é que com a perda de calor o processo não se inverte e chove na minha cozinha?
Dir-me-ão que as condições de evaporação e condensação são diferentes, que a condensação depende da temperatura, da pressão atmosférica, da humidade, da presença de núcleos de condensação, dos movimentos do ar, do contacto com superfícies frias e de outras alterações da composição do ar, e que enquanto estas condições influenciam a condensação, outras com que não vos vou maçar, determinam a evaporação. Contudo, e ainda que alguns se sintam confortáveis com a explicação, esta apenas se associa a um comportamento descrevendo-o.
Se aprofundássemos mais a nossa curiosidade e questionássemos por que têm as moléculas de água um comportamento diferente para evaporação e condensação, encontraríamos a resposta nas características físico-químicas da água, na polaridade das moléculas, nas pontes de hidrogénio, na sua densidade, na quantidade de energia necessária à vaporização, na capacidade em absorver calor e na sua volatilidade. Tudo características das moléculas de água que justificam que o comportamento durante a evaporação e a condensação seja diferente. Contudo, e apesar das explicações que vou acumulando sobre o assunto, elas não o encerram definitivamente. Em cima de cada resposta há sempre novas questões que surgem na sequência das respostas anteriores. Tudo decorre num infindável jogo que assim visto retém algo de infantil.
Apesar das minhas interrogações as respostas que encontro devem estar corretas, pois efectivamente já terminei o pequeno-almoço e das tais ameaçadoras nuvens, nem vê-las! Noto apenas algumas gotículas de água nas superfícies, mas nada de chuva!
As justificações que elenquei são suficientes para prever que ao fazer café não corro o risco de provocar uma tempestade, mas ainda que permitam descrever a realidade à escala da minha cozinha estão longe de conter uma compreensão absoluta da realidade. Falta-me sempre algo. Falta-me o sentido das coisas, ou talvez elas sejam destituídas de sentido, quem sabe?
Por muito que a ciência avance e forneça explicações, elas são uma descrição que raramente encerra o conhecimento. Quando Lord Kelvin em finais do século XIX afirmou que a física tinha atingido um ponto onde mais nada de relevante haveria por descobrir, manifestou uma arrogância desmentida em menos de duas décadas, mas mesmo para a sua época, revelou também grande ignorância quanto à epistemologia do conhecimento.
Quando me questiono, por que não chove na minha cozinha?, e à medida que avanço na demanda, vou construindo um conjunto de explicações que se vão encaixando e sobrepondo uma nas outras, mas verdadeiramente mais não faço que descrever a realidade por um complexo processo de analogias.
Como dizia Kant, o nosso entendimento da realidade é moldado pelas estruturas inatas da mente, o que significa que nunca poderemos conhecer as coisas como realmente são, “o númeno”, mas apenas como nos surgem através dos sentidos, “o fenómeno”. A nossa perceção da realidade e, consequentemente, o conhecimento da mesma é por isso limitado.
É como vivêssemos num “blueprint”, onde acedemos a descrições parcelares, mas apenas a descrições de um plano do qual não temos conhecimento. A nossa ignorância e impossibilidade de entendimento do “plano do universo”, resulta de fazermos parte do mesmo. A ciência ajuda-nos na descrição da realidade mas não consegue satisfazer a vertigem de se compreender o sentido das coisas. Esta limitação é ainda agravada pelo desconforto de muitas respostas colocarem o homem com a relevância cósmica de uma pedra. E não é assim que nos sentimos! Ninguém se vê tão insignificante! O homem, maravilhado com as suas capacidades, sempre se achou diferente, sempre se viu como fazendo parte de um plano divino, um plano onde lhe está reservado o papel de protagonista principal.
Procurando uma argumentação racional que fundamentasse a “hipótese de Deus”, William Paley publicou no seu livro “Natural Theology” em 1802, uma metáfora que ficou conhecida como o “Relógio de Paley”. Nesta discutia que se alguém num bosque encontrasse um relógio é porque um relojeiro o tinha construído, e dizia Paley, que como o relógio implicava um relojeiro, também a presença do ser humano tinha de ser o desígnio de uma mente “superior”.
“Hélas”, não demoraram 60 anos e Charles Darwin em “A Origem das Espécies” publicada em 1859 desmontou definitivamente a necessidade de um outro plano que não fosse “o” da seleção natural para a “evolução das espécies”.
Mas, tinham homem e macaco antepassados comuns? Tem o homem no universo a relevância de uma pedra? A polémica nunca ficou esgotada, não porque do ponto de vista da ciência haja dúvidas, mas essencialmente porque temos dificuldade em assumir uma possível irrelevância.
A estupefacção com que olhamos o universo e vida continua a ser de um espanto tentador para que o vejamos como resultado de uma programação de uma entidade superior como propôs o nosso conterrâneo Miguel Ribeiro em 2013 no seu livro “Universo Programado – Uma alternativa ao Darwinismo e à Religião”, ou a acção de um ser divino como propôs Stephen C Meyer, um fervoroso adepto do “Design Inteligente” no livro de 2021 “O Regresso da Hipótese de Deus”, texto onde recuperou muito das teorias criacionistas ao afirmar que o universo para funcionar num plano tão harmonioso teria de implicar que uma “mente” poderosa e oculta fosse responsável pelos seus desígnios.
Outros como Nick Bostrom e Neil deGrasse Tyson, eventualmente contaminados pelo mundo virtual do século XXI, entre as “teorias” que nunca iremos testar, acham possível que a realidade seja fictícia e se resuma a um mundo tipo Matrix já repleto de candidatos à personagem de Mr. Smith, mas ainda sem um “Salvador” que tenha vislumbrado o “coelho branco” e optado pela pílula vermelha, a pílula do compromisso.
Verdadeiramente não sabemos. Temos dificuldade em descrever “as coisas” de dentro. Uma discussão em que participamos é completamente diferente da que observamos e assistimos à distância. Imagine que vive dentro de um campo de futebol, que o seu mundo se resume a esse espaço, um espaço que para si é infinito porque é lá que “existe” e tudo o que existe resume-se a esse mundo. É o seu mundo, um mundo sem “fronteiras”, sem “bordos” e por isso infinito. Nesse mundo vê os “habitantes” correr atrás de uma bola. Todos a tentam chutar e se fizer uma estatística dos “toques” verá que raramente lhe tocam com o braço ou a mão. Nota ainda que há alguns intervenientes a quem esta regra não se aplica. Não sabe o porquê, mas sabe que quando um lhe toca com o braço de imediato todos param de correr. Todos param e só quando um outro, aparentemente aleatório, a chuta é que o frenesim da corrida se reinicia. Sem que esse em particular a chute ninguém reinicia. É como se transitoriamente dela se tivessem alheado. Mais longe, mas ainda no seu mundo, encontram-se outros “habitantes” que não se interessam pela bola. Este é um grupo mais numeroso, estático e com um comportamento vocal, mas qual é o papel desse grupo nesse mundo, não faz a mínima ideia, descreve, faz previsões, mas não compreende.
Esta poderia ser a descrição de um homem de ciência que vivesse nesse universo. Uma descrição que resultaria em teses de doutoramento, seminários, documentários na RTP2, mas que por mais minuciosa e conseguida que fosse nunca poderia compreender aquele universo como um jogo. Essa perceção só está ao alcance de quem o observe de fora. Para quem tem aquele mundo como seu, e aquela realidade como sua, a capacidade de o compreender é limitada. Poderia descrever o que acontecia, mas nunca conseguiria compreendê-lo como um jogo. Citando Kant, descreveria “o fenómeno”, mas não tinha como conhecer “o númeno”.
O conhecimento que temos do mundo e que deriva do método científico não é holístico, completo ou autoexplicativo. Não é holístico porque se centra no estudo de fenómenos específicos em condições controladas o que limita a compreensão da complexidade integral. Não é completo porque é um processo de descoberta contínua, porque tem lacunas que resultam de limitações metodológicas, éticas ou da pesquisa científica, e não é autoexplicativo porque uma resposta não esgota o assunto e abre sempre a porta a novas interrogações.
Habitualmente, os homens de ciência, olham para as características do conhecimento com algum júbilo, como se o facto das explicações originarem novas interrogações fosse motivo de celebração. Deviam ter uma atitude de maior humildade pois a incompletude das nossas respostas é uma limitação inescapável. Em boa verdade nunca saímos do mundo infantil dos “porquês”.
O saber em ciência está longe de ser um “quest” concluído. Inúmeros são os temas onde o conhecimento descritivo que temos da realidade entrou num impasse de onde parece ser difícil sair. Desde a realidade macro, à micro, o universo está repleto de questões e desafios para os quais a ausência de resposta apenas sublinha as nossas limitações.
Desde as questões relacionadas com a natureza do universo, a sua origem, o que o antecedeu, a sua evolução, a outras como a origem da vida e de como foi possível à matéria inorgânica organizar-se e ter consciência de si e do que a rodeia, a questões relacionadas com o funcionamento do cérebro humano, a natureza do espaço e da matéria escura, ou outras como o comportamento não linear dos sistemas complexos e a forma como estes descrevem um mundo imprevisível como o do clima, da economia, ou da biologia são áreas onde a nossa erudição é essencialmente descritiva e está longe de atingir uma compreensão global.
Se o mundo macro está repleto de desafios e dúvidas, o mundo quântico é praticamente constituído por interrogações, muitas delas a roçar a irrealidade. Destas, as mais fascinantes e intrigantes são a do “vácuo quântico”, um “vácuo” que longe de ser um vazio é uma “realidade” onde partículas quânticas aparecem e desaparecem misteriosamente. O outro mistério é a do entrelaçamento quântico, uma teoria quântica que prevê que partículas entrelaçadas se influenciam independente da distancia entre si.
Permitam-me que desenvolva um pouco este último “espanto”. Como disse, o entrelaçamento quântico é um aspecto da mecânica quântica que prevê que duas partículas entrelaçadas se influenciem independentemente da distancia a que se encontram. Por acharem que esta teoria implicava que a informação entre as partículas teria de viajar a uma velocidade superior à da luz, o que viola as leis da física relativista, Albert Einstein, Boris Podolsky e Nathan Rosen propuseram em 1935 uma experiência teórica, um cenário ficou conhecido como o “paradoxo EPR”. Nesta, o cenário proposto foi o de duas partículas levadas a interagir de tal forma que seus estados quânticos se tornariam entrelaçados. Após essa interação, as partículas são separadas por uma distância considerável, de modo que a avaliação de uma partícula não pode influenciar a outra por nenhum meio dado que qualquer influência teria de viajar mais rápido que a luz para afetar a outra partícula instantaneamente. Segundo a mecânica quântica, o estado entrelaçado das partículas significava que a medida de uma propriedade (como o spin) numa partícula imediatamente determina o estado da outra, independentemente da distância entre elas. Einstein e colegas argumentaram que isso implicava que a descrição da realidade fornecida pela mecânica quântica não era possível. A medição de uma propriedade numa partícula tinha de influenciar instantaneamente a outra, o que implicava uma “ação fantasmagórica à distância”.
Os trabalhos de John S Bell em 1964 e os de Alain Aspect conduzidos na década de 1980, confirmaram as previsões da mecânica quântica e validaram a descrição da realidade não local do entrelaçamento quântico. As previsões da mecânica quântica sobre o entrelaçamento estavam corretas e isso é algo que desafia a nossa intuição sobre o espaço / tempo e o funcionamento do mundo. No mundo quântico, de alguma forma, a informação pode viajar a velocidades superiores à da luz, ou algo nele acontece que nem temos como imaginar.
O conhecimento em ciência é sempre parcelar e enviesado pelas nossas limitações e prespectivas enquanto humanos. A ciência é um edifício permanentemente inacabado porque apenas é uma linguagem com que descrevemos a realidade. É por isso uma narrativa incompleta e falível.
Muitos têm sido os filósofos que questionam a capacidade do ser humano em se dissociar da sua natureza e compreender o universo que o rodeia. Correntes filosóficas como o Empirismo de John Locke e David Hume, o Construtivismo de Jean Piaget e Lev Vygotsky, o Positivismo Lógico de Rudolf Carnap e Moritz Schlick, o Fenomenalismo de George Berkeley e Bertrand Russell, foram dos que mais discutiram o papel dos sentidos e do método científico na aquisição de conhecimentos. Podemos confiar nos nossos sentidos e compreender o que nos rodeia? Podemos participar no que descrevemos e ainda assim tomarmos como boa a descrição? O funcionamento do nosso cérebro e as capacidades de linguagem que desenvolvemos desde há 300.000 anos de que forma influenciam e enviesam a nossa perceção da realidade? Estas são questões importantes para validar a descrição que fazemos do mundo, e foram elas mesmo objeto de reflecção de filósofos como René Descartes, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, Ludwig Wittgenstein, todos mestres que contribuíram para a epistemologia, mas que no fundo e cada um com os seus argumentos, quase todos colocaram em causa a nossa capacidade de conhecer.
Talvez o pessimismo de Kant esteja errado e que a evolução em ciência ocorra como sugeriu Thomas Kuhn na “A Estrutura das Revoluções Científicas”, em sucessivos avanços emergentes e que, eventualmente numa revolução futura os enigmas ainda aparentes se iluminem e a nossa compreensão do universo e da vida seja então holística, completa e autoexplicativa.
Enquanto este avanço e conhecimento não está ao nosso alcance fico pelo menos confortado por saber que na minha realidade, e à minha escala, consigo minimamente responder “por que não chove na minha cozinha?”. Mas se estas justificações não me satisfizerem e se tomar as respostas científicas ou teleológicas por demasiado áridas ou místicas sobram-me sempre as palavras do poeta para me confortar:
Atravessa esta paisagem o meu sonho dum porto infinito
E a cor das flores é transparente de as velas de grandes navios
Que largam do cais arrastando nas águas por sombra
Os vultos ao sol daquelas árvores antigas…
O porto que sonho é sombrio e pálido
E esta paisagem é cheia de sol deste lado…
Mas no meu espírito o sol deste dia é porto sombrio
E os navios que saem do porto são estas árvores ao sol…
Liberto em duplo, abandonei-me da paisagem abaixo…
O vulto do cais é a estrada nítida e calma
Que se levanta e se ergue como um muro,
E os navios passam por dentro dos troncos das árvores
Com uma horizontalidade vertical,
E deixam cair amarras na água pelas folhas uma a uma dentro…
Não sei quem me sonho…
Súbito toda a água do mar do porto é transparente
E vejo no fundo, como uma estampa enorme que lá estivesse desdobrada,
Esta paisagem toda, renque de árvore, estrada a arder em aquele porto,
E a sombra duma nau mais antiga que o porto que passa
Entre o meu sonho do porto e o meu ver esta paisagem
E chega ao pé de mim, e entra por mim dentro,
E passa para o outro lado da minha alma…
“Chuva Oblíqua” (1914) Alberto Caeiro, in “O Guardador de Rebanhos”.