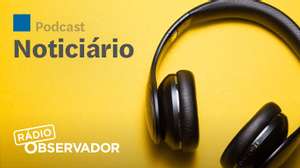O mundo, o nosso mundo, é um encontro desencontrado. Quero dizer, somos feitos, todos nós, de partes e mais partes e a soma das partes fazem-nos olhar, a maior parte das vezes, de forma diferente, se comparados com outros. A divergência e a convergência no olhar dependem de múltiplos fatores individuais e coletivos. Aquilo que nos une e nos separa. O mundo, o nosso mundo, hoje, é um caleidoscópio que, ao mesmo tempo, está sempre a mudar e não sai da imagem que nele se fixa. Depende de quem olha. Quem olha olhando para o mesmo vê outra coisa. Um jogo de futebol ou um concerto podem ser exemplos de convergência, toda a audiência com o olhar dirigido para uma mesma interpretação do que se está a passar. Um jogo de futebol é um jogo de futebol e um concerto é um concerto. Parece simples concordar, mas a vida evidencia que é mais simples discordar. No jogo político, por exemplo, ao ver a mesma coisa, habitualmente, vemos coisas diferentes. Dir-se-à que é a diferença defensável a partir da liberdade de opinião. Todavia, mesmo a consideração da diferença defensável decorre de um acordo sobre aquilo a partir do qual se pode divergir. Por exemplo: todos concordamos nas bases do Estado de Direito. E depois, podemos discordar, mas respeitar, as decisões tomadas pelos tribunais, a organização parlamentar ou as decisões do governo. Todavia, hoje, não é assim. Não existe um acordo sobre as bases institucionais, a partir do qual se constrói a diferença de opiniões. Há, efetivamente, uma rutura do que se costuma chamar contrato social – os princípios estáveis que regem a vida individual e coletiva dentro de dada sociedade.
Atualmente, o que preocupa, é a cisão do olhar – não há encontro numa base a partir da qual se diverge – há uma interpretação substantivamente diferente, de raiz, da realidade, ou daquilo a que chamamos realidade.
Como chegámos aqui, em poucas décadas?
As transformações das bases do contrato social acontecem, incrementalmente ou por via revolucionária. Ao longo de milénios, mesmo nos tempos dos impérios – como os romanos, os persas, os otomanos, o sacro império romano-germânico, os ingleses, por exemplo – estas trans formações tocavam parte do mundo, mas não o mundo no seu todo. O império romano dividiu-se em dois e depois fragmentou-se, originando diversos países e regiões, com diferentes línguas, modelos políticos, valores. O mesmo se pode dizer dos outros casos referidos. Todos originaram situações mais ou menos estáveis no seu ocaso. Mas houve partes do mundo que foram pouco afetadas por esses movimentos. Durante séculos, até serem quase extintas pelos colonialismos europeus, populações autóctones da américa do sul, da américa do norte, da austrália, por exemplo, viveram a sua história, sem interferência de agentes externos. O mesmo se pode dizer de largas partes da Ásia e de África. Todavia, tudo mudou, desde que, em 1991, o software inventado por Tim Berners-Lee, a world wide web conectou, através da internet, todos os que, por cabo ou por satélite, podem aceder a um ecrã e aos seus protocolos de utilização. Esta mudança, associou-se a outra – a comercialização de telefones celulares, desde os anos 80 do século passado. Nos anos 90, os SMS eram já possíveis, e foi inventado o primeiro smartphone. A Apple lança o seu primeiro smartphone – o Iphone – em 2007, com o seu próprio sistema operativo. Em 2008, a Google lança o sistema operativo Androide. Os seus modelos e funcionalidades conduziram a indústria, a partir daí. Desde o início, nos anos 90 do século passado, das tecnologias wireless, atualmente, vamos no 5 G, a 5ª geração. Hoje, a população mundial está quantificada em 8,1 biliões e existem, aproximadamente, 6,8 biliões de smartphones ativos e mais de 2 biliões de computadores. Aproximadamente, 6 biliões de pessoas estão conectadas em redes sociais. No primeiro quartel do século XXI, ao contrário do que aconteceu nos milénios anteriores, as mudanças sociais já não se confinam a regiões do planeta, atingem o mundo no seu todo, nomeadamente, por via da globalização das comunicações. Esta globalização, associada à globalização dos mercados e à facilidade de circulação de pessoas e bens, transformou de forma estrutural a maneira como as sociedades se organizam, se olham para si próprias e para as outras. Transformou, também, a maneira como cada um de nós se projeta no mundo. Durante os dois últimos milénios, os influencers eram, essencialmente, homens políticos, religiosos, da ciência e da cultura. A sua influência e o seu poder exerciam-se a escalas e tempos diferentes dos atuais. Hoje, os influencers são de dois tipos modelares: pessoas e grupos reais com poder de opinião; pessoas e grupos fictícios, gerados por forças políticas e económicas, com poder de opinião. Os avatares, bots, trols, nomeadamente, correspondem a formas de representação online que hoje, com o apoio da Inteligência Artificial, se tornam muito difíceis de distinguir de pessoas reais. Os instrumentos de falsificação da realidade – fake news, manipulação noticiosa, deepfakes, burner accounts, phishing, desinformação, sensacionalismo, rumores – estão cada vez mais elaborados. O nível de organização é sofisticado e a capacidade de, por um lado, chegar a todo o mundo, e por outro, estruturar campanhas de falsificação da realidade destinadas a grupos de pessoas, países, continentes, em particular, é muito elevada.
Os temas que hoje elevam influencers à categoria de ícones – marcas de roupa, estilos de vida milionários, teorias da conspiração, jogos online, etc – mostram um mundo focado em banalidades e distraído sobre os modos como o Presente e o Futuro, de uma forma acelerada, se transforma num exercício de confinamento social através de paredes invisíveis (que correspondem a todas as operações de bastidores para condicionar as opiniões e comportamentos dos utilizadores das redes digitais).
A divisão, na Europa e nos Estados Unidos, entre os que acreditam na legitimidade das instituições e aqueles que as querem destruir é cada vez mais marcada.
O exemplo maior em curso, acontece nos Estados Unidos: o sistema judicial considerou Donald Trump culpado de 34 crimes de falsificação de pagamentos para encobrir a sua relação com uma atriz porno e por essa via controlar danos eventuais na campanha para as presidenciais americanas de 2016. Trump veio a público desacreditar o sistema de justiça, chamou o juiz de corrupto, afirmou que o Partido Democrata está por trás do processo, que o mesmo é uma cabala. Trump, antigo presidente do país mais poderoso do mundo e putativo presidente a partir do próximo mês de novembro, publicamente, declarou não respeitar o sistema judicial. Esta atitude, corresponde a uma fratura grave no modelo institucional. E corresponde a uma tendência, demonstradamente influenciada online por Estados inimigos do Ocidente, para enfraquecer e se possível, destruir, o modelo liberal e democrático que foi construído nos últimos 200 anos. Neste exato momento, as diversas formas de falsificação da realidade no âmbito da campanha para o Parlamento Europeu estão em curso, em toda a Europa, para favorecer partidos de extrema direita e minar a confiança nos partidos do centro do espectro político. Campanhas online, que tal como aconteceu com o Brexit ou as eleições presidenciais americanas de 2016, só para falar de casos de maior impacto mediático, têm o poder de influenciar o sentido de voto dos cidadãos europeus e beneficiar potências inimigas da Europa, no seu atual modelo institucional.
Diversos países do mundo têm um controlo apertado da Internet, para garantir a supremacia do poder institucional, normalmente, exercido de forma autoritária. Chegou o tempo dos países democráticos encontrarem as formas de regulação da Internet que permitam garantir, ao mesmo tempo, a liberdade de opinião e penalizar, seriamente, todas as formas de desinformação ou de intoxicação das opiniões.
É difícil e polémico, mas não é impossível. Mais: é urgente e necessário.






![O presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, fala aos jornalistas durante o protesto dos 150 restaurantes de Braga, reunidos na URBAC19 - União de Restaurantes de Apoio à covid-19, "contra as medidas inócuas" propostas para o setor, empresas que representam 1500 trabalhadores na região e promovem uma entrega simbólica de chaves dos restaurantes, numa demonstração de "impotência e vontade de deixar nas mãos dos governantes a responsabilidade do cumprimento das [nossas] obrigações", em Braga, 06 de maio de 2020. HUGO DELGADO/LUSA](https://bordalo.observador.pt/v2/q:60/rs:fill:300/c:2000:1126:nowe:0:0/plain/https://s3.observador.pt/wp-content/uploads/2021/05/31212636/28770510.jpg)