Título: “Deus-Dará. Sete dias na vida de São Sebastião do Rio de Janeiro”
Autora: Alexandra Lucas Coelho
Editora: Tinta-da-China
Páginas: 565, ilustradas
Preço: 21,90 €
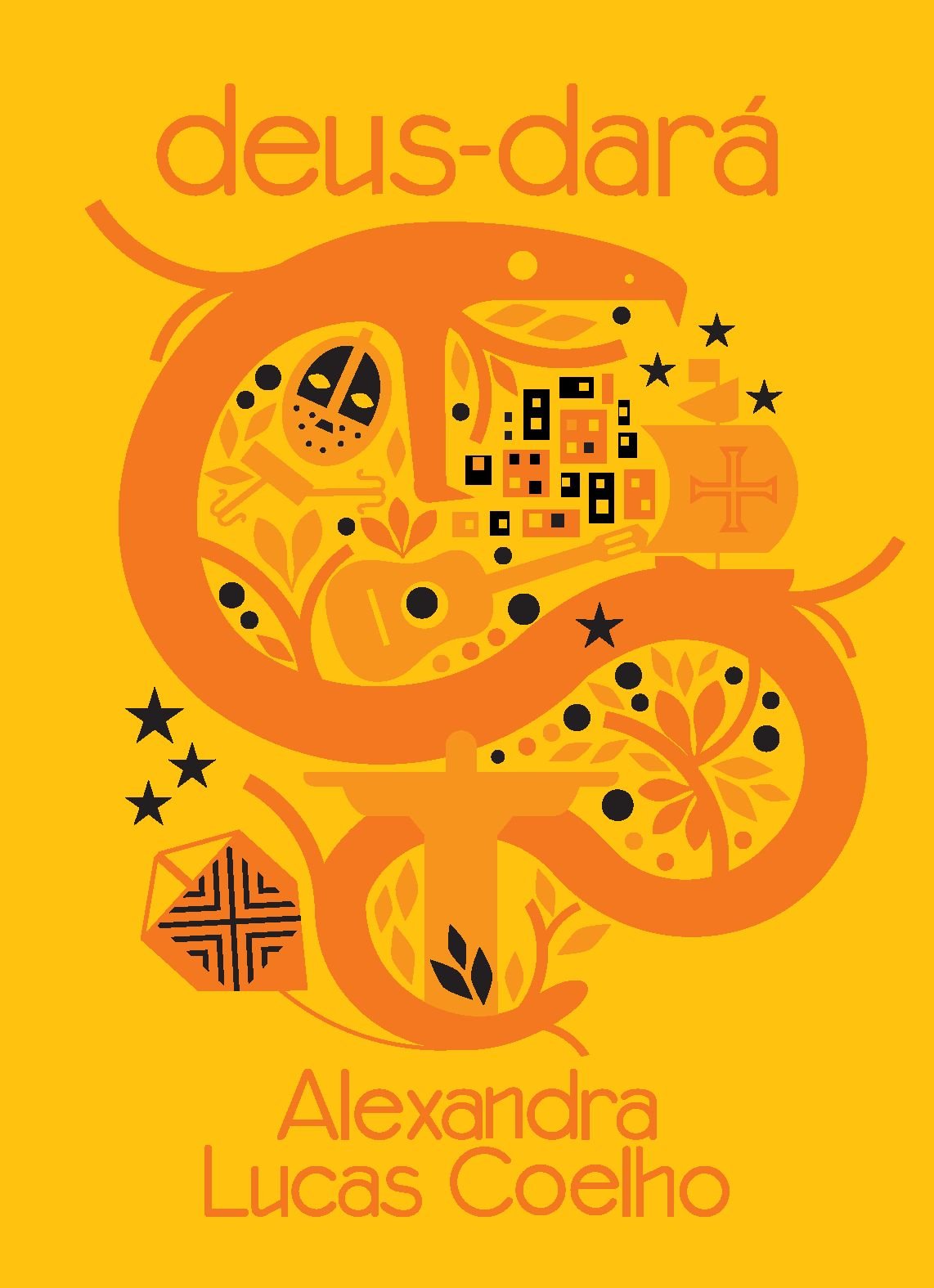
Podemos ler um livro à maneira de certos jurados literários, nada sabendo acerca do seu autor (quem é, que faz ou escreveu antes), e podemos lê-lo sabendo tudo isso, e então a obra literária entre mãos torna-se inseparável dum pre-conceito positivo ou negativo —ambos até — acerca de quem a escreveu. As duas opções têm vantagens e prejuízos: no primeiro caso, avançamos completamente limpos para tentar entender onde o escritor quis chegar, mas falta-nos aquilo que ele fez para aí chegar, o que não é de somenos; no segundo, avançamos distraídos por espelhos retrovisores que continuamente nos invocam leituras antigas, precisando por isso de cuidados redobrados para que não nos escapem qualidades da obra agora em apreço, que é a que verdadeiramente importa.
Esta advertência foi-me sugerida pela leitura de Deus-Dará, romance aliás a vários títulos muito ambicioso de Alexandra Lucas Coelho, 48, correspondente semanal do Público no Rio de Janeiro de 2010 a 2014 (continua a escrever amiúde sobre a cidade e o país), com crónicas escolhidas em finais de 2013 para o livro Vai, Brasil, e todas as outras ainda acessíveis, creio, no blogue Atlântico Sul.
Descontados o deslumbramento inicial, previsível e justíssimo (ainda que tardio), e o colorido das novidades, tão aprazíveis de facto (helàs!), a sua percepção das coisas brasileiras foi todavia lenta e foi ficando cada vez mais contaminada pelos próprios equívocos da militância esquerdista da repórter impressionista que a autora é. O anunciado colapso brasileiro veio oferecer-lhe materiais de sobejo para todas as suas bandeiras de uma revolução global — em que as minorias ganhariam a primazia do humano —, sem cuidar que uma realidade centenária e tão complexa como a daquele país não se verga facilmente à apologia neo-hippie ou soixant-huitard do «alternativo», na favela ou no asfalto, seja ele de mestiços, negros ou brancos (por esta ordem), tão-pouco à mensagem de grafitti (é com um que Deus-Dará começa), nem é removível por arrastões em centros comerciais ou pela baderna de manifestações de rua em que a delapidação impune de propriedade privada ou pública e até de vidas alheias foi levada a cabo por black blocs, cobardes mascarados e praga de selvajaria internacional (acções que Alexandra Lucas Coelho não subscreve).
Desde o início desta década, a «cidade maravilhosa» da orografia tornou-se, de facto — uma vez mais, de resto —, um tremendo incómodo para os seus habitantes, presos numa densa malha de serviços públicos péssimos, banditismo, corrupção, faraonismo bacoco de grandes eventos desportivos, religião, «política» & «negócios» em assalto conjugado e perverso a um Estado também descomunal e incompetente (suportado por uma carga fiscal e aduaneira pesadíssima, cujos recursos, aliás, artistas de justo renome internacional não se coíbem de sugar, ao abrigo de leis mecenáticas sob medida e de cumplicidades políticas). Se não bastasse, e apesar de alarmes na imprensa, foi consentida uma galopante favelização de vastas e fulcrais áreas de floresta e mata e a própria Baía da Guanabra, ecossistema essencial, foi condenada a ser o irrecuperável esgoto pútreo de «comunidades» (sic!) que a envolvem até perder de vista — também elas refúgio e domínio labiríntico de traficantes de droga com armas de guerra em punho…
Profundamente desgastada por nós-górdios antigos (oligarquias parasitárias e «escravatura mascarada» na expressão exacta de Paulo Mendes da Rocha, citado na p. 219) e fragilizada por sectarismos recíprocos radicalizados num tempo de aguda crise institucional e económica, a sociedade brasileira constitui hoje, sem dúvida, um grande tema literário — que Alexandra Lucas Coelho decidiu trabalhar, ambiciosa e audaciosamente. O ambiente pré-«apocalíptico» do Rio de Janeiro desafiava-a para uma escrita romanesca, em que todos os temas e agentes do seu jornalismo empenhado podiam ser incorporados com facilidade, ao mesmo tempo que a sua longa temporada carioca (e outras andanças no país, que deram excelentes crónicas de viagem) lhe proporcionava observação privilegiada e um considerável cúmulo de materiais pertinentes. A própria língua não representaria obstáculo: há muito que gírias, coloquialidade e modos de dizer de lá são aplicados nas suas crónicas, dirigidas a um público transatlântico. Alexandra Lucas Coelho escreve sempre para ser lida e entendida nos dois países em simultâneo, não haja dúvidas quanto a isso.
Também é fácil ver que, duma perspectiva estritamente portuguesa, a sua capacidade de abordagem da vida brasileira neste momento tão crucial, quase catastrófico, ultrapassa com enorme velocidade qualquer concorrência, deixando muito para trás todos aqueles que bordam personagens e «estórias brasileiras» nos seus livros com o fito de serem convidados para o pequeno turismo de vaidade literária em festivais naquele país ou de verem os seus títulos editados, lançados ou criticados em São Paulo ou no Rio.
E não duvido que o romance que ela demorou três anos a escrever possa vir a ser um muito forte candidato ao Prémio Oceanos (40 000 €), confirmando plenamente Alexandra Lucas Coelho como escritora e dando-lhe facilidades para novas criações, sem o incómodo de que a venda de livros em língua portuguesa não dá vida confortável a ninguém ou de que o jornalismo já conheceu melhores dias.
O livro merece pelo menos — desde já — o prémio da nossa leitura curiosa, porque Lucas Coelho escreve bem e tece aqui um enredo de personagens variados e interessantes, a partir dos quais é a própria cidade que pulsa como verdadeira e grande figura central continuamente percorrida por uns e outros.
Cenas ocorrem em lugares de referência do Rio, como o Parque Lage, o meu saudoso Bar Villarino, a panorâmica mureta da Urca, o Largo do Boticário, a igreja da Candelária. Gravuras e fotografias ilustram pessoas e lugares, do primitivo Corcovado à Serra dos Órgãos e à ilha de Paquetá, da armada do pirata Thomas Cavendish aos desenhos do quase deglutido Hans Staden e ao convés dum navio negreiro, dos Arcos da Lapa ao Imperador por Bordallo Pinheiro, da primeira página do jornal com a «extinção da escravidão» a uma fotogaleria de músicos brasileiros de toda a pinta (mas todos «divinos, maravilhosos»), cujas letras ritmam e desdobram a narrativa, e depois lhe dão explosão — como o extraordinário «Vai, vai, vai!» de Vinícius de Moraes, na p. 386.
Recantos da cidade são-nos desvendados em microhistórias como a do hotel das Paineiras e do Saara, ou do holandês Dirk van Hogendorp, do libanês Elias António Lopes, que cedeu a sua Quinta da Boa Vista para residência de D. João VI, do imã Abdurrahman al-Baghdadi, orientador espiritual de «negros, escravos e libertos que eram muçulmanos às escondidas» (também autor dum relato de viagem ao Brasil), da portuense Carolina Augusta Xavier de Novaes, mulher do escritor mulato Machado de Assis e personagem de um dos seus livros, ou de madame Sybil Bittencourt, neta do fundador d’O Correio da Manhã, onde escreveram Lima Barreto, Drummond de Andrade, Nelson Rodrigues e Ruy Castro. Numa fotografia do Campo de São Cristóvão a transbordar na missa de acção de graças pela Abolição (17 de Maio de 1888), presume reconhecer Machado de Assis na tribuna real. Quiçá, um dado novo a considerar…
A lição de Mário de Andrade que António Pedro seguiu em Apenas uma Narrativa de 1942 — a de que romance é tudo o que um escritor lhe quiser colocar dentro — foi adoptada ipsis verbis por Alexandra Lucas Coelho, que faz longas prédicas sobre descobrimentos, colonização, luso-tropicalismo, mitologias indígenas e escravatura, ou desvios inusitados, como a extensa crónica duma cerimónia de tomada colectiva duma purga indígena, de tipo santo daime (pp. 395-419), para depois deixar totalmente em aberto o desígnio dos seus personagens, quiçá suspensos pela «costela brasileira do milagre» (p. 310), diante da evidência de que «o presente é um black out» (p. 239), uns pensando que urge uma «repolitização do Brasil» (p. 338), «uma segunda Abolição» (pp. 38, 109), outros nem por isso.
Que será de Gabriel Rocha, sociólogo afro-índio de pala no olho, autor de Essa Guerra. Violência e Democracia no Rio de Janeiro, sobrevivo dum coma após desastre causado por fio de papagaio numa via rápida? E de Judite Souza Farah, a bela, agora viúva do rico urge Rosso? E do «grandão» Lucas, que ficara mudo durante anos, pelo trauma de descobrir a mãe morta dependurada numa árvore e nesse instante ele próprio quase ter sido sufocado pelo assassino dela, e que voltou a falar graças ao amor de Noé e à purga serrana com ayahuasca? E Zaca, irmão de Judite, acabará enfim o seu «Futuro Romance Carioca»? A resposta parece estar na p. 540, numa síntese quase lapidar: «Brasil-Ao-Deus-Dará, esperando o que vai vir, achando que não tem jeito, mas sempre dando um jeitinho.» Ou na versão utópica radical de Chico (1972) e Alexandra (2012-16), no fim da impactante canção que fecha o livro: «fugir da polícia» para «um dia ser notícia».
Na bibliografia final, causa estranheza a ausência de duas obras essenciais sobre os temas abordados: Machado Assis. Um Génio Brasileiro de Daniel Piza (2005) e Minha Formação de Joaquim Nabuco (edição portuguesa, 2015).

















