É um incansável coleccionador de livros. E ao mesmo tempo que foi construindo a sua própria biblioteca, Alberto Manguel foi sempre observando as dos outros. Verdadeiras ou imaginadas, dedicadas a estilos específicos ou a querer abraçar todas as letras do mundo, sem pensar muito em assinaturas e categorias. E porque sempre assim foi, Manguel decidiu escrever um livro sobre bibliotecas, como ditam o poder e estabelecem a ordem; como despertam a imaginação mas também como fazem o relato da realidade.
A Biblioteca à Noite é o novo livro de Alberto Manguel, que chega às livrarias sexta-feira, dia 14 (no mesmo dia, o autor estará na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, às 18, para uma conversa com Gonçalo M. Tavares, a propósito do lançamento do livro). Neste excerto que o Observador revela em pré-publicação, do capítulo “A Biblioteca como Imaginação”, o argentino vai de Jorge Luis Borges, de como este foi “reconstruindo na sua mente a Biblioteca Nacional de Buenos Aires”, até à Biblioteca do Pai Natal, “nos Arquivos da Província de Oulu, no Norte da Finlândia”.
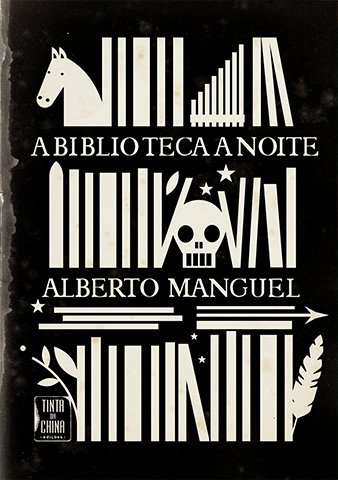
“A Biblioteca à Noite”, de Alberto Manguel (Tinta da China)
“Na luz, lemos as invenções de outros; na escuridão, inventamos as nossas próprias histórias. Muitas vezes me sentei com amigos sob as minhas duas árvores e descrevemos livros que nunca foram escritos. Atulhámos bibliotecas de histórias que nunca nos sentimos compelidos a passar para papel. «Imaginar o enredo de um romance é uma tarefa feliz», disse certa vez Borges. «Escrevê-lo realmente é um exagero.» Borges gostava de encher os espaços da biblioteca que não podia ver com histórias que nunca se dava ao trabalho de escrever, mas para as quais por vezes se dignava a compor um prefácio, um resumo ou uma crítica. Mesmo na juventude, dizia ele, saber da sua cegueira futura encorajara nele o hábito de imaginar volumes complexos que nunca ganhariam forma impressa. Borges herdou do pai a doença que gradualmente e implacavelmente lhe enfraqueceu a vista, e o médico proibiu-o de ler a uma luz fraca. Certo dia, numa viagem de comboio, ficou tão absorvido num romance policial, que continuou a ler, página atrás de página, à medida que o Sol se punha. Pouco antes de chegar ao destino, Borges já não via senão uma névoa colorida, a «escuridão visível» que Milton julgava ser o Inferno. Borges viveu o resto da vida nessa escuridão, recordando ou imaginando histórias, reconstruindo na sua mente a Biblioteca Nacional de Buenos Aires ou a sua própria e restrita biblioteca de casa. À luz da primeira metade da vida, escreveu e leu em silêncio; na obscuridade da segunda metade, ditou e pôs outras pessoas a ler para si.
Em 1955, pouco depois do golpe militar que derrubou a ditadura do general Perón, convidaram Borges para director da Biblioteca Nacional. A ideia foi de Victoria Ocampo, a formidável editora da revista Sur e amiga de Borges durante muitos anos. Borges achou que era «um esquema desvairado» nomear um cego como bibliotecário, mas depois recordou-se de que, por estranho que parecesse, já tinha havido outros dois directores cegos: José Mármol e Paul Groussac. Quando a possibilidade da nomeação surgiu, a mãe de Borges sugeriu que dessem uma volta até à biblioteca e olhassem para o edifício, mas Borges, supersticioso, recusou. «Só quando eu conseguir o emprego», disse ele. Poucos dias depois, foi nomeado. Para festejar a ocasião, escreveu um poema sobre «a esplêndida ironia de Deus» que lhe concedera simultaneamente «livros e a noite».
Borges trabalhou na Biblioteca Nacional durante 18 anos, até se aposentar, e gostava tanto do cargo que festejava quase todos os aniversários lá. No seu escritório forrado a madeira, sob um tecto alto salpicado de flores-de-lis pintadas e estrelas douradas, ficava sentado horas e horas, a uma mesa redonda, de costas viradas para a peça central da divisão — uma secretária redonda, magnífica e enorme, cópia da que pertencera a Georges Clemenceau, primeiro-ministro de França, e que Borges julgava ser demasiado ostentosa. Ali ditava os seus poemas e ficções, ouvia livros lidos só para ele por secretárias solícitas, amigos, estudantes e jornalistas que recebia, e organizava grupos de estudo de anglo-saxão. O trabalho entediante e burocrático de bibliotecário ficava para o seu subdirector, o académico José Edmundo Clemente.
[…]
Noutro caso, tanto o espaço da biblioteca como os títulos dos livros podiam ser vistos, embora os livros representados fossem imaginários. Em Gad’s Hill (casa com que sonhava em criança e que conseguiu comprar 12 anos antes de morrer, em 1870), Charles Dickens reuniu uma copiosa biblioteca. Havia uma parede que escondia uma porta atrás de um painel forrado de várias fileiras de lombadas falsas de livros. Nessas lombadas, Dickens inscreveu, em jeito de brincadeira, os títulos de obras apócrifas de todo o tipo: volumes I a XIX do Guia para Um Sono Refrescante, de Hansard, Ostras, de Shelley, Guerra Moderna, do general Tom Polegar (um famoso anão de circo da época vitoriana), um manual de Sócrates, esse célebre pau-mandado da mulher, sobre o tema do matrimónio, e os dez volumes do Catálogo de Estátuas do Duque de Wellington.

▲ Alberto Manguel na sua casa-biblioteca
AFP/Getty Images
Colette, num dos livros de memórias com que adorava escandalizar os leitores das décadas de 1930 e 1940, conta a história de catálogos imaginários compilados pelo seu amigo Paul Masson, antigo magistrado colonial que trabalhava na Bibliothèque Nationale e excêntrico que pôs fim à vida parando à beira do Reno, enfiando algodão embebido em éter no nariz e, depois de perder a consciência, afogando-se em menos de meio metro de água. Segundo Colette, Masson visitou-a na moradia costeira dela e tirou dos bolsos uma escrivaninha portátil, uma caneta de tinta permanente e um montinho de cartões em branco. «Que estás a fazer, Paul?», perguntou-lhe ela, certo dia. «A trabalhar», respondeu ele. «A trabalhar no meu ofício. Fui nomeado para a secção de catálogo da Bibliothèque Nationale. Estou a fazer um inventário de títulos.» «Oh! Consegues fazê-lo de memória?», perguntou ela, maravilhada. «De memória? Onde estaria o mérito disso? Faço melhor. Constatei que a Nationale é pobre em obras latinas e italianas do século xv», explicou ele. «Enquanto a sorte e a erudição não colmatam a falha, faço a lista dos títulos de obras extremamente interessantes que deviam ser escritas. […] Que ao menos esses títulos salvem o prestígio do catálogo. […]» «Mas e se os livros não existirem?» «Bom», respondeu Masson com um gesto frívolo, «não posso fazer tudo!»
As bibliotecas de livros imaginários deliciam-nos porque nos dão o prazer da criação sem o esforço da pesquisa e da escrita. Mas também são duplamente perturbadoras — primeiro, porque os livros não podem ser coleccionados e, segundo, porque não podem ser lidos. Esses promissores tesouros têm de continuar vedados a todos os leitores. Todos eles podem reivindicar o título que Kipling deu à história nunca escrita do jovem bancário Charlie Mears, A História mais Bela do Mundo. E, porém, a busca desses livros imaginários, embora necessariamente infrutífera, não perde o encanto. Que amante das histórias de terror não sonhou encontrar um exemplar do Necronomicon, o manual demoníaco inventado por H.P. Lovecraft na sua sombria saga Cthulhu?
[…]
A diferença entre bibliotecas que não têm existência material e as bibliotecas com livros e papéis que podemos tocar é, por vezes, estranhamente difusa. Existem bibliotecas reais com volumes sólidos que parecem imaginárias, porque nascem daquilo a que Coleridge chamou, numa expressão já famosa, suspensão voluntária da descrença. Entre elas conta-se a Biblioteca do Pai Natal, nos Arquivos da Província de Oulu, no Norte da Finlândia, cujos outros fundos mais convencionais remontam ao século XVI. Desde 1950, o «Serviço Postal do Pai Natal» dos Correios finlandeses encarrega-se de responder a cerca de 600 mil cartas recebidas, por ano, de mais de 180 países. Até 1996, as cartas eram destruídas depois de serem lidas, mas desde 1998 que um acordo entre os Serviços Postais Finlandeses e as autoridades da província permitiu aos Arquivos de Oulu seleccionar e guardar algumas das cartas recebidas todos os meses de Dezembro, escritas principalmente, mas não exclusivamente, por crianças. Oulu foi escolhida porque, segundo a tradição finlandesa, o Pai Natal vive em Korvatunturi, ou Montanha da Orelha, localizada naquele distrito.”

















