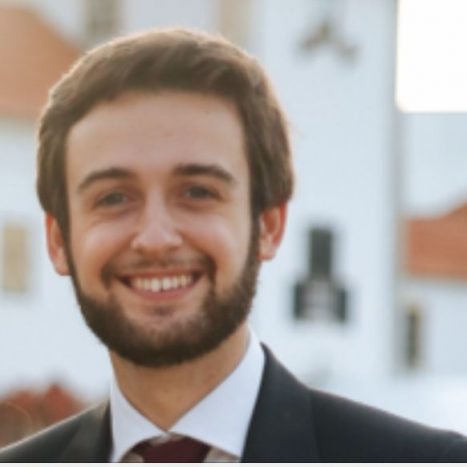Índice
Índice
A imagem principal deste artigo é do filme “Jantar de Palermas” (1998), de François Veber, com Jacques Villeret e Thierry Lhermitte
A verdadeira estupidez dá cabo da cabeça aos tratadistas. Se é doença, ainda não lhe encontraram o princípio, mais do que activo, irrequieto. Tem a omnipresença de Deus e a poliformia do Diabo, é mortal porque pode matar e imortal porque insiste em não morrer. Todos a vêem mas ninguém a sente: a estupidez é o ex-libris traseiro da Humanidade, fiel ao cérebro Humano até que a morte nos livre dela.
É assunto sério e vasto. Antes de Paul Tabori se ocupar dela na História Natural da Estupidez, estudou-a Erasmo no Elogio da Loucura e, fora as variantes como a História da Loucura de Foucault, estudou-a também Richet no Homem Estúpido ou W. B. Pitkin na Breve Introdução à História da Estupidez Humana. O Dicionário da Estupidez, de Bechtel e Carrière, tem umas temíveis quinhentas páginas e o paciente István Ráth-Végh coligiu três volumes pouco edificantes sobre a História Cultural da Estupidez.

“História Natural da Estupidez”, de Paul Tabori (Bookbuilders)
Ora, mesmo com tão copiosa bibliografia; mesmo com a facilidade de acesso a um inesgotável e gratuito laboratório antropológico, mesmo com as mais patentes demonstrações da asinina condição, não se alcançou ainda o menor consenso a respeito da estupidez. Há quem a trate como prova da ordem do Universo, quem a use como demonstração do caos e quem, sem deixar de a referir, rejeite que ela prove alguma coisa sobre o que quer que seja. Há quem a veja como bênção Divina e quem a tome por pecha de família, quem a encontre no Património Comum de toda a Humanidade e quem lamente o opróbrio dos poucos amaldiçoados pela estultícia. Não é, sequer, consensual que a estupidez seja um estado permanente ou uma vergonha episódica, nem mesmo acordo sobre os seus sintomas. É possível, por exemplo, mesmo entre os raros encomiastas da tolice, encontrar as mais diferentes ideias.
Um parvo ou um louco?
Quando Alberto Caeiro deseja a todos “saúde e estupidez”, não exalça a mesma insânia que Foucault diz ter sido reprimida pelos evos Cristãos. Caeiro, como Erasmo, elogia mais os simples do que os estúpidos. Numa tradição em parte Cristã (apesar das reservas de Foucault) elogia os ignorantes, o parvo de Gil Vicente, como quem defende que a razão é mais um erro de concepção do que uma vantagem no esqueleto Humano. A razão pode sobrepor-se ao instinto, comparar hipóteses, rebuscar erros, enfim: perturbar uma vida que, sem consciência, podia ser regalada tranquilamente, sem que alternativas morais perturbassem a condução da História. Os parvos, neste caso, são os puros, como que o resto do Homem ante-pecado, sem o orgulho racional que torce o que é simples.
O inano de Foucault, por outro lado, é o Homem livre das amarras da lógica, aquele que não está condicionado por uma busca de finalidade, de sentido, e pode assim alcançar novos estádios de criação Humana. O parvo de Gil Vicente faz o que é simples, o louco de Foucault chega ao complicado; o parvo é vulgar, o louco é quase genial. O parvo está abaixo do Homem comum, o louco está acima e, por isso, em dois sistemas de pensamento diferentes, ambos são exaltados.
Tanto o parvo como o louco, porém, são uma excepção. Não é por acaso que, quando Foucault trata da nave dos Loucos, faz dela um arquétipo histórico – representaria as peregrinações forçadas de tolos rejeitados pelas urbes com vista à cura da sua aberração – e não o tradicional arquétipo filosófico. A nave dos loucos, tradicionalmente, representa, mais do que uma classe ou uma doença, o mundo inteiro. É uma barca à deriva, em que nenhum argonauta sabe para onde vai. À semelhança da condição Humana, tem vontade de andar mas não sabe para onde; não sabe como ser feliz, não sabe qual é o objectivo da vida e por isso cinca à deriva, fingindo que está a ir para algum lado. A estupidez seria, neste caso, uma condição universal.

Michel Foucault
Simão Bacamarte, no Alienista de Machado de Assis, ilustra na perfeição esta tese. O reputado psiquiatra (não sofre com a actualização do nome) instala-se numa cidade e vai internando todos os Homens que manifestem algum sinal de loucura. Paulatinamente, a cidade vai atulhando o hospício, a ponto de sobrar apenas o Dr. Bacamarte. É aí que o médico percebe que se deve internar, com a sua queda para achar toda a gente louca como o maior sinal da sua patologia. A loucura, poderíamos concluir, é comparativa. Todos os Homens têm algo que se afasta de uma tendência geral, mas mesmo essa tendência é arbitrária. Se não soubermos qual é o objectivo da vida, a estupidez é uma diátese colectiva: todos estão a agir de uma forma louca.
Esta tese perturbante, que a nave dos loucos representa, foi de alguma maneira atacada por um aforismo que tem passado por pouco mais do que uma simples blague cartesiana. O mundo riu-se do malabarismo lógico de Descartes quando ele começou o Discurso do Método com “o bom-senso é a coisa mais bem distribuída do mundo: porque toda a gente acha que está tão bem provida dele que, mesmo aqueles que noutras coisas são tão difíceis de contentar, nesse aspecto não desejam mais do que aquele que têm”. O bom-senso pode ser subjectivo; mas quando ninguém sabe o que é o verdadeiro bom-senso, todos podem considerar que o têm. A base da nave dos loucos e do pensamento de Descartes é a mesma – ninguém sabe o que é o verdadeiro Bem – mas as consequências são opostas. Não somos todos estúpidos, diria Descartes, ninguém o pode ser.
Descartes parece afastar-se assim de uma das teses centrais do livro de Paul Tabori. À primeira vista, a História Natural da Estupidez toma como estúpido tudo o que é convenção social, o que sujeita o Homem a trabalhos contrários à sua Natureza. Daí que encha o livro de bizarrias sobre etiqueta, cerimonial diplomático ou o dinheiro. Acontece, porém, que à luz da presunção de que o Homem está na barca dos doidos, não é muito justo particularizar idiotices. Seria tão idiota o dia a dia na corte de Luís XIV, com as tricas para saber quem trincharia o frango do rei, como a mais natural e instintiva preguiça que faz passar um dia inteiro num sofá. A convenção como estupidez máxima assesta na ideia de que, já que não sabemos onde está o Bem, devemos fazer pelo menos o que nos sabe bem. Ora, o problema é que aceitar isso implica também aceitar a ideia de convenção.
O património da estupidez
A história dos prazeres é uma história de guerra entre uns e outros, de hierarquias e submissões. Quando, na famosa lenda dos O’Neill, há uma competição em que é dado um castelo ao primeiro “a pôr-lhe a mão em cima” e o lento O’Neill, confrontado com a sua má posição na corrida, corta a mão e a atira para ser, literalmente, o primeiro a “pôr a mão no castelo”, não está propriamente a ser estúpido: os prazeres que a riqueza pode dar, pensa ele, valem bem uma mão. A convenção é a forma interposta de alcançar poder palpável. Não é preciso que os países pelejem continuamente para demonstrarem força: uma simples precedência numa embaixada é bastante para, de uma forma que não mata ninguém, perceber quem é poderoso. Daí que, por muito bizarra que seja a história da querela entre França e Espanha para ver qual dos cortejos viria imediatamente a seguir ao cortejo sueco numa expedição por Londres – querela essa que implicou confrontos armados e perseguições de cavalaria – não seja inteiramente estúpida: implica um reconhecimento de poder que traz inúmeras vantagens posteriores.

William Shakespeare
Daí que a estupidez, como realmente a entendemos, só entre realmente em cena quando o apetite pela convenção é tal que acabe por prejudicar o próprio Homem naquilo que busca. Que em busca de gravitas e de estatuto social um Homem opile as vistas a ponto de não perceber que o título de Barão da Seringa tem qualquer coisa de ridículo é com certeza estúpido; não porque a convenção seja estúpida, mas porque é a própria convenção que contraria o seu objectivo.
A estupidez que merece ser narrada não é, assim, aquela que tem um carácter geral. Os teóricos têm muitas vezes confundido fenómenos sem necessidade: a estupidez já tem património suficiente para não precisar de aumentar o tesouro. O dicionário da estupidez, por exemplo, dedica grande parte das entradas a erros de julgamento ou a tiradas contra autores consagrados. E embora algumas sejam verdadeiramente engraçadas – um teórico do século XIX, decerto trancado no seu gabinete há mais de cinco séculos, a dizer que os espanhóis “nunca demonstraram nenhum tipo de espírito viajante” – outras são apenas fruto de uma leitura injusta. Que Tolstói chame vazias às personagens de Shakespeare não é uma óbvia estupidez: há algo de arbitrário, de flagrantemente contrário aos factos, que extravasa a matéria de opinião. A estupidez não é ignorância, nem maldade, nem loucura, nem erro. Mesmo o erro mais obstinado, como a alquimia, que durante séculos baralhou as mentes mais brilhantes, não é uma verdadeira estupidez: para lá de todos os desenvolvimentos que trouxe à química, como saber o que é estúpido antes da experiência?
Se há estupidez na imprudência de alguns doentes que acreditavam que ingerindo um metal precioso conseguiriam curar as suas doenças? Se há estupidez na crendice de um sábio francês a quem durante anos foram vendidas cartas de figuras históricas, incluindo uma de Maria Madalena a Lázaro sobre as altas virtudes dos gauleses? Claro que, além de um admirável patriotismo, há estupidez, sim. Haveria estupidez no Homem orgulhoso que, sabendo do interesse do Visconde de Juromenha por Camões, lhe recomendasse a leitura dos Lusíadas, no curioso que dedica a sua vida a um assunto tão insignificante como completar um baralho só com cartas encontradas na rua ou no pertinaz intelectual que dedica todo o seu engenho a investigar nos baús a bafienta história do cotão. Contudo, não há estupidez no explorador que varre a Amazónia em busca do El Dorado.
Nem sempre é como calha
A estupidez também não é um atributo: não calha a alguém ser estúpido como calha a outrem ser alto ou pouco inteligente; a estupidez não significa ter as roldanas do pensamento enferrujadas; o estúpido pensa bem, mas sobre as coisas erradas, ou pensa bem, mas não pensa o suficiente. A estupidez é uma espécie de forma cerebral do pecado: as acções mais estúpidas nascem do orgulho, da preguiça ou de uma pressa imprudente que impede o Homem sensato de analisar bem o que lhe acontece. Como no pecado o Homem troca um Bem maior por um mais pequeno, a estupidez é a acção que troca o bem por alguma coisa inútil ou ridícula. O catálogo de Homens que se dedicam, não só a coisas inúteis, mas até a coisas aborrecidas sem que nada os obrigue a isso é impressionante. O filme “Jantar de Palermas”, por exemplo, em que um grupo de amigos convida à vez um idiota para que este exponha o objecto da sua estupidez, é curioso por dois motivos: não só pela imaginação dos argumentistas, capazes de conceber os chatos mais rematados, mas também pela curiosa psicologia de grupo – o que é que leva tanta gente a aturar frequentemente palestras maçadoras dos mais monótonos imbecis?
[trailer do filme “Jantar de Palermas, de Francis Veber, 1998]
O livro de Paul Tabori dá exemplos de bizarrias de vária ordem, leis absurdas, modas colectivas inacreditáveis, e até histórias de uns quantos maduros que foram tentando encontrar personagens mitológicas e fantasiosas numa realidade prosaica. Irónico, porém, é que um livro que tanto chufa de tais inanidades acabe por cair em território vizinho. Igual estupidez à de acreditar em Hércules é crer que os Antigos tomavam como verdadeiro tudo o que hoje sabemos que é mito. Por muitas ascendências mitológicas que se encontrem nas árvores genealógicas dos Reis, por muita bizarria aparente que passe pelo livro, são mais as vezes que Paul Tabori não toma as histórias no sentido metafórico em que elas eram obviamente lidas do que aquelas que representam verdadeiras estupidezes.
Foi a atracção de Paul Tabori pela bizarria que o levou a escrever um livro sobre a estupidez humana. Esta atracção, porém, acabou por se tornar também ela uma bizarria. Tabori dedicou grande parte da sua vida a tentar desmascarar profetas do oculto ou de fenómenos parapsicológicos. A sanha foi tal que se tornou um exímio especialista em tantos dos fenómenos que convictamente detestava. Também esta poderia entrar na galeria das insignificâncias que dominam os Homens. Entre tantas, não será a maior das estupidezes – mas apenas porque a concorrência é prodigiosa.
Carlos Maria Bobone é licenciado em Filosofia. Colabora no site Velho Critério.