Índice
Índice
A Utopia de Thomas More é um livro cuja fortuna foi imediata. Hoje continua a ser um dos títulos mais conhecidos e mais vendidos de sempre mas não precisou de esperar pela posteridade para ser célebre e celebrado. Publicado pela primeira vez em 1516 por um editor de Lovaina chamado Thierry Martin, depressa teve outras edições em França, na Suíça, em Viena de Áustria. Foi de certa maneira um trabalho colectivo em que colaboraram vários amigos do autor, entre os quais Erasmo de Roterdão, que oito anos antes dedicara a More o não menos conhecido Elogio da Loucura.
A Utopia – simplesmente Utopia, na versão inglesa – não é uma exacta tradução do título original. Escrita em latim, a obra apresentava-se um pouco mais extensamente como o “discurso” de um certo Rafael Hitlodeu – rapaz de talento (vir eximius) – sobre “a melhor organização da coisa pública” e a “nova ilha Utopia” onde a fora encontrar. Hitlodeu era, na ficção de Thomas More, um marinheiro português. Ele tinha chegado – por mares nunca dantes navegados, obviamente – à maravilhosa e exemplar ilha do bom governo que tinha por nome Utopia (lugar inexistente, no grego de More, que em latim lhe chamou Nusquama, que quer dizer mais ou menos o mesmo, ou seja “nenhuma parte”). É esse português imaginário quem conta a história dessa imaginária sociedade. É escusado dizer que se viviam os tempos de El-Rei D. João II e do seu venturoso herdeiro.
1516
Há qualquer coisa nas brumas da Flandres que inflama as imaginações. Não se percebe bem porquê: os países baixos eram para Vieira um “frio e alagado Inferno” e, até ao século XVI, segundo Ramalho Ortigão, com certo exagero, “o pântano tenebroso, a região anfíbia, ora água, ora terra firme; um pouco de lodo envolto em névoa”.

Ilustração da edição original da “Utopia”
Mas foi lá que, nos últimos meses de 1515, o Embaixador de Henrique VIII, aproveitando os tempos livres da sua missão diplomática, imaginou e escreveu a obra e inventou a palavra que o imortalizaram. Lá se publicou pela primeira vez, em 1516, o ano em que surgia em Portugal o nosso Cancioneiro Geral. Já há algum tempo que funcionavam as técnicas modernas de impressão normalmente associadas ao nome de Gutenberg, cuja Bíblia tinha sido editada em meados do século XV, sessenta anos antes. Nos cinquenta anos seguintes imprimiram-se pelos novos processos dez a quinze mil títulos. Em 1501 havia cerca de mil tipografias a funcionar – li não sei onde – e em 1550 a bibliografia cumulativa dos livros impressos contava cerca de 35.000 títulos (contas da UNESCO, em So many books, de Gabriel Zaid – no original Los demasiados libros, em Portugal Livros demais). Nos anos seguintes fizeram-se muitas outras edições do original latino. As traduções para línguas vernáculas ainda tardaram (em Portugal, esperámos pelo século XX). Em francês, só em 1550 apareceu a primeira. A primeira versão inglesa só um ano mais tarde, em 1551, dezasseis anos depois da morte de More, reinando em Inglaterra Eduardo VI. Tinha desaparecido também por essa altura Henrique VIII, que fora o grande amigo e depois carrasco do “ilustre Thomas Morus, visconde e cidadão de Londres”.
História de duas cidades
A Utopia compõe-se de duas partes principais, que foram escritas pela ordem inversa à que têm no livro. More escreveu primeiro a segunda parte – mais extensa — dedicada à descrição da ilha modelo. Nela ficamos a saber como é para o autor a Cidade Ideal: a que não existe em parte alguma e cujo nome – num trocadilho fonético – se pode pronunciar também eutopia, ou seja “lugar feliz”; não vamos entrar em pormenores, mas toda essa descrição, aliás, está cheia de jogos de palavras com neologismos gregos e latinos. A primeira parte é uma crítica dos costumes e instituições da Europa daquele tempo, embora se ‘adiantem’ nela algumas comparações com a famosa ilha e outras paragens igualmente imaginárias.
Homem do foro e homem de Estado, More conhecia bem os mecanismos do poder e o funcionamento da sociedade em cujo governo teve participação relevante. Nesse primeiro “livro” há uma discussão do sistema penal, da economia, da educação, da assistência aos desvalidos, que aborda questões que o nosso tempo debate em termos muito parecidos: o que lá se escreve podia ser escrito hoje. Algumas outras coisas ainda são mesmo escritas hoje, sobretudo se quem escreve for de esquerda: “A causa principal da miséria pública”, teoriza o protagonista, “é um número excessivo de nobres, ociosos zangãos que vivem à custa do trabalho e do suor de outrem, e que no cultivo da terra exploram os rendeiros até ao osso, para aumentarem os seus rendimentos. Não conhecem outra forma de economia, mas se, pelo contrário, se trata de comprar um prazer, são de uma prodigalidade que vai até à loucura.” E lá estão os latifundiários, os “açambarcadores”, os manipuladores das finanças, as culpas da “sociedade”, já não eram novidade no seu tempo.
Nenhures
A Utopia tem antecedentes – entre os quais é fácil apontar, por exemplo, A República de Platão (expressamente invocada) ou A Cidade de Deus (De civitate Dei) de Santo Agostinho — e teve uma imensa descendência, que chega até aos nossos dias. Na segunda metade do século XIX, William Morris, homem de artes e de letras, publicou as suas próprias “Notícias de Nenhures” (News from Nowhere), um manifesto socialista cujo título remete directamente para o seu ilustre antepassado. Quase todas as “utopias”, de resto, têm sempre tido o seu vezo ‘socialista’ ou ‘comunista’. É de pensar que há uma afinidade natural entre os ideais que espelham e a ideia de os desenhar com régua e esquadro e de os impor, se necessário, com “um safanão a tempo”, ou algo mais — num “reino da virtude” severamente regulado e disciplinado. Na ilha imaginada por More há horas marcadas para tudo, regras sobre a roupa, doses de “cultura” regimentada e obrigatória, etc., naquilo que a muitos de nós parece um verdadeiro pesadelo e não difere muito do que nos mostram com horror as chamadas “utopias negativas” (para que se criou o nome técnico de “distopias”). Nisso se separam em geral as efabulações utópicas e o que ensinava um Santo Agostinho que distinguia bem entre o Céu e a Terra. Nisso reside também a modernidade da Utopia de More que é uma imagem do Céu na Terra, obra de homens para outros homens. E aqui o abandona o sentido do humor que toda a gente lhe reconhecia e está bem patente na primeira parte.
Em português
Estão disponíveis várias edições em português de A Utopia. Em 1952, o filósofo José Marinho fez uma excelente tradução do latim original para a colecção Filosofia&Ensaios da Guimarães Editores.
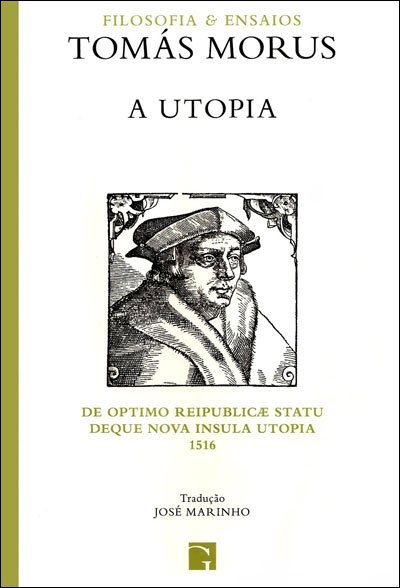
Segundo Pinharanda Gomes, no prefácio que escreveu para a décima edição desse livro, só tinha havido antes duas traduções d’A Utopia, uma selecção de textos organizada por Agostinho da Silva, de 1946, e no ano seguinte uma tradução integral da autoria de Berta Mendes, A Utopia ou Tratado da Melhor Forma de Governo, com prefácio do escritor Manuel Mendes. Indica Pinharanda Gomes que “as traduções inglesas não respeitaram, como as de línguas românicas, a onomástica criada por Morus, pelo que, onde o autor criara palavras como Buthrescae, ou Anydrus, as quais se apresentam carregadas de etimologismo e de simbolismo, os tradutores ingleses, na ânsia de comunicabilidade, traduziram à letra (por cowparsons, nowater…).”
São Tomás Morus
Sir Thomas More não era um homem qualquer, claro. A sua história é muito bem contada em “Um homem para todas as estações”, o filme de Fred Zinneman realizado a partir de um texto dramático de Robert Bolt, a quem se deve – diga-se entre parênteses – um outro esplêndido argumento, o de “Lawrence da Arábia”.
https://www.youtube.com/watch?v=zbZfh-5QsAw
Nascido em Londres em 1478, More frequentou boas escolas, foi pajem do Arcebispo John Morton, estudou em Oxford. Advogado brilhante, homem de leis respeitado, ocupou os mais altos cargos na corte inglesa de Henrique VIII, de quem foi confidente e íntimo colaborador e conselheiro. Foi Speaker da Câmara dos Comuns, Lorde Chanceler e muitas outras coisas de não menor relevância, entre as quais Embaixador, como já vimos, para melindrosos e importantes negócios estrangeiros. Muitos artistas e homens de letras de nomeada eram visitas lá de casa. O grande Hans Holbein pintou um conhecido retrato seu e retratou também familiares e criados de More.
Terá sido ele quem escreveu ou inspirou largamente o libelo em que o Rei investiu contra os luteranos e que valeu a Sua Majestade o título de Defensor da Fé, que ainda hoje conservam os Monarcas ingleses mas passou a referir-se, depois de Henrique, a uma Fé que já não era exactamente a da Igreja que lho outorgou. Com efeito, em 1532 o Rei quebrou todos os laços com a Santa Sé e criou a Igreja de Inglaterra, auto designando-se com a relutante aquiescência dos bispos ingleses, “Supreme Head of the Church of England”. More já se tinha afastado do Rei, por fidelidade ao Papa e à Igreja cuja autoridade Henrique VIII desafiava e acabou por repudiar. Não quis trocar a sua fé pela obediência e pela amizade ao Rei – e apesar de todas as tentativas para evitar o confronto chegou a um ponto em que teve de dizer a mais uma exigência real, como certo Papa, non possumus. Foi julgado e condenado à morte por “traição” e executado em Julho de 1535, aos 57 anos. Mártir da Igreja, foi canonizado quatro séculos depois, em 1935. No calendário litúrgico da Igreja Católica a festa de São Tomás Morus celebra-se em 22 de Junho. A Igreja Anglicana também o venera como Santo; nesse calendário, a sua festa é o dia 9 de Julho. É o patrono dos advogados e dos políticos.

















