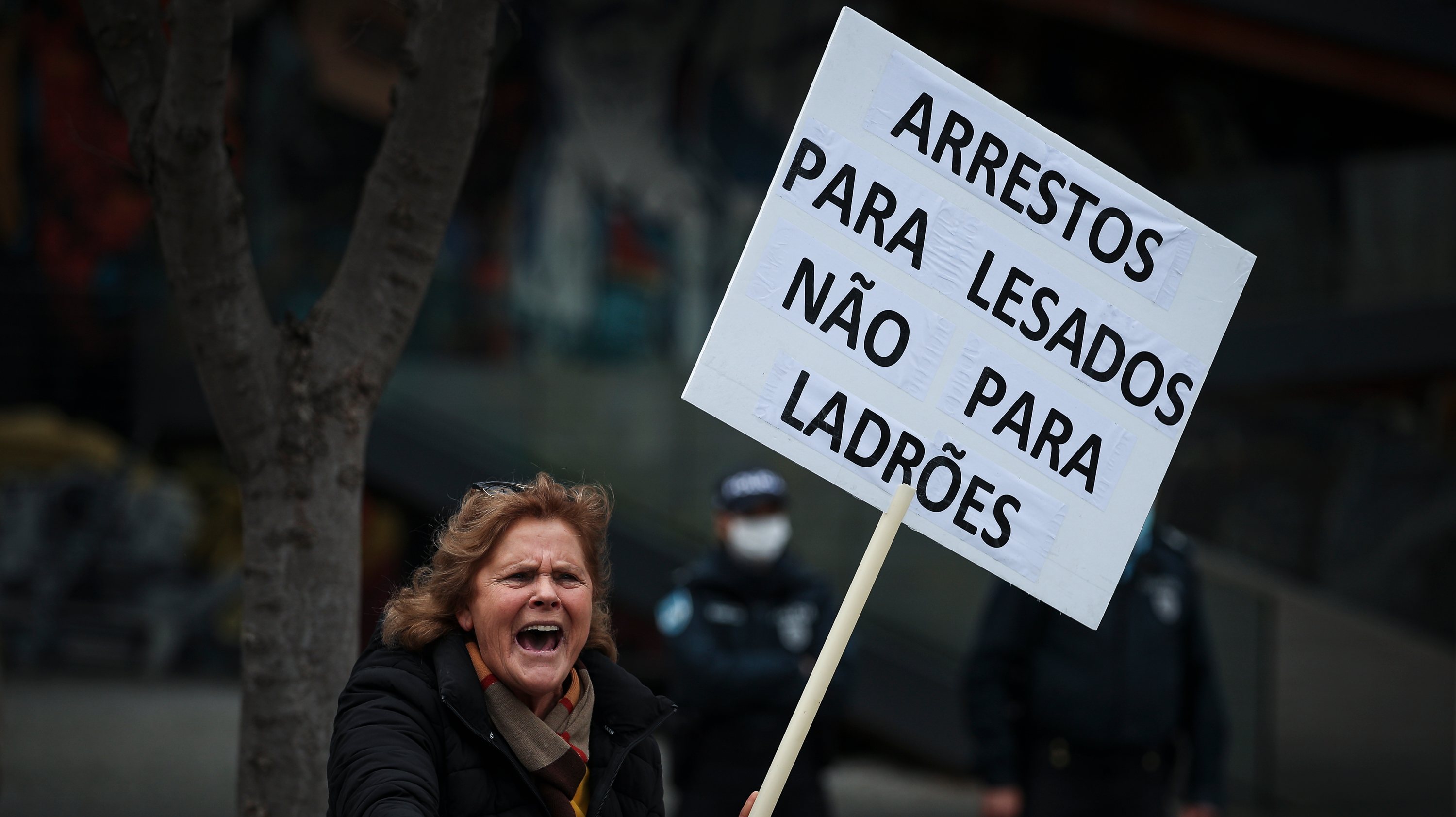Os avisos foram feitos a tempo de se evitar o que tem acontecido nos últimos mais de cinco anos. A banca privada deixou de ter accionistas portugueses de peso, as telecomunicações pertencem a franceses e angolanos, a electricidade a chineses ou espanhóis, o gás e combustíveis parcialmente nas mãos de angolanos. É mais um dos vários efeitos da dívida, que o país foi acumulando, desde que começou a viver dos rendimentos esperados no futuro que, afinal, não aumentaram o suficiente para pagar os créditos.
O entusiasmo dos empresários portugueses pela banca em finais do século XX esfumou-se. Esta foi a semana em que desapareceram os banqueiros portugueses e o sistema financeiro passou a ser controlado por empresários de Espanha, Angola e China. O caso mais simbólico é o do BPI, que passará a ter um presidente executivo de origem espanhola, o que não acontece nem com o SantanderTotta – liderado por António Vieira Monteiro.
Dia 8 de Fevereiro de 2016 o catalão CaixaBank passou a deter quase 85% do capital e dos direitos de voto do BPI. A angolana Isabel dos Santos que, através da Santoro, era a segunda e mais importante accionista, vendeu. Depois de uma longa batalha com os catalães. O grupo Violas Ferreira, um dos accionistas portugueses (tinha 2,7%) ficou com uma posição simbólica. Manteve-se a seguradora alemã Allianz que entrou no capital do BPI em 1995, no mesmo ano do La Caixa. O banco passa a ter como presidente executivo Pablo Ferrera – que promete aprender português – e Fernando Ulrich assume as funções de Chairman de onde sai Artur Santos Silva.
Esta reviravolta accionista no BPI – um banco que passou a crise sem dificuldades de maior – foi essencialmente determinada pelas regras da nova supervisão única europeia, que não reconheceu Angola como sendo um país que respeitasse os padrões da Zona Euro. Um banco que já era pouco português, em termos accionistas, deixou de o ser totalmente com a sua liderança a ser assumida por Espanha.
Também durante esta semana de Fevereiro, o BCP conseguiu concretizar o seu muito sofrido e batalhado aumento de capital. O banco conseguiu arrecadar 1,33 mil milhões de euros, numa operação de aumento de capital que transformou os chineses da Fosun – que controla a seguradora Fidelidade – no maior accionista do BCP, com quase 24% do capital. Segue-se a Sonangol, agora presidida por Isabel dos Santos, com pouco mais de 15%. Com este aumento de capital, o BCP vai conseguir pagar os 700 milhões de euros que ainda deve ao Estado. A última parcela de um empréstimo que foi da ordem dos três mil milhões de euros, obtido em 2012 com os recursos da troika, e que custou ao banco liderado por Nuno Amado mil milhões de euros – aquilo que ganharam os contribuintes.
Neste mês de Fevereiro, Portugal perdeu definitivamente os seus grandes banqueiros – entendidos como accionistas de peso na banca – e viu desaparecer a última geração de gestores da era da liberalização do sistema financeiro, iniciada na segunda metade da década de 80 do século XX – com a saída de Artur Santos Silva e Fernando Ulrich. Mantém-se ainda José Amaral no BPI e António Vieira Monteiro no Santander que fez também a sua carreira no sistema financeiro.
A nova geração de gestores da banca está no BCP e poderá sair da CGD, da equipa de Paulo Macedo. Gestores mais discretos, menos assertivos e confrontacionais, menos dados aos corredores do poder. Estamos numa era em que a banca anda de mão estendida e ainda com muitos problemas do passado para resolver e muitos desafios do futuro tecnológico para ultrapassar.
O desaparecimento de accionistas portugueses de peso na banca é um problema? Para algumas pessoas é. O argumento é basicamente este: os bancos controlados por accionistas de outros países vão centralizar as decisões de concessão de crédito nas casas-mãe e o financiamento chegará apenas às empresas portuguesas sem risco. As outras empresas, mais arriscadas, tenderão a ter falta de financiamento.
O problema deste argumento é validar uma forma de fazer banca, que se traduziu no resultado que temos hoje: o desaparecimento dos banqueiros, com relevo para Ricardo Salgado; a implosão por falência de alguns accionistas de bancos, como aconteceu com ex-donos de acções do BCP; o colapso de bancos, como aconteceu com o Banif, o BES e o BPN e finalmente a compra das instituições financeiras por entidades estrangeiras.
No livro “The End of Alchemy” de Mervin King, ex-governador do Banco de Inglaterra, pode ler-se: “Todos queremos que os depósitos estejam seguros e também queremos financiar projectos arriscados. Como podemos fazer a quadratura do círculo?” Não podemos nem devemos. Pelo menos se queremos garantir a segurança dos depósitos e não lamentar que se use dinheiro dos contribuintes para salvar bancos. Porque será sempre assim que a história de crédito fácil acabará: ou a salvar os bancos com dinheiro dos impostos ou a vendê-los a estrangeiros por não haver quem tenha dinheiro para os comprar.
A entrada de accionistas estrangeiros na banca é apenas mais um capítulo de uma história de mais de cinco anos em que vamos resolvendo o nosso problema de dívida também a vender o que temos. Na banca, nos sectores da energia e das telecomunicações ou até no imobiliário. Podemos ter a certeza que estaríamos a viver tempos muito mais difíceis se ninguém quisesse comprar o que temos. Assim, a vender as empresas e bancos, também se alivia a austeridade sem se conseguir virar, ainda, essa página construída durante quase década e meia de endividamento.