Título: “Ditadura ou revolução?”
Autor: José Luís Andrade
Editora: Casa das Letras
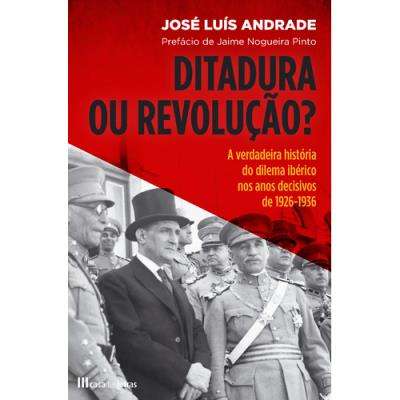
Ditadura ou Revolução?, o livro que acaba de publicar na Casa das Letras o meu amigo José Luis Andrade (está feita a declaração de interesses), subintitula-se “a verdadeira história do dilema ibérico nos anos decisivos de 1926-36” e traz inúmeras luzes sobre aquilo que é – nas palavras do prefaciador (outro amigo, que se lhe há de fazer) – “um período pouco estudado”, pelo menos da maneira sistemática, minuciosa e documentada que torna este livro especialmente valioso, assente numa vasta, aturada e eclética consulta das fontes. Cobre uma parte muito relevante da década “baixa e desonesta” de que falava Auden no seu famoso poema (é fácil de encontrar: intitula-se September 1, 1939). Nesta década não menos baixa e desonesta que nos toca agora atravessar expiram de novo muitas “astutas esperanças” e podemos dizer outra vez, com o poeta, que “ondas de medo e ira circulam sobre as terras claras ou obscuras do planeta, obcecando as nossas vidas privadas”. Cheira outra vez a morte.
As “histórias paralelas” que se narram neste livro não são rigorosamente paralelas pois muitas vezes se tocam ou entrecruzam. Têm evidentemente muitos pontos em comum, embora desfasados no tempo. No que respeita a Portugal, narram-se os antecedentes, os intrincados e conturbados primeiros tempos da Ditadura Militar saída do 28 de Maio e a consolidação do Estado Novo e da “branda ditadura” de Salazar; a Revolução ficava, de momento, no passado, na guerra civil endémica que a República viera institucionalizar.
Quanto a Espanha, a história deste tempo é outra: é a história de um brutal “processo revolucionário” que culminou na guerra civil que começa no ano em que acaba Ditadura ou Revolução? (Para uma visão ficcionada deste período há um grande romance, o Madrid, de Corte a Checa do Conde de Foxá. Escreve José Luís Andrade, sobre uma das vagas de repressão que o Governo republicano espanhol lançou, depois de uma intentona militar, que “seriam detidas milhares de pessoas, independentemente da sua participação ou não na revolta; bastava apenas a sua origem social, a sua adesão confessional ou as suas inclinações políticas”. “No es esto, no es esto!” escreveu num artigo célebre e retumbante o pensador republicano Ortega y Gasset; mas era: como o anarco-comunista Victor Serge explicara anos antes, “a justiça revolucionária”, ao contrário da justiça burguesa, aplica-se às pessoas “não pelo que tenham feito mas pelo que são”.)
Em ambos os países, quando em Portugal os sindicalistas da CGT ainda troçavam de “um grupo de indivíduos que pomposamente se intitulam “Partido Comunista”’, este foi o período, no entanto, em que o Komintern – a Internacional Comunista fundada em 1919 por Lenine, dissolvida em 1943 e ressuscitada por Estaline sob outra forma como Kominform, em 1947 – forjou e aperfeiçoou grande parte das armas que tão fielmente serviriam os propósitos do Kremlin de Estaline e dos seus sucessores.
Os Partidos Comunistas, “secções” nacionais da Internacional sob o comando do PCUS, “quintas colunas” de uma potência de ambições globais, seriam até à implosão da União Soviética uma eficiente e submissa máquina de espionagem, influência e conquista do poder ao serviço da política externa da grande potência comunista. Esse papel acabou, como acabaram ou ficaram reduzidos a uma medíocre insignificância quase todos os antigos partidos comunistas – com a notória excepção do PCP, graças àquilo que um velho amigo meu chamava o seu “miguelismo”: ao contrário dos que haviam optado por um aggiornamento que se revelou fatal, nunca renegaram a sua história, por mais infame que tenha sido, nem desmentiram os seus lemas e propósitos revolucionários, e eles os continuam a guiar, através de todas as necessárias contorções. É dos casos em que se pode dizer como no título de um velho panfleto americano da Guerra Fria, You can trust comunists … to be communists.
Dizia Nietzsche – e repetiu em português Pessoa – que “não há factos, há só interpretação dos factos”. Pessoa ia mais longe: não é contra factos que não há argumentos, é contra argumentos que os factos contam pouco. Percebemos o que ambos queriam dizer. Toda a história é uma interpretação, mesmo quando parece apenas one damn thing after another. Mas lá que há factos, há. “Os meus livros – disse um polemista britânico – sustentam sempre, é claro, uma tese, mas de nada valeriam se não respeitassem os factos.” E entre os factos devem contar-se, evidentemente, os argumentos.
José Luís Andrade tem o grande mérito de procurar sempre certificar-se dos “factos” – corrigindo de caminho muitas fake news de alguma historiografia geralmente aceite – e de dar frequentemente a palavra aos protagonistas da época, sempre com acutilância, fluência e sem perder o fio à meada. O que uns e outros disseram é um facto que muitas vezes ninguém se preocupa em verificar ou estudar. A “batalha pela história” – como lhe chamou o historiador militar John Keegan, a propósito das controvérsias sobre a Segunda Guerra Mundial – é uma batalha sem fim, como se torna a ver numa recente polémica sobre “o lado positivo de Estaline” que faz parte, ao que parece, dos programas oficiais de ensino no Reino Unido.
Nessa batalha, este livro importante ocupa uma trincheira pouco povoada, com o mérito de quem nunca “inventa factos para ter razões nem os oculta para as não perder” (do Prefácio). É de salientar, em especial, tudo o que se refere à ambígua omnipresença da maçonaria, cujo relevante papel e personagens, a um e outro lado da fronteira ibérica, se vão entrelaçando na evolução dos acontecimentos, e também o que diz respeito à relação neste período entre os governos de Portugal e Espanha – não menos ambígua – em que estão sempre presentes, mais ou menos amavelmente, as ambições ibéricas do nosso poderoso e fraternal vizinho.
Este livro lembra-nos, de passagem, que o tempo pode mesmo voltar para trás. Basta ler as páginas consagradas à nossa demanda em fins dos anos vinte do século passado do grande empréstimo externo que a muitos se afigurava como a única salvação para as nossas arruinadas finanças. Defendiam alguns que “as condições impostas (pelos ‘mercados’) eram uma ignomínia porque implicavam o controlo das contas do Estado”. Pensou-se então em recorrer à Sociedade das Nações e lá veio uma comissão técnica da SdN, um de cujos elementos tinha menos papas na língua do que a “troika”: “Não vimos aqui dar nada a Portugal. Viemos ver se é solvente ou não. Quem tem de pagar os erros do passado e os descalabros do presente são os portugueses.” O empréstimo não se fez. Salazar seria pouco depois, de vez, ministro das Finanças.
Ditadura ou Revolução? é uma disjuntiva fácil de entender, no contexto deste livro, mas enganadora: não há mais implacáveis e sangrentas “ditaduras” do que as da Revolução ou das revoluções. (Só por graça: o grande jornalista francês Albert Londres, sem ilusões, escrevia de Moscovo em 1920: “Em França proclama-se: ‘Nenhuma relação com (o regime soviético), enquanto não entrar na linha democrática. Ele que dê o sufrágio universal ao seu povo e nós reataremos relações com ele.’ Será possível que estejamos ainda nesta fase? Foi justamente contra a democracia, contra o sufrágio universal que o bolchevismo fez a sua revolução. Não foi por acaso, não foi pela força das circunstâncias, que deitou abaixo essas velhas conquistas, foi por princípio. O que Lenine veio instaurar na Rússia não foi uma república, foi uma ditadura.” Lenine nunca enganou ninguém. Há quem tenha levado muito mais tempo do que Albert Londres a perceber.)
Não há nada como o realmente.
















