“Já viste o prato que aparece nas fotos? É espetacular! Foi uma peça feita por encomenda, para uma apresentação no Congresso dos Cozinheiros. Eu e o Diogo [Veladas, outro cozinheiro seu aluno] quisemos fumar umas coisas ali mesmo e este prato foi pensado para permitir isso. É mais elevado, permite que as brasas fiquem lá em baixo, e uma das suas metades tem dois fundos: um com furos, para passar o fumo e outro amovível, sólido, que nos permite parar essa processo quando quisermos. É algo único!”
Foi com este entusiasmo que o chef Nuno Diniz recebeu o Observador. Em plena Escola de Turismo e Hotelaria de Lisboa, o autor do novo livro “Entre Fumos e Ventos – Fumeiros e Enchidos de Portugal”, que nesta casa também leciona a disciplina de Culinary Arts, não conseguiu esconder o seu entusiasmo sobre algo que para muitos pode parecer banal — um prato. A verdade, porém, é que não é preciso muito tempo para perceber que esta forma de reagir vai mais além, não se limita a uma simples peça de cerâmica. Ela gira em torno do mundo da gastronomia e suas ramificações.
Como qualquer apaixonado por uma área específica, Nuno Diniz defende com unhas e dentes as suas convicções e muitas delas estão soltas pelas páginas deste que será, seguramente, o maior compêndio português dedicado aos enchidos e ao fumeiro. Desengane-se quem achar que é um tema menor: folheando estas páginas dá para perceber que algo que aparenta ser tão simples e quase banal é o reflexo de uma cultura, da evolução de um povo e de todas as envolvências (e acasos, muitas vezes) que pautaram esse caminho.
Este “Entre Fumos e Ventos – Fumeiros e Enchidos de Portugal” é, portanto, o resultado de 14 anos passados a vasculhar aldeias e sítios escondidos pelo interior rural do país, que culminaram numa espécie de enciclopédia onde pode ficar a conhecer — e até provar, já que uma das características interessantes da obra é o facto de ela ter todas as informações necessárias para que qualquer um as possa ter em casa — mais 110 variedades de fumeiro. Um trabalho de pesquisa como este merece ser conhecido ao pormenor e foi por isso que conversámos com o chef que o assina. Nas linhas que se seguem pode ficar a conhecê-lo melhor e deambular pela história de senhoras que convidam estranhos para conhecer os seus chouriços, a aparente ignorância de um povo que tem como um dos seus símbolos o fumeiro e as incríveis justificações para a variedade imensa de iguarias que vivem espalhadas por Portugal — pelo menos por enquanto, já que estão em constante risco de desaparecerem.
Este livro esteve para não acontecer, não é verdade?
O livro tem algumas coisas que considero únicas. Em primeiro lugar, o tempo. Passei 14 anos a investigar, é muito… O mais engraçado é que em 13 desses 14 anos não contava vir a fazê-lo, o processo de investigação fazia parte natural da minha vida enquanto cozinheiro, investigador, gastrónomo, cronista… Uma das coisas que sempre quis fazer foi realizar um levantamento das imensas tradições que existem neste país, que é tão pequenino mas tem uma gastronomia (e cultura a si associada) tão impressionante. Depois, ao fim desse tempo, começaram a falar-me em compilar essa minha investigação, especialmente o Diogo Veladas [cozinheiro e aluno do chef], que sempre insistiu para que fizesse o livro. Quando me convenci de que ia seguir em frente com este projeto fiz uns três ou quatro contactos, com editoras, e acabei por desistir. Toda a gente com quem falava era muito simpática, todos faziam o que eu queria mas diziam-me sempre que tinha de arranjar um patrocínio. “Como é que é? Eu é que tenho de arranjar um patrocínio?” — depois percebi que isto afinal é prática normal, que uma pessoa que queira escrever um livro tem de encontrar um patrocínio qualquer. Eu disse que não, desisti. Entretanto o Diogo continuou a chatear-me e aparece a Bertand. Tenho uma reunião com eles e garantiram-me que eram eles a fazer tudo — aí começa a nossa associação.
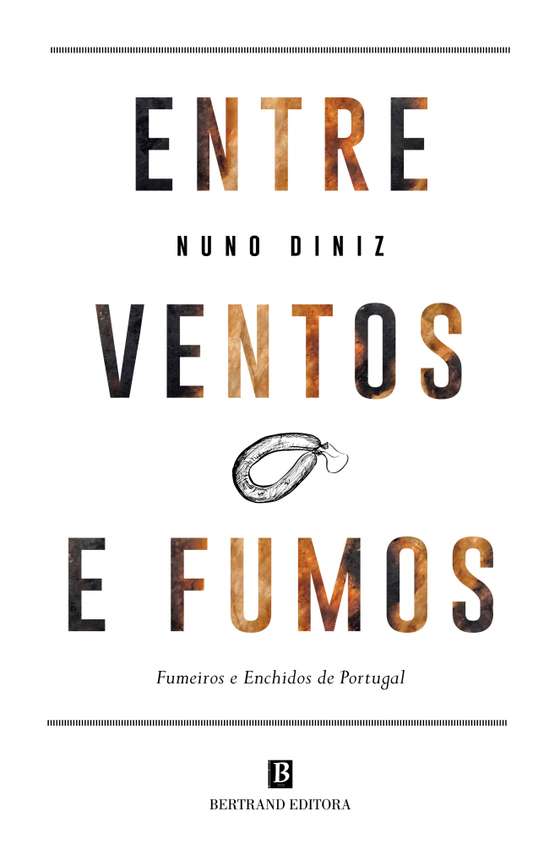
“Entre Fumos e Ventos – Fumeiros e Enchidos de Portugal”; ed. Betrand; 18,80€
Tanto quanto se sabe, a escrita da obra foi quase feita em tempo recorde, não?
Combinei prazos com a editora, mas depois o livro, muito à portuguesa, acabou por ser escrito em 10 ou 12 dias. É escrito absolutamente de rompante e feito com base em notas minhas, que estavam espalhadas por sítios muito diferentes. Há outra característica neste trabalho que eu acho muito importante que é o facto de ser — utilizando uma linguagem mais em voga — “no bullshit“. Ou seja, o que está aí, é. Não há nada inventado, não há imaginação ou invenção… Tudo o que está aí é absolutamente real. Não tenho motivo nenhum para ser modesto ao afirmar que faço os três cozidos mais famosos do país e as pessoas, ao longo destes anos, vão me perguntando “Ah chef, gostava de fazer um cozido mas é claro que não me vai dizer quem são os seus produtores”… Eu fico sempre muito espantado com esta forma de pensar porque não há nada mais ridículo, mais estúpido, que o segredo. Não há nada mais cretino, inseguro e ignorante que isto. Eu sou pela negação absoluta dessa forma de pensar.
Ainda para mais associado a uma arte que necessita muito, nesta altura então, de ter visibilidade…
Não há arte ou atividade nenhuma que justifique o segredo. Quando estamos a falar da cozinha, então, falamos de algo tão pessoal (pelo menos ao meu nível) que se nós os dois fizéssemos a mesma receita a minha ficaria sempre diferente da tua. Há coisas que fazem parte do meu estilo e ele não tem necessariamente de ser igual ao teu. Dito isto, o livro pretende ser completamente “anti-segredos”. Não só juntei receitas completas minhas como também associei os números de telefone dos produtores. Quem os quiser provar só tem de fazer uma chamada.
Numa entrevista recente diziam que havia uma clara ternura nesta sua obra. O que acha disto?
Uma coisa vem com a outra, ou seja, a honestidade levou à ternura. As pessoas foram tão extraordinárias comigo, tão dadas… Eu tenho muito pouco interesse em conhecer os outros, não tenho paciência nenhuma e zero curiosidade sobre a vida dos outros e, mesmo assim, ao conhecer todas as pessoas de quem falo no livro, foi impossível não pensar “Bolas, realmente ainda há gente com um grau de pureza que merecem bom tratamento”. Este livro é um bocadinho uma devolução de afetos, de carinho, de tanto que aprendi…
A minha primeira ideia ao fazer isto é impedir que coisas preciosas se percam. E isto não é saudosismo, é realidade. Não me estou a preocupar-me com uma coisa de há 200 anos, estou a falar de coisas de hoje. Tudo isto existe [põe a mão em cima do livro]!
É um agradecimento?
Sem dúvida, isso mais que tudo. É simbolizado pelo fumeiro e os enchidos mas que podia ser em muitas outras coisas. Eu tenho uns cinco mil livros de cozinha em casa, uma quantidade disparatada mas leio-os todos os dias, não os tenho só para enfeitar. A juntar a isto tudo sou professor e sou chef, há muitos anos. Também escrevo e, fora do meu mundo que as pessoas possam conhecer melhor, componho música, tenho 25 anos de râguebi, fiz rádio durante 25 anos com o António Sérgio… Tudo isto fez com que eu tenha uma noção muito clara de uma coisa muito arrogante e que é compensada por outra que vem logo a seguir: eu sei muito, mesmo muito, mas tenho também ainda muitíssimo para aprender. Este livro serve então para dizer que está aqui esta gente toda, aprendi com eles todos (e continuo a aprender) e o meu papel agora é contar aos outros que eles (ainda!) existem, apelando para que tenham cuidado e não os deixem desaparecer. Se isto acontecer, por muito movimento vegetariano, glúten e companhia (outra coisa para a qual tenho zero paciência e não disfarço) que haja por aí, há uma parte muito importante do país e da sua história/cultura que vai com eles. Isto porque grande parte da nossa originalidade enquanto país tem muito a ver com a nossa história da alimentação.
De que forma?
Costumo dizer aos meus alunos que se alguma vez alguém lhes disser “Não é assim que isso se faz”, que lhe respondam logo o seguinte: “O chef Nuno Diniz disse para lhe perguntar quem é que decide como é que se faz.” Este é o grande problema: quem é que dita a forma de fazer as coisas? O amigo do senhor Brás? O primo do Zé do Pipo? O colega de escola do senhor Priscos? Em 90‰ dos casos não existem registos originais a dizer como são feitas as receitas históricas. Um exemplo disto, sobre o qual até falo no livro, é a da alheira sem porco. Se chegarem a Trás-os-Montes e disserem que querem uma alheira sem porco, vão ficar a olhar para vocês a pensar “De onde é que este bicho saiu?” É evidente que a história dos judeus é muito engraçada [diz-se que a alheira surgiu pela mão dos judeus em Portugal que, durante a época da Inquisição, fingiam ter-se convertido ao cristianismo ao apresentarem enchidos que pareciam ser de porco mas na verdade era de outras coisas], mas também é evidente que não é real. Não faz sentido! Se não leva porco, que tripa é que usam para fazer os invólucros? Vão matar vacas de propósito só para lhes tirar as tripas? Nada disto faz sentido nenhum, mas é muito engraçado. A nossa culinária está cheia deste tipo de histórias que dá cor e vida permitindo, ao mesmo tempo, que haja um prato com o mesmo nome em duas aldeias vizinhas mas que seja completamente diferente em ambos os lados. É por causa disto que é impossível dizer a alguém “não é assim que se faz”. De certeza absoluta que há um lugar qualquer onde o método utilizado é exatamente esse — e há muito muito tempo.
Então se não há uma espécie de Bíblia que diga “isto faz-se assim e sempre foi assim”, em que é que se baseia a tradição?
Para mim, a tradição é inovação. Inovação que como era boa foi consolidada com o passar do tempo, transformando-se por isso em tradição. Houve uma altura em que foi novo… Depois, como é muito bom, resiste à passagem do tempo, mas não de forma intocável — por um motivo muito simples. Há 200 e 300 anos não se cozinhava com manteiga, não havia margarina, usava-se essencialmente banha de porco. O clima também mudou, os alimentos mudaram… A tradição é algo que está em constante mutação. As pessoas podem ter a tendência de associar o fumeiro e os enchidos a produtos tradicionais mas eu não estou muito de acordo com isso, prefiro pensar antes numa história viva, que se vai replicando e vai evoluindo. As mutações que vão surgindo é que permitem existir um livro, com mais de 100 variedades de enchidos, mas que podiam ser mais. São essas pequenas mutações que levam os ignorantes (estamos carregados deles e de intolerantes, também. Costumam andar sempre felizes e de mão dada, estes dois) a dizer que só existem quatro ou cinco variedades. Não são quatro ou cinco porra nenhuma. Há realmente mais de 100.

Esta “Farinhota do Barroso” é difícil de encontrar mas existe ainda em Boticas e Montalegre, Trás-os-Montes. Leva carne de porco, água, abóbora, vinho, farinha de centeio, sal, alho, colorau e picante. ©Marta Teixeira
Consegue exemplificar?
Vamos pensar num prato de bacalhau que toda a gente conhece: o bacalhau à Brás. Alguém normal acha que ele é igual ao Gomes de Sá? No entanto os ingredientes são os mesmos, só um é que varia. O resultado final é parecido? Não. Outro exemplo ainda melhor: alguém acha que um pão bijou do Porto é parecido com um pão Alentejano? Quais são os ingredientes? Não é sempre farinha, sal, água e um qualquer tipo de fermento? É evidente que o facto dos ingredientes serem comuns não invalida, de forma nenhuma, que o produto final seja diferente, daí justificar que não existem só “quatro ou cinco” tipos de enchidos e fumeiro. Só quem nunca provou é que pode achar que uma farinheira de Trás-os-Montes tem qualquer comparação com uma da Estremadura. São coisas completamente diferentes, a única coisa que têm em comum é o nome. A minha preocupação — e aquilo que tento fazer neste livro — é a preservação de uma tradição que não parou e continua a evoluir. A minha primeira ideia ao fazer isto é impedir que coisas preciosas se percam. E isto não é saudosismo, é realidade. Não me estou a preocupar com uma coisa de há 200 anos, estou a falar de coisas de hoje. Tudo isto existe [põe a mão em cima do livro]! Eu escrevo no fim do livro, até com alguma mágoa, que desde que terminei o livro com certeza já desapareceram alguns dos produtos de que falo. Ao mesmo tempo também estou seguro de que alguma coisa nova apareceu. Este apareceu, atenção, não é a invenção no sentido em que pego num iphone ponho-o dentro de uma fritadeira e digo que inventei um prato. Estou a falar de coisas reais e que servem para comer.
A comida tradicional está de boa saúde?
Portugal tem uma grande cozinha regional mas ela, infelizmente, quase já não existe. Está muito conspurcada, alterada e escrava de ingredientes industrializados. Uma das coisas que este livro não tem, propositadamente, é a referência a produtos tipo RX 25, M23-48… Esse género de coisa. Não aparecem porque eu não sei o que são. Isto fez com que imensos produtores — que eu até admito que têm qualidade — ficassem de fora. Eu não posso estar a fazer um livro onde falo de ingredientes que eu, cozinheiro, não sei o que são. Só aparecem aqui, portanto, coisas como o vinho, a cebola, alho… As coisas normais que as pessoas sempre tiveram em casa…
E que funcionaram durante tanto tempo…
Continuam a funcionar!
Como foi a relação com as pessoas de que fala? Os vários produtores que habitam, essencialmente, as zonas mais rurais do país?
Muita dessa gente é absolutamente encantadora, mesmo. Só conhecendo-os é que percebemos como é verdade. A tal ternura de que já falámos tem a ver com isto. As pessoas não têm a menor noção do valor daquilo que fazem, esta gente não sabe o que está a fazer. Ao haver pessoas da área, mais velhas e muito reconhecidas, a dizerem-lhes que aquilo que fazem é extraordinária, os gajos até choram. Nunca ninguém lhes disse isso, nunca ninguém lhes deu valor nenhum…
E muito provavelmente também são do tempo em que aquilo que fazem era apenas uma prática normal do dia-a-dia, quase uma rotina…
Isso ainda não seria mau! O pior é que como aquilo até é considerado um trabalho menor, a primeira reação dos filhos é: “Nunca na puta da vida vou fazer isto!” Eu no Natal decidi fazer um filme sobre a matança (tenho um capítulo do livro dedicado a isso, até) e ficou absolutamente brilhante. Ontem tivemos a vê-lo aqui na escola, numa aula. Vê-se quem está a matar, vê-se quem está a fazer os enchidos, vê-se as pessoas a lavar as tripas no rio, vê-se tudo. Até se veem duas miúdas que ainda não são suficientemente crescidas para dizerem que não querem participar. Tudo o que está a cima dos 16/17 anos até aos 30 e tal querem é distância daquela merda. E isto são pessoas que vivem lá, atenção! Isto acontece porque a própria profissão não tem sido dignificada, que é uma das coisas que tento fazer. Estas pessoas são artesãos e artesãs, são pessoas que sabem perfeitamente o que estão a fazer. Eu, que tenho a mania que sou muito bom, não consigo reproduzir da mesma maneira. A simples forma como matam, a exatidão do gesto, o saber exatamente onde têm de meter a faca para tirar tudo certo… Isto é uma arte inacreditável, uma coisa que vem de geração em geração. Os meus alunos, ontem, ficaram espantados ao ver o filme, ao vê-los a acertar nos sítios certos com facas manhosas, não há cá coisas de marca. Quis registar a existência destas pessoas e fazer-lhes uma homenagem. Este é o lado que me toca mais, o facto de ser um livro de afetos apesar do tema não puxar nada isso.

É nos arredores de Castelo Branco que se encontra o único produtor deste “Plangaio”, a Salsicharia Verganista. Trata-se de uma mistura de gordura e entrecosto de porco, sal, alho, cominhos, farinha e colorau. ©Marta Teixeira
Voltando atrás no tempo, aos momentos que precederam esses 14 anos de investigação. O que lhe passou na cabeça para começar a calcorrear o país à procura de enchidos?
Parti para isto com uma ideia muito clara: “Eu quero conhecer melhor a cozinha do meus país.” Sou chef, domino a cozinha francesa, italiana, a grega, a do norte de África, a da América do Sul (eu fui a primeira pessoa a falar da cozinha peruana quando ainda ninguém sabia dela)… Eu dominava as cozinhas todas menos a minha. Decidi começar a viajar para comer, uma coisa que os chefs gostam muito. Ia a sítios muito esquisitos e de vez em quando aconteciam episódios especiais. Eu passava num sítio, parava para ver (fico sempre muito espantado com a pedra, a dureza, a aridez… é algo que me toca profundamente) e as pessoas, que viam um gajo estranho ali parado, metiam conversa. Eu sou muito pouco assim, sou um citadino. Acontece que quando uma pessoa sai da cidade e vai parar àqueles sítios tão pequeninos e bonitos, se alguém o chama a convidar beber um copo ou comer uma chouriça, um gajo vai. Isto foi acontecendo uma e outra vez e eu fui ficando cada vez mais admirado com o que via. “Como é que eu não conheço nada do que está aqui’?”, “O que raio é um chouriço de abóbora?”, “Porque é que eu não conheço quase nada do que está pendurado neste fumeiro?”, “E ainda me considero um chef?”. Foi assim que começou, comigo a perguntar “Oh meu cabrão, não tens vergonha? Não achas que tens de ir estudar?” Obviamente tive e, quando começo a perceber a dimensão, começo a tomar notas.
Daí o livro.
As coisas depois começaram a desenvolver-se e as notas acabaram por ser vitais quando surgiu a possibilidade de fazer um livro. Há episódios engraçados, no meio disto tudo, que começaram a surgir depois de ter participado no Top Chef, o programa de televisão que lançou cozinheiros como o João Sá ou o Alexandre Silva. Depois disso, eu que já era muito bem recebido passei a ser um deus. Quando um gajo faz televisão as portas escancaram-se completamente. Nunca me vou esquecer de uma das vezes que fui a Montalegre e recebi uma mensagem enviada por um tipo que me reconheceu. Ela dizia que o senhor presidente da câmara tinha muito gosto em que eu o recebesse. Não era o contrário! A partir daqui ficou tudo mais fácil e ganhei acesso a ainda mais informação. Surge assim também a vontade de querer preservar. Começo com os cozidos [eventos organizados pelo chef onde são servidos inúmeros enchidos e peças de fumeiro de todo o país] e a certa altura a mensagem passou a ser outra, quis preservar por escrito, também. Acabei por perceber que surgiam necessidades profissionais de colegas que queriam ter acesso a produto a sério mas não sabiam como. Quando começo a escrever o livro não era evidente que queria pôr os telefones e moradas dos produtores, só a meio é que me lembrei disso — daí não ter de todos, alguns já não fui a tempo de inserir. A ideia é mesmo divulgação, divulgação, divulgação.
Desde que nos dermos ao trabalho de sair da autoestrada, por todo o país vamos encontrar — cada vez é mais difícil — pequenas capelas de bem comer. Só temos de perguntar às pessoas. A internet não tem grande utilidade nestes aspetos, é raro aparecerem outras coisas que não as profundamente comerciais.
Tem falado várias vezes de algo a que chama de “cozinha popular elitista”. Consegue explicar o que isso é?
É um conceito que inventei há menos de um ano e que tenciono explorar profundamente. É aquilo que eu acho que a minha comida é, neste momento. Este livro é de cozinha popular elitista. Não tem de ser necessariamente cozinha tradicional mas sim popular, no bom sentido. Não é popularucha nem populista. Não é Assunção Cristas nem nada disso. É algo que é simples mas extraordinário, é o ingrediente puro, é aquilo que custa trinta cêntimos o quilo mas que não há na cidade e é preciso mandar vir, o que faz com que passem a custar uma fortuna mas, quando provamos, um gajo diz “Foda-se! Inacreditável.” É nisto que estou interessado. O que é um produto elitista? Uma trufa branca de Alba. O que é o popular elitista? É aquilo que não é caro mas que não é fácil de arranjar, dá luta, implica procurar, dá trabalho a apreciar.
Aqui estão reunidas cento e poucas peças de fumeiro do país inteiro. Como é que se consegue explicar que num país tão pequeno haja tanta variedade de um só tipo de produto?
A resposta é muito simples mas inesperada: não é possível explicar. Se nós pensarmos em grandes gastronomias pelo mundo fora quase sempre vamos bater em países razoavelmente pobres ou com uma população maioritariamente pobre. Em primeiro lugar, um elemento da explicação é este. Em segundo lugar há um aspeto interessante que é os problemas que trazem o progresso. A definição absoluta do progresso implica que quando ele chega manda fora tudo o resto. Nós, como outros países de gente pobre, temos uma geografia muito acidentada — veja-se o Peru, por exemplo. Todos estes países têm muitas zonas isoladas e a vantagem de as ter é que o cabrão do progresso vê-se fodido para lá chegar. Quando chega às serras, arrepia caminho. Portanto, a zona de Trás-os-Montes como a zona da serra do Caldeirão, por exemplo, conseguiram resistiram-lhe durante muito tempo. O progresso destrutivo chegou tão tarde a Trás-os-Montes que quando apareceu já lá haviam gajos como eu ou tu a dizer às pessoas para esperarem, para não deitarem fora o que tinham porque havia muita coisa boa, faltava equilibrar. Isto permite que tenhamos uma quantidade louca de tradições porque a puta da conversa sobre os produtos fumados criarem cancro, por muita honestidade que tenha associado, como há aconteceu há uns dois anos, não chegou há trinta anos. Se tivesse, e se tivesse chegado a essa zona do país, não tínhamos um enchido. temos de ter muito cuidado com este tipo de coisas. A mensagem é sempre boa, eu sei, mas nunca é bem passada.
Por exemplo?
Quando se fala de carnes processadas não falamos das que são feitas através de métodos tradicionais, estamos a falar dos químicos todos. O problema é que depois faz-se tábua rasa com isso tudo. A propósito de tábua, por exemplo, temos os génios que mandam nessa Europa e que descobrem que as tábuas de madeira talvez não sejam muito boa ideia… Traduzem-se, em Portugal, a uma proibição. Aquilo que era desaconselhado, em Portugal ficou proibido e, de repente, toda a gente deitou a madeira fora e comprou plástico. Uns anos mais tarde volta-se a falar do assunto e começa-se a ouvir que afinal não era bem proibido, desde que seja limpo… Oh que caralho, é evidente! As putas das tábuas amarelas e vermelhas e não sei quê também têm de estar limpas! É esta a forma como o progresso mal interpretado funciona, erradicando o que estava antes. Nós tivemos essa vantagem. A não existência deste tipo de coisas fez com que as aldeias isoladas e com necessidade de aproveitar completamente o porco tivessem de arranjar soluções alternativas para a conservação.
De que género?
O povo é muito inventivo mas também é muito aldrabão. Se a tia Maria fazia uma salmoura, o vizinho do lado pensava “faço salmoura porra nenhuma” e atira com sal em bruto para cima daquilo. O resultado final é diferente e com o tempo vai dar origem a produtos diferentes. Para mim a explicação de haver tanta variedade é a existência de uma matriz comum e ela vai evoluindo porque somos naturalmente aldrabões no bom sentido (temos produtos em excesso que o vizinho não tem por isso toca a pô-los lá dentro), e porque estamos sujeitos as casualidades da vida: em determinado ano houve carne mais gorda e no seguinte foi mais magra; o clima esteve mais húmido, em vez de se utilizar lenha de azinho para fumar aproveita-se a quantidade louca de carqueja que houve em determinada altura… Os resultados vão sendo completamente diferentes. Há tantos fatores a contribuir que uma industrialização destes processos tende a criar uma coisa que eu não quero nada, a normalização. A última coisa que eu quero é ter 15 queijos a que chamam “tipo Flamengo” e todos parecem sabão, não têm sabor nenhum. Tenho de usar e abusar do pouco poder que ainda tenho para falar, chatear, escrever. É a única forma de conseguir ter a garantia de que em breve não direi que o único país com diversidade no mundo é o Peru. Por enquanto ainda posso dizer que Portugal também é, apesar de coisas como as leguminosas estarem praticamente extintas, por exemplo.

A última parte do livro é dedicada a receitas criadas pelo chef Nuno Diniz. No total estão lá mais de 40 e estas Madalenas de Linguiça fazem parte dessa listagem. ©Marta Teixeira
O que é que acha que os portugueses não sabem sobre o seu fumeiro?
[risos] Eu acho que não sabem quase nada. Os portugueses em geral são como eu era há 30 anos. Comia uma coisa em casa chamada cozido à portuguesa, onde havia farinheira, chouriço, com um bocado de sorte morcela e talvez mais outra coisa. Quem vier a um cozido meu (e não estou a fazer publicidade… não preciso), que são três por ano, come 40 em cada um. Basicamente não sabem nada, quanto muito sabem localmente. Ignoram completamente que existem outras coisas. O isolamento funciona para os dois lados, tanto para atrasar a entrada de coisas novas como para a saída das coisas antigas.
Vamos pensar numa pessoa de um grande centro urbano que queira conhecer mais, conhecer coisas que estão neste livro, por exemplo. O que pode fazer?
Desde que nos dermos ao trabalho de sair da autoestrada, por todo o país vamos encontrar — cada vez é mais difícil — pequenas capelas de bem comer. Só temos de perguntar às pessoas. A internet não tem grande utilidade nestes aspetos, é raro aparecerem outras coisas que não as profundamente comerciais. Vão passear, visitem a província e depois, localmente, metam conversa com as pessoas que vão encontrando — elas respondem! Isto vai poder mostrar-lhes cabidelas deslumbrantes, caldeiradas espetaculares, um ou outro sítio onde se faz um cabrito genial. Se houver alguém na família (como é o meu caso) com fama de que costuma passear para comer, a outra hipótese é falar com ela. Uma coisa é certa: em todo o país se vai encontrar grande comida. As culturas vão e vêm, a gastronomia mantém-se. Temos ainda hoje pratos de origem romana, árabe… Há quanto tempo é que eles saíram de cá?

















