Título: O Papa. Francisco, Bento VXI e a decisão que chocou o mundo
Autor: Anthony McCarten
Editora: Objectiva
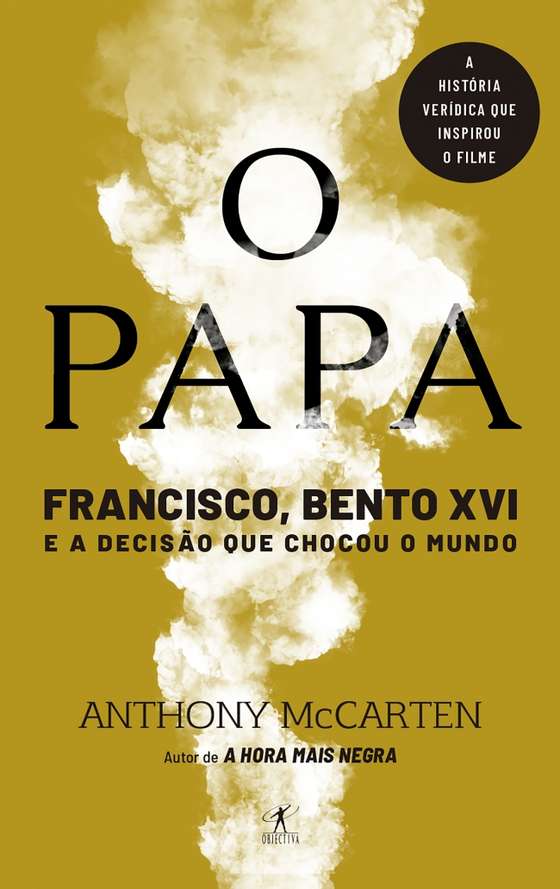
A motivação para este livro vem de uma interrogação do autor feita a Eva, sua “cara-metade”, na praça da Basílica de São Pedro: quando é que o mundo tivera pela última vez dois papas vivos? A pergunta inspirou o livro, o livro inspirou o filme produzido pela Netflix com Anthony Hopkins e Jonathan Pryce.
Uma tradição de 700 anos foi quebrada a 11 de fevereiro de 2013: o papa Bento XVI anunciou a sua renúncia. A idade avançada foi o pretexto para abdicar, após três anos de escândalos e crises no interior da Igreja. A 17 de dezembro de 2012, os cardeais Julián Herranz, Josef Tomko e Salvatore De Giorgi entregaram a Bento XVI um relatório de dois volumes conhecido como “dossier vermelho”. No seu interior, trezentas páginas denunciavam uma rede de clérigos homossexuais no Vaticano, que se reunia regularmente para a prática de atos sexuais, muitas vezes com prostitutos.
Depois de celeumas com os judeus, com os muçulmanos e devido a acusações de lavagem de dinheiro, foi nesse dia, segundo McCarten, que Bento XVI entendeu não ter mais forças para continuar. Cerca de dois meses mais tarde, abdicou. O pontificado durou 8 anos. Iria manter, no entanto, o título de “Papa Emérito”. Era a primeira vez que, desde 1415, havia dois papas vivos.
Bento XVI foi o terceiro papa a renunciar. Gregório XII renunciou em 1415, mas foi Celestino V o primeiro em fazê-lo, decorria o ano de 1294. A gravidade de tal ação ficou registada no terceiro canto da Divina Comédia. “Depois de haver alguns reconhecido, vi, conheci, da sombra a lividez que por vileza a mor escusa há tido”, afirmou Dante sobre Celestino V, na antecâmara do Inferno.
Quebrou-se um dogma: um papa deveria morrer em funções. O facto de a decadência acontecer perante os olhos dos fiéis santifica a conduta, como Cristo na cruz. Assim aconteceu com João Paulo II até às três e meia da tarde de 2 de abril de 2005, dia em que sussurrou em polaco: “Deixem-me ir para a casa do Pai”.
A existência de dois papas vivos levanta interrogações ao dogma da Igreja: se há ideias tão antagónicas entre Francisco e Bento XVI, a quem devem atribuir a infalibilidade?; como podem dois papas terem a dádiva de Deus se só um pode ocupar a Cadeira de São Pedro?
O contraste entre o cessante e o eleito é bem evidente. Bento XVI não desperta empatia. É introvertido, desconfiado e dado ao luxo. Sente que “a recusa da Igreja a transigir e a mudar é a sua maior força”. É apelidado de “Rottweiler de Deus”, “Panzer Kardinal”, “Cardeal Não” e “Papa-Ratzi”. Para uns, é um “alemão agressivo e altivo, um asceta que carrega a cruz como se fosse uma espada”; para outros, um bávaro simples, com gosto pela bebida Fanta e que entregara a sua vida à “humilde veneração de verdades sublimes e imutáveis”.
Francisco é carismático, engraçado, aparentemente um homem humilde, outrora conhecido como o “bispo das favelas”, extrovertido e “defensor da teologia da libertação, um movimento católico que procura auxiliar os pobres e oprimidos através da participação direta na vida política e cívica”. Francisco apela à mudança, enquanto Bento XVI defende uma igreja imutável. Uma atitude de conservação em oposição a uma radical alteração de postura.
Bento XVI protegia a antiga doutrina. As reformas, que viriam a ser defendidas por Francisco, eram evitadas e adiadas.
Para si, a verdade era só uma: “Eu sou a verdade”, diz o Senhor. Desta forma, combatia a ameaça do relativismo que, segundo a sua opinião, iria impor o caos, a catástrofe e os conflitos. Francisco combateria esta inércia, radicalizando o discurso em sentido contrário. O atual Papa defendeu que os pagãos podiam ir para o céu (que culpa tinham em terem nascido e terem sido criados numa cultura pagã) e pediu desculpa aos homossexuais. Não é papel da Igreja julgar os homossexuais. “Deus fez-te assim e ama-te assim, e eu não me importo. O papa ama-te assim”, terá dito a Juan Carlos Cruz (vítima de abuso sexual). Bento XVI havia afirmado, logo após sete meses de pontificado, que a prática da homossexualidade era um pecado grave, imoral e contrário à lei natural.
As reações contra Francisco foram acintosas. O Arcebispo Carlos Maria Viganó, conhecido pelo seu conservadorismo, aproveitou os escândalos de pedofilia para acusar o Papa Francisco de ter conhecimento sobre os abusos sexuais cometidos pelo Cardeal norte-americano Theodore McCarrick muito antes de ter agido. Viganó criticou sem tréguas a demora das ações do Papa Francisco. Bento XVI saiu em sua defesa, adjetivando essas afirmações de “preconceito absurdo” imbuídas numa sanha anti-franciscana. Talvez nenhum assunto pudesse ser mais caro a Bento XVI. Foi perante tais problemas que o Papa Emérito percebeu não ter vigor para continuar. Ao não conseguir fazer frente a estes crimes, bateu com a porta.
São pecados que envolvem “botões, muitas vezes botões de crianças, fechos-éclairs, mãos, órgãos genitais, bocas; violações, traições, segredos, intimidações, mentiras, ameaças, traumas, desespero, vidas arruinadas; e tais prevaricações ocorriam num ambiente de beatice, com odor de incenso antigo”, afirma Anthony McCarten.
Outro ataque começou ainda antes do conclave que viria a eleger Ratzinger, quando se percebeu que Bergoglio podia ascender a Papa, e continuou já durante o pontificado de Francisco.
Três dias antes do início do conclave, foi enviado anonimamente um e-mail para todos os cardeais eleitores com acusações ao cardeal Jorge Bergoglio de “cumplicidade no rapto de dois padres jesuítas”, em Buenos Aires. Bergoglio exonerara os padres Olando Yorio e Franz Jalics uma semana antes de desaparecerem. Para McCarten, a repetida afirmação de Francisco sobre ser um pecador remete para as respetivas ações e omissões durante os dias negros da Guerra Suja, na Argentina.
Sobre Bergoglio, Yorio, um dos padres raptados, viria a dizer: “Não tenho quaisquer indícios que me levem a crer que Bergoglio nos queria libertar; antes pelo contrário.”
O silêncio e a falta de memória de Bergoglio viriam a perturbar o esclarecimento sobre o seu papel no desaparecimento dos dois padres. O tribunal, que analisou as declarações de Bergoglio sobre o seu papel e o da Igreja nesse período, declarou que o depoimento indicava “um profundo conhecimento sobre os factos investigados, mas também uma enorme relutância em facultar todas as informações.” “Fiz o que podia”, defendeu-se Bergoglio.
Sobreviveu às acusações, apesar de mal-esclarecidas, tal como Ratzinger havia sobrevivido quando confrontado com a sua frieza perante as atrocidades nazis. Nas suas memórias, Ratzinger não faz nenhuma referência à Kristallnacht ou à perseguição aos judeus. Não o fez, apesar de ter sido testemunha privilegiada. O biógrafo John Allen afirmou que enquanto a guerra e a perseguição eram ostensivas, Ratzinger “se entretinha a ler obras literárias de nomeada, a tocar Mozart, a acompanhar a família em viagens a Salzburgo e a praticar as conjugações latinas”.
Na bem conseguida comparação entre ambos os papas, McCarten demonstra para que lado cai o seu favoritismo. Para o autor, o novo Papa era “uma lufada de ar fresco, com um carisma de estrela de rock, e também a fazer John Lennon (tanto um como o outro foram capa da revista Rolling Stone).” A partir destas atitudes tão em voga, hoje, McCarten tira ilações algo manipuladas para se encaixarem com os seus próprios ideais. A concatenação de ideias agora consensuais fundamenta as ideias defendidas pelo autor. O relativismo parece ter ganhado a Bento XVI.
Anthony McCarten defende o que hoje é o politicamente correto, ou, dito de outra maneira, é consensual num mundo cada vez menos religioso. Podemos falar de obscurantismo, podemos falar de senso comum, mas o que importa para este caso é a diferença entre as ideias atuais de Francisco em contraste com a defesa de hábitos e ideias antigas, melhor dizendo, a defesa de uma âncora para que a Igreja e a “Verdade” não variem conforme os tempos. A defesa de Bento XVI.
O respeito une os dois Papas, mas dificilmente poderiam ser mais antagónicos nas ideias.
“Seja como for, a sua [Francisco], em termos puros e duros, parece – pelo menos parece-me a mim — indicar que a Igreja deverá ser menos insistente e mais inclusiva. Deverá conciliar com alegria os belos ensinamentos nas igrejas com os belos ensinamentos ministrados nas escolas”. Francisco é mais aberto à sociedade porque a contraria menos, tanto no discurso como nas ações, do que Ratzinger. Um tímido estudioso deu lugar a um homem de massas, uma “rock star”. Num Vaticano em crise, Francisco abre os dogmas à luz. Se ele defende que a história de Adão e Eva é uma parábola, o que o impede de abrir uma nova interpretação à história da criação em sete dias, ou à história da crucificação e ressuscitação de Cristo?
McCarten dá-se a conhecer e com laivos de sarcasmo diz de que lado está. A sua educação foi católica, reconhece que “uma marca destas é para toda a vida”, mas o credo é somente de boca. A sua família tinha uma vida de difícil de operários, o dinheiro escasseava, pelo que lhe seria útil ou inócuo rezar, pedirem ajuda divina e darem-se bem com a Mãe de Deus. Desde muito cedo demonstrou cinismo perante a liturgia:
“E lá ia eu, com aquelas vestimentas que já me ficavam dois números abaixo, levar ao padre as galhetas com a água e o vinho e, em seguida, as brancas e inocentes hóstias, ia transformar no verdadeiro corpo de Cristo. O milagre diário, mesmo à frente dos nossos olhos. O corpo de Cristo, abracadabra. Acredite quem quiser.”
Depois recorda Jorge Luís Borges, que chamou ao cristianismo de “ramo da literatura fantástica”, e Tácito, para quem o cristianismo era uma “superstição eminentemente perversa”. Anthony McCarten não engana o leitor. A sua opinião é denunciada e claramente explicitada nas páginas de “O Papa”. Sobre Ratzinger, o autor chega a afirmar:
“A renúncia de Bento XVI constitui, a meu ver, uma gritante (e indiscutivelmente nobre) admissão de culpa, cumplicidade e incapacidade”.
Não é por isso que o livro perde ou deixa de ter muitas qualidades. A dicotomia entre os dois papas é bem vincada, as explicações são claras e a capacidade de imbuir tudo isto numa história bem narrada são méritos que devem ser sublinhados. Uma opinião imparcial (existe?) aproximaria “O Papa” de um ensaio mais académico e menos de uma história com muita informação factual. O aprofundamento de alguns aspetos seria bem-vindo, mas talvez afastasse o livro do seu objetivo, ou seja, um livro para o leitor menos preparado em questões teológicas. McCarten é um “story teller”. Já o tinha demonstrado em A Hora Mais Negra, que fundamentou o filme protagonizado por Gary Oldman (ganhou o Óscar com esta interpretação), e volta a demonstrá-lo com este livro.
A mãe de Anthony McCarten, quando perante as dúvidas do filho sobre alguns aspetos do credo, respondia: “Anthony, o conhecimento, mesmo escasso, é perigoso”. Se é, o autor não teve medo. Procura desvendar os bastidores de uma instituição milenar e de dois homens, agora vistos como falíveis, que nos dão a palavra de Deus.
Concordemos ou não com o autor, o certo é que o seu livro consegue transmitir eficazmente as diferenças entre os dois papas e o que isso significa no seio da Igreja.
“O Papa” está longe de ser um cinzento ensaio académico. Procura e consegue comunicar com o leitor de forma clara e assertiva. E, por fim, deixa o apelo de um emissor indefinido. McCarten não especifica se é seu ou de Bento XVI: “Francesco, reconstrói a minha igreja”.

















