Índice
Índice
Poesia rima com carnificina?
A crer nos primeiros meses da I Guerra Mundial, dir-se-ia que a guerra desperta a veia poética. O conflito começou a 28 de Julho de 1914 e, durante o mês de Agosto, The Times de Londres recebeu diariamente uma centena de poemas dos seus leitores, ínfima parte de um caudal que daria origem nos anos seguintes a cerca de 3000 (três mil) volumes de poesia de guerra, só na Grã-Bretanha.
A esmagadora maioria desta “poesia de guerra” era de toada inflamadamente patriótica e produzida por poetrastos amadores, a maior parte dos quais pouco ou nada sabia de poesia ou de guerra. Mas foram também numerosos os profissionais a juntar-se ao coro: um dos mais famosos poemas associados à I Guerra Mundial foi Hassgesang gegen England (“Hino de ódio à Inglaterra”), de Ernst Lissauer, um poeta e dramaturgo judeu, que o seu amigo Stefan Zweig descreveu como “bondoso, afável, honesto” e possuidor “da melhor natureza que possa imaginar-se”, e que foi autor de um poema peçonhento e asinino, ressumando ódio cego e patriotismo fanático.

Ernst Lissauer (1882-1937), fotografado por Max Fenichel, c. 1932
O príncipe Rupprecht da Baviera, comandante do VI Exército, ficou tão agradado com Hassgesang gegen England que ordenou que fosse reproduzido e distribuído a todos os seus soldados e o Kaiser Guilherme II condecorou o autor com a Ordem da Águia Vermelha. Lissauer não disparou um tiro nem viu uma trincheira, mas daria outro significativo contributo para o esforço de guerra alemão ao cunhar a palavra de ordem “Gott straff England!” (“Deus puna a Inglaterra!”), que seria reproduzida sob as mais diversas formas pela propaganda alemã.
O ardor patriótico, a ingenuidade e o entusiasmo juvenil explicam não só poemas da estirpe de Hassgesang gegen England como a atitude leviana com que alguns intelectuais e literatos colocados na frente de batalha encararam uma guerra que julgavam ir terminar em poucos meses – provavelmente antes do Natal. Em Outubro de 1914, o poeta britânico Julian Grenfell (1888-1915), filho de uma família aristocrática e educado em Eton e Oxford, declarava numa carta à família, a partir da frente de batalha: “Estou a divertir-me mais do que alguma vez poderia imaginar. Adoro a Guerra. É como um grande piquenique mas sem a falta de propósito de um piquenique. Nunca estive tão bem e tão feliz […] [A guerra] adequa-se à minha natureza fleumática e à minha inclinação para a barbárie. A excitação da luta galvaniza tudo, o que vemos e o que fazemos. E o nosso amor pelo próximo nunca é maior do que quando estamos determinados a matá-lo”.

Julian Grenfell (1888-1915), em 1915
Um fragmento de obus pôs fim à vida do capitão Julian Grenfell em Maio de 1915, numa altura em que é provável que houvesse menos militares britânicos a partilhar da sua perspectiva da guerra como uma grande farra destinada a servir de escape aos ímpetos arruaceiros de jovens aristocratas estouvados e com sangue na guelra, recém-saídos dos colégios de elite.
Rupert Brooke, de origens mais humildes do que Grenfell, mas educado na reputada escola de Rugby e no King’s College de Cambridge e íntimo do círculo intelectual de Bloomsbury, foi o mais famoso autor de poemas de guerra de pendor patriótico: os sonetos “The dead” e “The soldier” causaram sensação quando foram publicados no The Times em Março de 1915 e a colecção 1914 & other poems teve 11 reimpressões só no ano em que foi editada.
Brooke foi dos que correu a alistar-se mal a guerra estalou e foi colocado como alferes na Força Expedicionária no Mediterrâneo, onde, ao largo da ilha grega de Skyros, a 23 de Abril de 1915, um mês depois de zarpar e sem ter visto qualquer acção, viria a sucumbir à morte menos heróica que é possível imaginar-se: uma septicemia causada por uma picadela de mosquito que infectou.

Rupert Brooke (1887-1915), fotografado por Sherrill Schell
Que sinos dobram pelos que morrem como gado?
Uma das vítimas do bullying exercido por Julian Grenfell no seu tempo de estudante em Oxford foi Philip Sassoon, membro de uma abastada família judaica com raízes em Bagdad (era conhecida como “os Rothschild do Oriente”) e primo de Siegfried Sassoon, que se tornou num dos mais notórios arautos da visão da guerra oposta à de Grenfell e Brookes.

Siegfried Sassoon (1886-1967), fotografado em 1915 por George Charles Beresford
Siegfried Sassoon, educado no Marlborough College e no Clare College (Cambridge), fez também parte dos jovens que se alistaram mal a guerra começou, mas seria das primeiras vozes a erguer-se contra o adágio latino que garante que “Dulce et decorum est pro patria mori” (“Doce e honroso é morrer pela pátria”) e a sua poesia, que começara por conformar-se aos moldes mais açucarados do Romantismo tardio, sofreu uma brusca inflexão após ter experimentado os horrores da guerra e começou a descrever cadáveres putrefactos e actos de cobardia e pulsões suicidas entre os militares.
Sassoon combateu com incrível bravura – a ponto de os seus homens lhe darem a alcunha de “Mad Jack” – e foi condecorado com a Military Cross, mas isso não o impediu de, em 1917, tomar posição pública contra a guerra, nomeadamente através de uma carta desafiadora que foi lida na Câmara dos Comuns. As autoridades militares poderiam ter levado Sassoon a tribunal militar por traição, mas preferiram entender que estava inapto para o serviço e, invocando o pretexto da “fadiga de combate” (ou “shell shock” ou “neurose de guerra”, como então se dizia, ou “stress pós-traumático”, como agora se diz), internaram-no no hospital militar de Craiglockhart, perto de Edimburgo. Aí viria a encontrar o segundo-tenente Wilfred Owen, que, após ter passado por várias experiências traumáticas – entre as quais a de a explosão de um obus o ter deixado inconsciente durante dias numa vala, rodeado pelos restos de um dos seus camaradas –, para ali fora enviado para convalescer da fadiga de combate.

Wilfred Owen (1893-1918)
Owen iniciara-se na poesia muito novo, mas o encontro com Sassoon revolucionou a sua escrita, encorajando-o a trocar o romantismo lânguido pelo realismo sujo e implacável – que pode tornar-se excruciante no poema com o sarcástico título de “Dulce et decorum est”, em que oferece um grande plano da agonia de um soldado gaseado: “[…] os olhos brancos contorcendo-se no rosto/ No rosto descaído, como um demónio envenenado pelo pecado/ Se pudesses ouvir, a cada espasmo, o sangue/ Gorgolejando dos pulmões corrompidos pela espuma/ Obsceno como um tumor, amargo como um vómito/ De vis e incuráveis feridas em línguas inocentes”. Owen converteu-se no mais famoso dos poetas da Grande Guerra, ainda que a centena de pungentes poemas anti-bélicos que escreveu apenas ganhasse difusão após o final do conflito.

“Gaseados”, quadro de John Singer Sargent, 1919
Sassoon e Owen regressaram ao serviço activo e acabaram ambos por ser colocados novamente na linha da frente em França. Sassoon foi atingido na cabeça em Julho de 1918, em Arras, mal tinha acabado de chegar, e foi novamente remetido para a Grã-Bretanha, para convalescer, não voltando a combater. Owen foi destacado para a frente em Agosto de 1918, distinguiu-se em combate em Jouncourt, o que lhe valeu a atribuição da Military Cross, e foi abatido na travessia do canal Sambre-Oise, a 4 de Novembro de 1918, uma semana antes da assinatura do Armistício, um destino irónico para o autor de um poema intitulado “Futility”.
[“Futility”, de Virginia Astley, sobre o poema homónimo de Wilfred Owen; canção incluída, sob o nome de The Ravishing Beauties, numa cassete colectiva editada pelo New Musical Express em 1982 e recuperada para o álbum de Astley intitulado Promise nothing (1983)]
A fama de Owen foi crescendo no período entre guerras e foi permeando outras formas de arte, desempenhando papel central no War Requiem de Benjamin Britten, concebido para a cerimónia de consagração, em 1962, da reconstruída catedral de Coventry, arrasada pela Luftwaffe em 1941. Britten, que era pacifista e fora objector de consciência durante a II Guerra Mundial, intercalou nos textos latinos da Missa de Defuntos, excertos de poemas de Owen – o primeiro, extraído de “Hino para uma juventude condenada”, pergunta: “Que sinos dobram pelos que morrem como gado?/ Apenas a monstruosa fúria dos canhões/ Apenas o crepitar rápido das espingardas/ […] Nenhuma voz os carpirá senão a dos coros/ Os coros penetrantes e alucinados dos obuses gementes”.
[Requiem aeternam do War Requiem de Britten, incluindo os trechos “Requiem aeternam”, “Te decet hynmus”, “What passing bells for these who die as cattle” e “Kyrie eleison”, por Robert Tear (tenor, solista em “What passing bells”), BBC Singers, BBC Symphony Chorus e Orquestra Sinfónica da Rádio de Frankfurt, com direcção de Eliahu Inbal, registo de 1981]
Um historiador mediático
Em 2004, a revista Time incluiu o historiador britânico Niall Ferguson (n. 1964) entre as “100 pessoas mais influentes do mundo”. Este tipo de listas costuma ser dominado por políticos, empresários e economistas e os historiadores raramente nelas se intrometem. Porém, Ferguson, que, na sua juventude, conciliou um doutoramento no Madgalen College de Oxford com uma tese sobre “Negócios e política e a inflação alemã: Hamburgo 1914-1924” com o interesse pela música punk, não vive isolado na torre de marfim da academia e, para lá de leccionar ou ter leccionado em várias universidades de prestígio (Cambridge, Oxford, Harvard e Stanford), escreve na imprensa generalista (The Sunday Telegraph, Financial Times, Newsweek), é solicitado pelas televisões a comentar a actualidade, tem intensa actividade como conferencista, é autor de vários livros de divulgação histórica e de documentários televisivos de grande audiência.

Niall Ferguson, numa conferência na Chatham House, em 2011
Parte da visibilidade de Ferguson resulta de defender ideias polémicas, que vão ao arrepio das opiniões dominantes: em Empire: How Britain made the modern world (editado pela Civilização com o título Império: Como a Grã-Bretanha Construiu o Mundo Moderno) defende que o balanço geral do Império Britânico foi positivo, e em Colossus: The rise and fall of the American Empire (editado pela Temas & Debates como Colosso: ascensão e queda do império americano) apresenta os EUA como um império de boa índole e natureza benigna, pelo que seria benéfico para os EUA e para o mundo como um todo que os EUA assumissem sem rebuço a sua vocação imperial (ver Uma coroa para o Tio Sam).
Há vínculos fortes entre os documentário e livros de Ferguson, ainda que sejam objectos completamente diversos na profundidade e na abordagem. Nalguns casos, o documentário precedeu o livro, noutros foi o livro o primeiro a surgir, como foi o caso de The pity of war: Explaining World War I, publicado quando do 80.º aniversário do final da I Guerra Mundial; o documentário The pity of war: Why the Great War was a great mistake, transmitido pela BBC 2, só surgiu em 2014, no centenário do início do conflito, na BBC 2.
Foram precisos mais quatro anos para que o livro chegasse a Portugal 20 anos, pela mão da Bertrand e com tradução de Luís Oliveira Santos, que segue a discutível prática de manter no inglês original os títulos das numerosas obras de autores alemães, franceses e italianos citados por Ferguson (fazendo com que, por exemplo, Ernst Jünger seja autor de Combat as inner experience e Giuseppe Ungaretti tenha escrito os poemas “Rivers” e “Italy”).
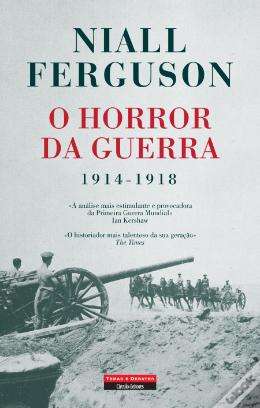
“O Horror da Guerra 1914-1918”, Niall Ferguson (Temas & Debates)
“Chacina máxima com despesas mínimas”
O título original do livro de Ferguson alude a um trecho da introdução que Wilfred Owen esboçou para um livro que pretendia publicar em 1919: “Não é a Poesia o que mais me importa. O meu assunto é a Guerra e o dó da Guerra [the pity of War]. A Poesia está no dó [The poetry is in the pity]”. Não só “pity” é uma palavra de difícil tradução, abarcando os significados de “dó, piedade, pena, compaixão, circunstância lamentável” e até o de “horror”, como o jogo fonético de “the poetry is in the pity” é irreproduzível.
A escolha de título de Ferguson pode parecer intrigante, uma vez que o seu tema não é o “dó”: The pity of war é uma análise fria e distanciada da guerra e não tem lugar para descrições cruas do horror da guerra, nem para meditações sobre os padecimentos dos soldados enviados para uma carnificina fútil e sem fim. Não há trincheiras nem lama nem arame farpado em The pity of war, nem comparações entre as especificações técnicas dos Sopwith Camel e dos triplanos Fokker. The pity of war nem sequer oferece a usual vista aérea dos campos de batalha, nem resume as manobras dos exércitos, os avanços, os recuos e os impasses – Ferguson dirige-se a um leitor bem informado sobre a I Guerra Mundial, que saiba o que se passou no Somme, em Verdun e Gallipoli, que tenha bem presente o Plano Schlieffen e que esteja familiarizado com nomes como Bethmann-Hollweg, Ludendorff e Asquith.

Tropas alemãs nas trincheiras (Foto: Hulton Archive/Getty Images)
Ferguson trabalha com grandes questões e tenta desmontar os mitos que explicam a eclosão, evolução e desfecho da guerra e oferecer explicações alternativas. A sua perspectiva tem um forte pendor económico, discutindo a evolução do PIB, do desemprego, da inflação, do investimento, das despesas do Estado, da dívida pública, das taxas de juro, das greves nas principais potências beligerantes, mas – o que é mais invulgar – também analisa a produção literária inspirada pelo conflito, a fim de auscultar as atitudes da população e dos criadores perante a guerra.
Quando os mortos surgem em The pity of war não têm o mau gosto de se apresentar com as tripas à mostra ou em estado avançado de putrefacção: dispõem-se ordeiramente em tabelas e gráficos. A sua presença mais visível ocorre no capítulo “Chacina máxima com despesas mínimas: As finanças em tempo de guerra”, em que se apura quanto custou a cada beligerante matar um soldado adversário. Esta macabra contabilidade leva Ferguson a concluir que “enquanto às potências da Entente [França, Grã-Bretanha, Rússia, Itália, etc.] matar um soldado a combater pelas Potências Centrais [Alemanha, Áustria-Hungria, Turquia, etc.] custou 36.485 dólares, a estas custou apenas 11.344,77 dólares matar um soldado a combater pela Entente”, uma disparidade que, em princípio teria ditado a vitória das Potências Centrais, se não houvesse outros factores em jogo.
Se não há vestígios de compaixão quando se fazem contas com esta frieza, os cálculos podem tornar-se ainda mais perturbadores quando se dá o passo seguinte na lógica macabra, que é apurar o prejuízo sofrido por cada país com a morte dos soldados. O resultado é francamente desolador: 1444 dólares por cada alemão, 1354 por cada britânico ou americano e apenas 700 dólares por cada russo, o que leva Ferguson a concluir que “não havia soldado que valesse tanto quanto custava matá-lo”. A aritmética de Ferguson acaba por “dar razão” ao misantrópico e cínico Dr. House quando proclamava que “humanity is overrated”.

Soldados italianos mortos num ataque com gases (Foto: Mark Nolan/Getty Images)
E uma vez que, como Ferguson demonstra, a cadência anual de mortes, embora fosse, por si, aterradoramente elevada (entre um mínimo de 241.000 em 1914 e um máximo de 434.000 em 1915, na Alemanha), era excedida pelo número de rapazes que, todos os anos, atingiam 18 anos de idade, a guerra acabaria mais depressa pela incapacidade de suportar os custos de matar tanta gente do que pela falta de carne para canhão.

Soldados britânicos gaseados são encaminhados para um posto de enfermagem perto de Bethune, durante a batalha de Estaires, 10 de Abril de 1918
Quem lucra com a guerra?
Perante a enorme discrepância entre o custo de infligir uma morte e o valor de um morto, torna-se quase inevitável perguntar quem pôde lucrar com uma chacina tão absurda e prolongada como foi a I Guerra Mundial. Uma resposta óbvia é o Grande Capital. Os lucros da Krupp AG, conglomerado alemão na área do aço, artilharia e munições e a maior empresa europeia da época, passaram de 31.6 milhões de marcos em 1916 para 79.7 milhões em 1917, informa-nos Ferguson. Outros grande grupos alemães ligados à produção de aço e equipamento eléctrico ou à construção naval, como a Gutehoffnungshütte, a AEG ou a Blohm & Voss ou o império industrial erguido por Hugo Stinnes também prosperaram com a guerra, frequentemente à custa das empresas de menor dimensão.

Hugo Stinnes (1870-1924), um dos principais beneficiários da I Guerra Mundial, sucesso a que não será estranha a sua intimidade com o general Ludendorff, que foi quem, a partir de 1916, governou de facto a Alemanha
Do lado da Entente também houve quem tivesse obtido pingues lucros, o que parece dar razão à definição de guerra do poeta Paul Valéry: “O massacre de pessoas que não se conhecem em benefício de pessoas que se conhecem mas não se massacram”.
Todavia, Ferguson vem contrariar esta perspectiva, mostrando que, ao fazer entrar nas contas a inflação, os lucros das grandes indústrias estagnaram ou até recuaram durante a guerra e considera que o facto de a maioria destas empresas ter aumentado o número de trabalhadores não deve ser necessariamente interpretado com um sinal de expansão dos negócios, pois encobre uma outra realidade: “O principal motivo para o aumento da força de trabalho era a muito inferior qualidade dos trabalhadores disponíveis, consequência da conscrição indiscriminada”. Ou seja, sendo os trabalhadores de qualidade inferior, eram precisos mais para fazer o mesmo trabalho.

Fábrica da Krupp, 1915
Segundo Ferguson, “a guerra literalmente e metaforicamente rebentou com um século de avanço económico […] A miséria económica das décadas pós-guerra – uma época de inflação, deflação e desemprego causado pelas crises monetárias, diminuição do comércio e incumprimento de dívidas – não poderia contrastar mais fortemente com a prosperidade sem precedentes que tinha caracterizado os anos de 1896-1914, uma época de rápido crescimento e emprego para todos cimentado na estabilidade dos preços, no aumento do comércio e na circulação de capital livre. A I Guerra Mundial destruiu a primeira era de ouro da ‘globalização’ económica”.
Ferguson argumenta também contra a ideia nascida entre os marxistas e depois difundida pela esquerda, de que a I Guerra Mundial foi causada pelo capitalismo. Tal perspectiva já estava patente numa resolução da Segunda Internacional dos partidos socialistas em Stuttgart, em 1907, que proclamava que “as guerras entre Estados capitalistas são, regra geral, o resultado da sua rivalidade pelos mercados mundiais, já que cada Estado não pretende apenas consolidar o seu próprio mercado, mas sim conquistar novos mercados […] As guerras são inerentes à natureza do capitalismo; apenas chegarão ao fim quando a economia capitalista for abolida”.
O líder social-democrata alemão Friedrich Ebert exprimia assim em 1915 a sua visão da génese da I Guerra Mundial:
“Todos os grandes Estados capitalistas registaram uma crescente expansão da vida económica na década passada […] A luta pelos mercados foi travada com mais intensidade […] Os conflitos económicos levaram a conflitos políticos, a aumentos gigantescos de armamento e, finalmente, a uma guerra mundial”.

O rei Jorge V visita uma fábrica de munições, 1917
Curiosamente, antes da guerra não faltavam quem entendesse o contrário: que a intensificação das relações comerciais e financeiras a que se assistira nos últimos anos criara uma interdependência entre as nações que impediria que se envolvessem numa guerra séria e prolongado sob o risco de as suas economias colapsarem. E esta não era uma perspectiva exclusiva dos grandes beneficiários da globalização: até um socialista como o francês Jean Jaurès entendia que “o movimento internacional de capitais é a melhor garantia da paz mundial”.
A verdade é que a inquietação que tomara conta dos mercados financeiros da Alemanha e Áustria-Hungria após o assassinato de Franz Ferdinand em Sarajevo, a 28 de Junho de 1914, foi dando lugar, ao longo de Julho, ao pânico, à medida que as nuvens de guerra se iam acastelando, e com a declaração de guerra da Áustria-Hungria à Sérvia, a 28 de Julho, a crise financeira propagou-se às praças de Londres e Paris, o que significa que a guerra atemorizava a maior parte dos capitalistas.
Escreve Ferguson que “os banqueiros envidaram todos os esforços para evitar a guerra de 1914: perceberam ainda mais claramente do que os políticos que o eclodir de uma grande guerra traria consigo o caos financeiro”. Os Rothschild, a mais poderosa família de banqueiros da Europa, com ramos espalhados por vários países, empenharam-se a fundo na tentativa de travar a guerra, quer exercendo pressão junto dos políticos – por vezes subindo ao mais alto nível – quer apelando aos jornais de pendor belicista, como The Times, para moderar o tom belicoso.

Nathan Mayer Rothschild (1840-1915), 1.º barão de Rothschild
Lord Northcliffe, proprietário do Daily Mirror e do Daily Mail, que, em 1905-1908, resgatara da falência iminente The Times e o Observer e comprara The Sunday Times, tornando-se no detentor do maior grupo de imprensa na Grã-Bretanha, manteve o pendor belicista e germanófobo dos seus jornais e Henry Wickham Steed, editor de assuntos internacionais de The Times, classificou o apelo de Lord Rothschild como “uma tentativa financeira internacional por parte de uns judeus alemães para nos obrigar a defender a neutralidade”.

Alfred Harmsworth, 1.º visconde de Northcliffe, em 1917
Porém, nesta argumentação, Ferguson parece esquecer que o facto de a economia como um todo ter sido prejudicada pela guerra e de o “complexo militar-industrial” não ter lucrado tanto quanto se julga, não significa necessariamente que não houvesse empresas que não tivessem encarado a guerra como uma oportunidade para fazer negócio e não tivessem contribuído, directa ou indirectamente, para a sua eclosão (ou, pelo menos, ficado radiantes com esta). O curso da guerra, que se revelou muito mais longa do que se previra e causou fortes constrangimentos à economia (em particular à das Potências Centrais), poderá ter acabado por defraudar as expectativas de algumas das empresas que apostaram na guerra. Porém, vale a pena notar que quase todos os grandes grupos industriais alemães sobreviveram não só à guerra como à grave crise atravessada pela economia alemã no pós-guerra.

Gustav Krupp von Bohlen und Halbach (1870-1950) e a esposa Bertha, com os filhos, em 1928. Quando o patriarca Friedrich Alfred Krupp faleceu em 1902, a empresa foi herdada por Bertha, a sua filha de 16 anos. O Kaiser achou inconcebível que a Krupp fosse liderada por uma mulher e providenciou o seu casamento, em 1906, com Gustav von Bohlen und Halbach, que, de imediato assumiu a administração da empresa
E é muito significativo que, a 20 de Fevereiro de 1933, 24 grandes empresários alemães tenham tido uma reunião secreta com Adolf Hitler e se tenham comprometido a apoiá-lo na conquista do poder absoluto, embora estivessem bem cientes das intenções belicistas do líder nazi e da sua obsessão em vingar a humilhação imposta pelo Tratado de Versailles (ver O caminho para a II Guerra Mundial: Como o impensável se tornou inevitável).

Sede actual do grupo Thyssen-Krupp, em Essen. A Alemanha perdeu duas guerras mundiais, mas a Krupp nunca deixou de ser um dos maiores produtores mundiais de aço
A culpa foi dos jornais?
“Para que se desvaneça a ilusão viva de que os fornecedores do exército são os verdadeiros fornecedores de batalhas; para que o assassínio tenha outra vez uma razão suficiente e o sangue volte a ser mais denso do que a tinta – eu assumiria por um único dia um comando que transferisse a linha da frente para a retaguarda; mandaria bombardear duas vezes ao dia com sucesso as incubadoras do empestamento do mundo, as fábricas do veneno do ódio à humanidade, as cavernas de ladrões da agiotagem do sangue a que […] se chama redacções”. Esta proposta de um sarcasmo feroz é do austríaco Karl Kraus e faz parte do texto “Silêncio, palavra e acto”, publicado a 10 de Dezembro de 1915 na revista satírica Die Fackel, por ele fundada e que dirigiu e redigiu quase sem ajuda ao longo de 922 números, entre 1899 e 1936 (o texto figura no volume Nesta grande época recentemente, em que a Relógio D’Água coligiu algumas das sátiras de Kraus).

Karl Kraus (1874-1936)
Kraus via na imprensa, na qualidade de disseminadora de um discurso de ódio e de exaltação do nacionalismo e de geradora de boatos destinados a acicatar o fervor patriótico e a sede de vingança, um dos principais responsáveis pelo início da I Guerra Mundial – e pela sua continuação, apesar do preço elevadíssimo. Afinal de contas, os jornais lucravam com a guerra, pelo que tinham todo o interesse em que esta prosseguisse.
Com efeito, embora já antes alguns conflitos tivessem tido cobertura noticiosa, a imprensa assumiu na I Guerra Mundial um poder nunca antes visto. O general Erich Ludendorff, que fora chefe de Estado-maior do Marechal Hindenburg na Frente Oriental e que, a partir de 1916, assumiu, com Hindenburg, a condução, em termos práticos, dos destinos da Alemanha, afirmou que “as palavras de hoje tornaram-se batalhas. As palavras correctas vencem batalhas, as palavras erradas perdem batalhas” e, nas suas memórias, atribuiu à propaganda e à imprensa a quebra do moral das tropas alemãs na segunda metade de 1918.
Boa parte deste poder estava, aos olhos alemães, encarnado na figura de Lord Northcliffe, detentor do maior conglomerado jornalístico da Grã-Bretanha e que teria moldado decisivamente a opinião pública britânica através do teor germanófobo e belicista que imprimiu aos seus jornais. Um jornal britânico rival, The Star, escreveu que “a seguir ao Kaiser, nenhum homem fez tanto para provocar a guerra” como Lord Northcliffe, e os alemães mostraram, por actos, ser da mesma opinião: a 24 de Fevereiro de 1917 enviaram um destroyer com a missão de bombardear Elmwood, a mansão de Lord Northcliffe em Broadstairs, na ponta sudeste de Inglaterra (o ataque causou três mortos, mas Lord Northcliffe escapou ileso).

Cartaz americano apela ao alistamento, para que a civilização não caia nas mãos do simiesco militarismo germânico. Autor: Harry R. Hopps, 1917
Ferguson contraria a ideia defendida por Kraus de que “a imprensa era o principal beneficiário – e talvez até o instigador – da guerra”, argumentando que se tem exagerado o poder da imprensa e que esta não pode ser vista como um bloco homogéneo: exprimia grande diversidade de opiniões e muitas delas eram contra a guerra ou, pelo menos, não a acolheram com entusiasmo. E se, nos primeiros meses de guerra, alguns títulos conheceram extraordinários aumentos de circulação, “os problemas económicos do tempo de guerra levaram a que o balanço financeiro nesse período fosse prejudicial para a maioria dos jornais”, nomeadamente devido à quebra das receitas de publicidade e ao encarecimento e escassez do papel de jornal, e muitos jornais de menor dimensão foram obrigados a encerrar a sua actividade.

Cartaz advertindo os britânicos para o que os espera às mãos dos alemães se não se empenharem no combate
Os números apurados por Ferguson até poderão reflectir a realidade, mas o facto de a guerra ter acabado por revelar-se pouco benéfica para a imprensa como um todo não significa que alguns títulos de natureza mais “tablóide” não tenham instigado deliberadamente a guerra e alimentado um discurso de ódio contra o inimigo e não tenham lucrado com isso. Vale também aqui o argumento acima apresentado para o “complexo militar-industrial”: mesmo que alguns jornais tenham acabado por perder dinheiro com a guerra, isso apenas significa que foram vítimas de circunstâncias e desenvolvimentos que não puderam prever ou controlar, não os isentando de responsabilidades nem servindo de prova da sua boa-fé. Na bizarra lógica de Ferguson só pode comprovar-se que alguém foi mal-intencionado ou malévolo se as suas maquinações produzirem, no longo prazo, resultados que lhe foram favoráveis – como se os planos dos “maus” não fossem susceptíveis de fracasso, por erros de julgamento ou do acaso.
Ferguson também argumenta que “muita da vilificação do inimigo” e do empolamento (ou invenção) de atrocidades promovido pela imprensa não era “levada a sério por aqueles que lutavam; a eficiência da propaganda era em proporção inversa à proximidade da Frente”. Se a imprensa tinha tão pouco poder, pode então perguntar-se por que razão a Alemanha ofereceu uma fortuna pela cabeça de Louis Raemaekers, um cartoonista holandês que nutria uma especial sanha anti-germânica e era regularmente publicado na imprensa britânica e americana (ver Quanto vale a cabeça de um cartoonista?).

Os suínos e a mártir: a enfermeira Edith Cavell foi fuzilada pelos alemães por ter auxiliado a fuga de soldados aliados feitos prisioneiros pelos alemães na Bélgica. Cartoon de Louis Raemaekers, 1915
No tempo em que os homens não eram umas florzinhas de estufa
Se, na perspectiva de Ferguson, os europeus não se chacinaram mutuamente durante quatro anos por causa do capitalismo ou da imprensa, porque o fizeram então? “Porque para a maioria dos soldados, matar e arriscar-se a ser morto era muito menos intolerável do que aquilo que presumimos hoje em dia […] Matar causava pouca repulsa e o medo da morte era suprimido”. No capítulo conclusivo de The pity of war, Ferguson rejeita a visão da Grande Guerra como digna de dó, horror ou compaixão – pelo que se conclui que o título que escolheu para o seu livro é, afinal, um desafio a Wilfred Owen – e defende que o conflito e os seus nove milhões de mortos se impuseram no imaginário das gerações seguintes como algo tenebroso, mas não foram assim percebidos por quem nela lutou.

Soldados austro-húngaros executam sérvios, 1917
Para muitos combatentes a guerra teria sido um prolongamento ou uma variação das competições desportivas ou da caça e havia quem combatesse “pura e simplesmente porque era divertido”. O poeta-soldado Julian Grenfell não estava só quando comparou a guerra a um grande piquenique e Ferguson afadiga-se a reproduzir depoimentos de combatentes que manifestaram um entendimento lúdico da guerra: um soldado, por exemplo, confessa que tinha saudades “da sensação efémera, impagável, de ter cada nervo e célula do corpo ao rubro”. Ou seja, há pessoas que nunca se sentiram mais vivas do que quando estão a matar e a correr o risco de serem mortas.
De onde veio então a aura de horror que envolveu a Grande Guerra? Para Ferguson, foi urdida pela literatura – poesia, romances, memórias – e esta foi obra “de homens educados nas escolas públicas e universidades com pouca experiência de dificuldades anteriores à guerra e muito menos da própria guerra. A sua desilusão enraizava-se nas ilusões da juventude privilegiada”.
O horror da Grande Guerra terá sido, pois, uma criação de “sissies” como Sassoon e Owen…
Mas Ferguson vai mais longe: “Até alguns dos mais famosos poetas de guerra eram menos anti-guerra do que aquilo que habitualmente pensamos. Dos 103 poemas completos da edição-padrão das obras completas de Owen, apenas 31 (pelas minhas contas) podem ser realmente classificados como ‘anti-guerra’”.
Para Ferguson, só se Owen fosse um poeta monomaníaco que escrevesse apenas sobre a guerra poderia ser considerado como anti-belicista. Pelo mesmo absurdo critério, se se apurar que apenas 1/3 das canções de José Afonso são realmente “de protesto”, poderá concluir-se que o cantor não era um opositor convicto do regime fascista. E como Kurt Weill, além de colaborar com Bertolt Brecht em obras de óbvio pendor esquerdista e anti-capitalista (como A ópera dos três vinténs), também compôs canções de amor como “Speak Low” ou “September Song”, poderá ficar a dúvida sobre se seria realmente comunista. Quanto a Britten, que numa obra vasta apenas assinou uma obra de conteúdo explicitamente anti-bélico – o War Requiem –, dificilmente poderá, por este critério, ser classificado como pacifista.
Niall Ferguson é muito inteligente e os seus livros oferecem quase sempre perspectivas refrescantes sobre a história e merecem ser lidos. Mas não é pessoa que se convide para um piquenique.
[“Be slowly lifted up, thou long black arm”, do Dies Irae do War Requiem de Britten, por Dietrich Fischer-Dieskau (barítono), The Bach Choir e a London Symphony Orchestra, com direcção de Benjamin Britten, na primeira gravação da obra, realizada em 1963 (Decca)]
















