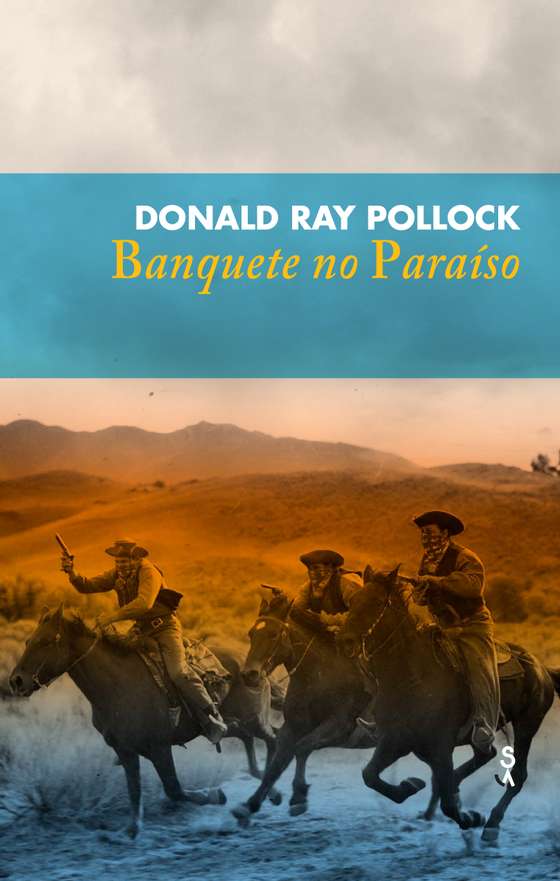Índice
Índice
Donald Ray Pollock tinha 50 anos quando trocou o emprego de mais de 30 anos numa fábrica de papel no Ohio para se dedicar à escrita. Tinha metido essa ideia na cabeça cinco anos antes, quando chegou à conclusão que estava na altura de se dedicar a outra coisa, embora não soubesse fazer mais nada além do trabalho de fábrica. Como gosta muito de ler (os livros sempre foram uma constante na sua vida, embora tenha crescido numa casa onde estes não existiam), pensou que poderia tentar ser escritor. Nunca tinha escrito uma linha em toda a sua vida, mas dedicou-se à tarefa com o empenho que apenas alguém que tem um sonho pode ter. Começou por tentar imitar escritores de que gostava e, quando isso não resultou, começou a copiar contos de diferentes autores. Hoje garante que aprendeu mais com esse exercício do que com qualquer outra coisa.
Trabalhou sem parar durante alguns anos, até encontrar um ritmo e uma voz próprios. Em 2008, contra todas as espectativas, conseguiu publicar o primeiro livro, uma coletânea de contos a que chamou Knockemstiff, o nome da vila no Ohio onde nasceu. O volume foi galardoado com o prémio PEN/Robert W. Bingham, que premeia uma obra estreante de contos. Por esta altura, Pollock ainda aspirava a tornar-se contista, uma ambição que acabou por cair por terra quando o editor lhe pediu um romance. Apesar do medo inicial, acabou por gostar mais da experiência do que tinha imaginado. Hoje conta com dois grandes trabalhos de ficção publicados, Sempre o Diabo e Banquete no Paraíso, e um terceiro na calha. O primeiro (editado em Portugal pela Quetzal) recebeu dois prémios em França; o segundo foi premiado na Alemanha. São ambos livros que falam sobre crime e violência, com um mosaico de personagens que inclui assassinos em série, pelos quais Pollock admite ter um fascínio.
Donald Ray Pollock esteve recentemente em Óbidos para o festival literário FOLIO, onde participou numa mesa redonda chamada “Encontrar a normalidade na anormalidade”, com a escritora portuguesa Dulce Maria Cardoso. O Observador aproveitou a oportunidade para falar com o escritor norte-americano sobre Banquete no Paraíso, editado há uns meses pela Sextante, o novo romance em que está a trabalhar (que não podia deixar de ser passado no Ohio e de ter um assassino em série), a violência que parece fazer parte da matriz do seu país e sobre a passagem do tempo, que tão pouca influência parece ter no mundo: “Somos o mesmo animal, independentemente da década em que vivemos”.
Uma das personagens do seu último romance, Pearl, acredita que, se viver uma vida justa, quando morrer terá à sua espera um banquete no Paraíso onde saciará toda a fome que passou ao longo da vida. Este é precisamente o título do livro, Banquete no Paraíso. De onde é que veio esta ideia?
Vou ter de lhe dizer que não sei muito bem de onde é que as ideias vêm, simplesmente escrevo. Começo com uma ideia geral daquilo que quero fazer — talvez uma personagem, um cenário –, e começo a trabalhar em redor disso. Depois as coisas simplesmente acontecem. Não planeio nada antecipadamente, não decido que vou escrever um livro sobre determinado assunto ou tema. Tento simplesmente escrever uma história, e não lhe consigo dizer com certeza como é que o banquete no paraíso surgiu. Talvez porque um dos filhos [de Pearl], Cob, é obcecado por comida. Talvez tenha vindo daí, não sei [risos].
Então, primeiro nasceu Cob e a sua obsessão por comida.
Provavelmente começou com os três irmãos [Cane, Cob e Chaminé Jewettt] e com o pai e, depois, a determinada altura, [a história] simplesmente aconteceu.
Cob tem essa obsessão porque está sempre com fome. Vem de uma família muito pobre. Mas depois a vida dele muda subitamente quando ele e os irmãos encontram um livro.
Sim, eles encontram aquilo a que chamamos um dime novel, um western barato de capa mole. Era o único livro que havia e o irmão mais velho, Cane, que é o único dos três que sabe ler, lê-lo todas as noites [em voz alta para eles]. São as aventuras de um fora-da-lei [chamado Bill Bucket Sanguinário], que se tornam importantes para a forma como eles veem o mundo, para os seus planos no futuro.
Isso esconde uma mensagem muito forte, sobre a importância da literatura e como esta pode mudar a vida de alguém. Ainda que eles se tenham tornado foras-da-lei como o Bill Buckett, a vida deles mudou por causa daquele livro mau.
Sim. Acho que muitos jovens passaram por essa experiência — pegaram num livro, leram-no e, de repente, alguma coisa mudou para eles.
Existe uma outra personagem, o tenente Bovard, para quem os livros também são um refúgio e uma forma de escapar da realidade. Ele gosta especialmente da História da Guerra do Peloponeso, de Tucídides.
Cresci numa casa onde não havia livros. Os meus pais liam, mas apenas revistas sem valor nenhum. Li muitas delas. A escola onde andei tinha uma regra estranha que dizia que não podíamos levar livros emprestados da biblioteca antes de andarmos no oitavo ano. Era muito estranho. Portanto, não comecei a ler livros antes disso. O primeiro de que me lembro de ler sozinho foi um romance chamado The Haunted Bookshop, de Christopher Morley [um escritor norte-americano que viveu durante a primeira metade do século XX], sobre um dono de uma livraria com um enredo sobre um espião da Primeira Guerra Mundial como pano de fundo. É preciso ter noção de que nunca tinha visto uma livraria, e este livro falava muito sobre livrarias.
Não havia nenhuma livraria no local onde cresceu?
Não. Na verdade, vivia num local chamado Knockemstiff, que era uma comunidade muito pequena. Havia três mercearias, uma igreja e um bar. A cidade, Chillicothe, ficava a cerca de 50 quilómetros de distância. Aí havia uma espécie de livraria, que também vendia coisas para a casa. Ainda tenho o primeiro livro que comprei naquele sítio, Folhas de Erva, de Walt Whitman. Por alguma razão, e apesar de nunca ter tido muito contacto com eles até mais tarde, sempre me senti atraído pelos livros.
Falou da sua terra-natal, Knockemstiff, que fica no estado do Ohio. Este livro passa-se no Ohio, assim como os dois anteriores. Um deles até se chama Knockemstiff. Porque é que sente necessidade de voltar sempre ao mesmo lugar?
A razão principal é porque nasci lá, cresci lá e sempre vivi lá. É basicamente o único lugar que conheço bem o suficiente para conseguir escrever sobre ele e descrevê-lo em pormenor. E, sim, tudo tem de acabar no Ohio [risos].
É uma forma de tornar a narrativa mais credível?
Sim. Provavelmente conseguiria escrever alguma coisa que se passasse em Nova Iorque, mas não sei se iria conseguir fazê-lo bem.
Já tentou fazê-lo?
No início. Quando estava a aprender a escrever, tentei imitar outros escritores de que gostava. Talvez tenha tentado escrever alguma coisa passada na zona de New England, sobre um suburbano, um tipo que fosse adúltero ou algo assim, mas não era nada de jeito. Era tudo terrível. Até que finalmente escrevi alguma coisa [passada] naquilo a que chamo o Ohio central.
Todas as pessoas são fascinadas por serial killers. Ninguém quer saber da velhinha que salvou o gato
No livro anterior, Sempre o Diabo, havia um casal de serial killers. Neste livro, Banquete no Paraíso, também existe um assassino em série. Parece ser fascinado por criminosos e foras-da-lei.
[Risos] Bem, acho que todas as pessoas são fascinadas por assassinos em série, não são? Digo sempre que é verdade, que tenho assassinos em série nos meus livros, mas se num jornal houver duas histórias na primeira página e uma delas for sobre um assassino em série e outra sobre uma velhinha que tirou um gato de uma árvore, toda a gente vai ler primeiro a do assassino. Ok, pronto, 90% das pessoas vão ler. A minha mulher diz sempre para não atirar percentagens, mas faço-o sempre [risos]. Vi há pouco tempo uma estimativa que dizia que existem cerca de 300 a 400 assassinos em série ativos nos Estados Unidos que nunca foram detetatos. Acho que o que me fascina mais é a parte que nunca foi detetada. Não consigo perceber como é que se consegue escapar. Temos muitas forças policiais. Mas sim, tenho de concordar consigo — provavelmente vai haver assassinos em série na maioria dos meus trabalhos no futuro [risos].
Porque é que acha que existe um número tão elevado de assassinos em série nos Estados Unidos? Que se saiba, é o país com mais serial killers.
A América é um sítio violento. É mesmo. Por exemplo, a minha mulher veio comigo nesta viagem. Este é o nosso quarto ou quinto dia [aqui] e, há umas noites, ela disse-me: “Sabes, sinto-me mesmo segura aqui”. E parte da razão para isso aqui, acho eu, é que vocês não têm armas. As armas são uma grande preocupação nos Estados Unidos. Ou se é uma pessoa que anda com armas ou que tem armas em casa, ou se é uma pessoa que não se tem. E quem não tem, tem um pouco de medo, porque as pessoas entram com elas na mercearia, andam com elas na rua. Sempre tivemos esta história de violência, desde o início. Chacinámos os nativos, e isso continuou por aí em diante. Não se se é parte do problema ou não. Não sei se é possível compreender um assassino em série.
Fala muito de crime nos seus livros. Ao fazê-lo, está a descrever a América dos dias de hoje?
Sim, de certo modo. Com este livro [Banquete no Paraíso], tentei pegar nalguns tópicos ou em coisas que se estão a passar agora e metê-las no passado, o que é muito fácil de fazer porque há muitas coisas que não mudaram assim tanto. A religião, a imprensa… Continuam a existir notícias de foras-da-lei [como aquelas que aparecem no romance]. Tentei incorporar um pouco do que se passa agora nalguma coisa do passado com a qual as pessoas se pudessem identificar.

▲ O norte-americano é originário do Ohio, o estado onde todas as suas histórias se desenrolam por ser o sítio que conhece melhor
MELISSA VIEIRA/OBSERVADOR
A verdade é que ficamos com a sensação de que, apesar de este romance se passar em 1917, estas personagens poderiam existir agora. Até aquelas que passam por maiores dificuldades.
Há muita fome nos Estados Unidos e isso, para mim, é de doidos. Muitos têm vergonha de procurar ajuda e depois temos pessoas como o Trump que está a cortar na quantidade de vales para comida que se pode receber. E há muitas que precisam daqueles vales. Não sei se têm alguma coisa do género aqui, mas lá recebe-se um conjunto de cupões que podem ser trocados por comida numa loja. Há cerca de duas semanas, ele decidiu que se ia cortar nesse programa. Somos ainda mais violentos do que éramos em 1917.
Porquê?
Muitas pessoas não tinham armas naquela altura. Nasci em 1954, o meu pai tinha armas — tinha uma caçadeira e uma espingarda. Eram usadas estritamente para caçar. Ele não tinha pistolas ou AK-47 ou coisas do género. Em 1917, quem tinha uma arma, era geralmente para caçar, para pôr comida em cima da mesa. Há muitas, muitas, muitas mais armas hoje do que havia há 100 anos.
Também há mais dinheiro para investir nelas.
Sim, há mais dinheiro, há a [National Rifle Association] NRA a pressionar. É tudo por causa do dinheiro — isto da NRA, dos produtores de armas. Tentam provocar este medo nas pessoas, [convencê-las] de que precisam de ter uma arma porque, se não tiverem, o criminoso que tem uma arma vai infligir-lhes dor, vai roubá-los ou matá-los. É um ciclo vicioso.
Há uma certa crítica à modernização que está muito presente ao longo de todo o livro. Várias personagens queixam-se dos chamados “tempos modernos”.
Acho que há muitas pessoas que vão sempre reagir à mudança. Se tivesse alguma coisa a dizer sobre o assunto, gostava que não tivéssemos tanta ênfase nos telemóveis, na Internet, em todas essas coisas, mas estão aqui e temos que viver com elas. Mas vão sempre existir pessoas que vão resistir a qualquer coisa nova. Pus isso no livro.
Mas a mudança pode ser uma coisa boa.
Sim. O problema é que não antecipamos as coisas más que essa mudança pode trazer. Por exemplo, um miúdo de 14 anos que passa o tempo todo agarrado ao telemóvel não está verdadeiramente a viver, pois não? Quer dizer, não está a experienciar o mundo. Vejo isso todos os dias. No bairro onde vivo, existem pessoas jovens, mas nunca as vemos na rua, nunca as vemos a fazer alguma coisa, a não ser a andar até ao carro com os seus aparelhos. Quando isto apareceu, a Internet e os computadores, não estávamos a planear que isto acontecesse. Sei que estou a soar como um velho rezingão, mas acho mesmo que isto se está a tornar um problema.
O casal que não sabia onde ficava a Alemanha, os alunos do secundário que não sabem o que é a Guerra do Vietname e o trabalhador de uma fábrica de papel que soube sonhar
Como falámos há pouco, este romance passa-se em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. Porque é que escolheu este conflito como pano de fundo?
Precisava de uma ideia para um livro e, em Chillicothe, no Ohio, em 1917, quando os Estados Unidos entraram para a guerra, construíram um campo de treino enorme do lado norte da cidade. O meu plano original era escrever um livro que centrado nesse campo, com estas personagens diferentes personagens a aparecerem e a alistarem-se no exército. Em relação aos três irmãos que estão no livro, a minha ideia original era levá-los para o campo, mas depois mudei de plano [risos]. O campo manteve-se, mas como pano de fundo na maioria das vezes.
Como falámos há pouco, este romance passa-se em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. Porque é que escolheu este conflito como pano de fundo?
Precisava de uma ideia para um livro e, em Chillicothe, no Ohio, em 1917, quando os Estados Unidos entraram para a guerra, construíram um campo de treino enorme do lado norte da cidade. O meu plano original era escrever um livro que centrado nesse campo, com estas personagens diferentes personagens a aparecerem e a alistarem-se no exército. Em relação aos três irmãos que estão no livro, a minha ideia original era levá-los para o campo, mas depois mudei de plano [risos]. O campo manteve-se, mas como pano de fundo na maioria das vezes.
Os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha, mas duas das personagens, Ellsworth Fiddler e de Eula, não sabem onde é que a Alemanha fica. Num país onde muita gente não sabia ler nem escrever, devia ser comum.
Acho que tinha uns 13 anos quando a minha bisavó, do lado do meu pai, morreu. Ela nunca tinha andado na escola, não sabia ler. Às vezes, o meu bisavô lia-lhe o jornal. Ela nunca tinha saído do Ohio, por outras palavras, não tinha ideia nenhuma de como era o mundo e, em 1917, haveria muita gente assim. Não pensei que seria um exagero dizer que estas pessoas não faziam ideia onde é que ficava a Alemanha. Fiddler e Eual não sabem, mas hoje temos alunos do secundário que não conseguem apontar num mapa o Afeganistão, o Irão ou a Síria. Não sabem dizer. A minha mulher era professora do ensino secundário, reformou-se há cerca de seis anos, e tinha alunos que não faziam a mínima ideia o que era a Guerra do Vietname, e isso foi uma coisa importante nos Estados Unidos.
E não acabou assim há tanto tempo, terminou já nos anos 70.
Exato! Sabe, gostamos muito do nosso entretenimento, mas não gostamos muito de pensar sobre as coisas.
Esse tipo de conhecimento não devia estar a ser transmitido aos alunos?
Devia, não sei o que é que se passa. É inacreditável que, no século XXI, um miúdo de 18 anos não saiba nada sobre essa guerra, ou sobre uma série de outras coisas. Acho que parte do problema é que, no nosso sistema educacional, os professores são basicamente ordenados a ensinar aos alunos aquilo que eles precisam de saber para passarem a determinados testes que permitem que continuem em frente.
Têm de continuar em frente nos estudos?
Sim, querem que eles continuem, não querem retê-los [risos]. Então focam-se muito naquilo que precisam de saber para determinados testes. Não existe uma educação geral, por assim dizer, existem certas coisas que é preciso saber para se sair do secundário e talvez entrar na faculdade.
E a maioria desses alunos acaba por não ter a curiosidade ou o interesse em procurar saber mais.
A maioria não tem interesse, está satisfeita assim. Quer apenas o diploma. Querem uma licenciatura para poderem ter um bom trabalho. Não estão ali pela educação.
Pelo conhecimento em si.
Só querem arranjar um trabalho. Pode ser por isso que temos esta coisa com o Trump. As pessoas não tiveram curiosidade de ir investigar.
Não fazem ideia em quem é que votaram.
Não. Ou então houve um amigo que lhes disse para votarem no Trump, “ele vai construir um muro”.
O tempo passou, mas o mundo continuou na mesma
Começou a escrever relativamente tarde, tinha 45 anos. Porque é que decidiu dedicar-se à escrita apenas nessa idade?
Desisti da escola quando estava no 11.º ano, convenci o meu pai a deixar-me. Ele disse-me que podia se arranjasse um trabalho. Arranjei um num matadouro.
Porque é que decidiu desistir da escola?
Odiava a escola, absolutamente odiava [risos]!
E nós a falarmos do ensino!
Eu sei [risos]. Mas era curioso, lia, só que odiava a escola. E eu e o meu pai não nos dávamos bem, havia muito atrito lá em casa. Mais tarde, arranjei o trabalho na fábrica de papel. Era um bom trabalho, fiz bom dinheiro. Trabalhei lá durante muito tempo. Quando cheguei à casa dos 30 anos, deixei de beber e ganhei todo este tempo livre. A fábrica tinha um programa [de incentivo ao estudo] que pagava 75% por cento das propinas e dos livros se fossemos para a faculdade. Era um bom negócio, era fantástico. Tinha um amigo que tinha começado a ter aulas na universidade local e pensei, “eh, vou experimentar”. Então acabei com uma licenciatura em Inglês quando tinha 40 anos. Não fiz nada com ela, apenas fiquei com uma licenciatura, e continuei a trabalhar na fábrica. Depois, quando tinha 45 anos, cheguei à conclusão de que queria experimentar outra coisa. Não sabia fazer mais nada além do trabalho de fábrica, mas adorava ler. Então decidi que ia tentar aprender a escrever e foi o que fiz. Trabalhei na fábrica mais cinco anos. Por essa altura, já tinha publicado alguns contos e já o fazia há tempo suficiente para saber que era isso que queria fazer. Entrei para um programa de graduados do estado do Ohio e despedi-me.
E a sua vida mudou.
E a minha vida mudou muito!

▲ Donald Ray Pollock, que começou a escrever tardiamente, tem três obras publicadas. Duas são romances e uma é um livro de contos
MELISSA VIEIRA/OBSERVADOR
Nunca tinha sentido necessidade de escrever antes de ter tomado essa decisão? Pergunto isto porque a maioria dos escritores sente essa necessidade desde sempre.
Não, nunca tinha sentido. Acho que nunca tinha tido confiança para pensar que podia fazê-lo. Quando tomei essa decisão, decidi que ia aprender a escrever contos. Foi isso que disse à minha mulher. Disse-lhe que ia dar um prazo de cinco anos, que ia trabalhar nisso e que, se não resultasse, pelo menos tinha tentado. Ao fim desse tempo, estava a começar a encontrar uma espécie de voz e já estava habituado a sentar-me todos os dias e a tentar escrever. Então decidi que ia tentar avançar com isso.
O que é que a sua mulher disse quando lhe explicou que ia tentar ser escritor?
Ela apoiou-me muito. Mesmo. Nunca me chateou por causa disso.
Há bocado disse que começou por tentar imitar o que outros autores tinham escrito.
Sim, fiz isso durante algum tempo. Depois li uma entrevista de uma escritora que dizia que, quando começou a escrever, transcrevia o que outras pessoas tinham escrito. E pensei: “Eh, consigo fazer isso”. Escolhia um conto todas as semanas, copiava-o, andava com ele durante quatro ou cinco dias, deitava-o fora e copiava outro. Fiz isso durante cerca de um ano e meio e aprendi mais sobre escrever com esse exercício do que com outra coisa qualquer. Foi com a transcrição que me aproximei o suficiente para conseguir ver como determinado escritor fez o que fez, as transições, esse tipo de coisa. Pouco depois, foi quando escrevi a primeira história que senti [que era boa]. Não era uma história incrível, mas era muito melhor do que as coisas que tinha andado a escrever [risos].
Queria ser contista, mas só publicou um livro de contos. Porquê?
Nos Estados Unidos, se for sortudo o suficiente para conseguir arranjar um editor, ele pode publicar um livro de contos, mas vai querer um romance. Basicamente foi isso que aconteceu — disseram que gostavam de me ver a escrever um romance. Todas as minhas histórias são curtas — têm cerca de dez, 12 páginas –, não sabia se ia conseguir escrever alguma coisa tão grande, mas pensei, “bem, tenho de tentar”. Felizmente, descobri que gosto de o fazer. Gosto de escrever um romance. Não foi tão assustador quanto pensei que ia ser.
Os seus livros acabam por ter muitas semelhanças com uma coletânea de contos. Têm sempre muitas personagens e cada uma delas têm a sua própria história.
Todas têm um capítulo. Foi a única maneira de conseguir escrever um romance e de fazer com que o leitor continuasse a virar a página.
Já está a trabalhar num novo romance?
Sim.
E tem um assassino em série?
Sim, tem um assassino em série [risos] e passa-se no Ohio central.
Que surpreendente!
Sim, muito [risos]. Todos os meus livros se passam no passado e pensei que devia tentar escrever alguma coisa no presente, mas não resultou. Então andei com a história para trás, 30 anos, mas sinto-me culpado. Houve uma coisa que foi dita num painel em que participei, que também já ouvi outras pessoas a dizer: agora precisamos de um romance sobre as alterações climáticas. Um grande romance.
É isso que está a tentar fazer?
Não, não, não. Sinto-me culpado porque nunca seria capaz de fazer isso, mas espero que alguém o faça. Definitivamente precisamos de nos focar nisso. Sei que a maioria dos escritores querem falar sobre o seu tempo, sobre os problemas contemporâneos. Tento fazer isso à minha maneira, mas simplesmente não o consigo fazer no presente. Acho que, independentemente do período em que se passa a história, temos que o adorar, porque vamos passar tantas horas [de volta dele]. E não tenho grande predileção por 2019 e por aquilo que se está a passar, por isso volto um bocadinho atrás no tempo, a tempos mais felizes [risos], para mostrar que as coisas mudam mas, a um certo nível, ficam na mesma. Por exemplo, o Trump e os ataques constantes à imprensa, as fake news. Harry Truman fazia isso em 1948. Dizia que estavam todos contra ele, que era tudo mentira, bla bla bla. Somos o mesmo animal, independentemente da década em que vivemos.
O FOLIO – Festival Literário Internacional de Óbidos decorre na vila literária até 20 de outubro, domingo. O programa completo pode ser consultado aqui