Ian Morris regressa a um tema pouco dado a unanimidades: a guerra tem aspetos positivos e é uma das causas para o avanço da humanidade, seja no aumento da esperança média de vida ou na forma como influencia a ocupação de território de forma organizada. Para isso, faz equivaler o desenvolvimento das técnicas e dos meios de batalha ao crescimento económico e social de diferentes partes do mundo.
Nesta pré-publicação apresentamos o início do livro, a introdução onde o autor expõe os motivos que o levaram a escrever “Guerra! Para que Serve?” e os argumentos que o levam a defender a teoria de que os conflitos armados têm boas consequências. São os mesmos argumentos que depois desenvolve ao longo das 581 páginas (notas incluídas, o livro ultrapassa as 700).
O autor, inglês de 56 anos, é arqueólogo e historiador e é professor na universidade de Stanford, nos EUA. Já em 2010 tinha publicado um livro em que analisava um período idêntico da história da humanidade, mas a partir de um ponto de vista diferente: em Why the West Rules – For Now, atravessava os mesmos 15 mil anos em busca daquilo que separou e separa a civilização ocidental do resto mundo. Três anos depois apresentava The Measure of Civilization: How Social Development Decides the Fate of Nation, que servia de volume de apoio para o livro anterior.
“Guerra! Para que Serve?”, de Ian Morris. Edição Bertrand. 734 páginas. Preço: 27€
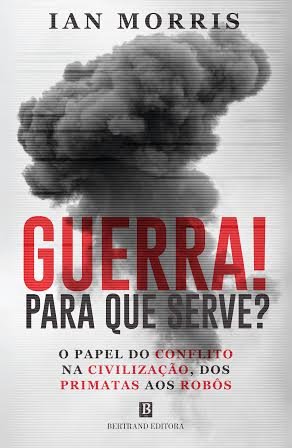
“Eu tinha vinte e três anos quando quase morri no campo de batalha.
Corria o dia 23 de setembro de 1983, por volta das 9h30 da noite. Estava debruçado sobre uma máquina de escrever manual, num quarto alugado em Cambridge, na Inglaterra, a bater o primeiro capítulo da minha tese de doutoramento em arqueologia. Tinha acabado de regressar de quatro meses de trabalho de campo nas ilhas gregas. O meu trabalho estava a correr bem. Estava apaixonado. Era uma boa vida.
Não fazia a mínima ideia de que, a três mil e poucos quilómetros de distância, Stanislav Petrov estava a decidir se me matava ou não. Petrov era o diretor-adjunto para os algoritmos de combate em Serpukhov-15, o centro nevrálgico do sistema de aviso prévio da União Soviética. Era um homem metódico, engenheiro, programador informático — e não era, felizmente para mim, homem dado a pânicos. Mas quando soaram as sirenes, um pouco depois da meia-noite (hora de Moscovo), até Petrov saltou da sua cadeira. Uma luz vermelha ganhou vida num mapa gigante do hemisfério norte que enchia toda uma parede da sala de comando. Indicava que um míssil fora lançado do Montana.
Por cima do mapa, acenderam-se luzes vermelhas, soletrando a palavra mais assustadora que Petrov conhecia: LANÇAMENTO.
Os computadores confirmaram, uma e outra vez, os seus dados. Uma vez mais, as luzes vermelhas acenderam-se, desta vez com maior certeza: LANÇAMENTO — FIABILIDADE ELEVADA.
De certo modo, Petrov já estava à espera de que este dia chegasse. Seis meses antes, Ronald Reagan denunciara a Mãe Rússia como um império do mal. Tinha ameaçado com a construção de um escudo antimíssil no espaço pelos americanos, o que acabaria com o equilíbrio de terror mútuo que permitira manter a paz durante perto de quarenta anos. Depois, anunciara que iria acelerar o desenvolvimento de novos mísseis, capazes de atingir Moscovo com um voo de apenas cinco minutos. Em seguida, como se gozasse com a vulnerabilidade da União Soviética, um avião de passageiros sul-coreano extraviou-se sobre a Sibéria, aparentemente perdido. A força aérea soviética demorou várias horas a encontrá-lo e depois, enquanto o avião regressava, finalmente, a espaço aéreo neutro, um caça abateu-o. Todos os que seguiam a bordo morreram — incluindo um congressista americano. Agora, de acordo com o ecrã, os imperialistas tinham dado o último passo.

Ronald Reagan, antigo Presidente dos EUA
E no entanto… Petrov sabia que a Terceira Guerra Mundial não seria assim. Um primeiro ataque americano deveria incluir mil mísseis Minuteman* a rugir sobre o polo norte. Viria com um inferno de fogo e de radiação, um frenético esforço máximo para destruir os mísseis soviéticos enquanto estes ainda se encontravam nos seus silos, deixando Moscovo sem meios para responder. Lançar um único míssil era uma loucura.
A função de Petrov era seguir as regras, correr todos os testes de avarias obrigatórios, mas não havia tempo para nada disso. Ele tinha de decidir se o mundo estava ou não prestes a acabar.
Pegou no telefone. «Estou a informá-lo», disse ao oficial de serviço do outro lado da linha. Tentou manter um tom neutro. «Trata-se de um falso alarme.»
O oficial de serviço não fez nenhuma pergunta, não mostrou ansiedade alguma. «Percebi.»
Um instante depois, a sirene era desligada. O pessoal de Petrov começou a relaxar. Os técnicos regressaram às suas rotinas diárias, procurando, de modo sistemático, erros nos circuitos. Mas depois…
LANÇAMENTO.
A palavra a vermelho tinha regressado. Surgiu uma segunda luz no mapa; estava a caminho um outro míssil.
E depois acendeu-se outra luz. E outra, e outra, até todo o mapa ficar vermelho-vivo. Os algoritmos que Petrov tinha ajudado a programar assumiam agora o comando. Durante um instante, o painel por cima do mapa ficou preto. Depois voltou a acender-se comum novo aviso. Estava a anunciar o apocalipse.
ATAQUE DE MÍSSIL.
O maior supercomputador da União Soviética enviou automaticamente esta mensagem para toda a cadeia de comando. Agora, cada segundo contava. O velho e doente Yuri Andropov, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, estava prestes a tomar a decisão mais importante de sempre.
Pode não estar muito interessado na guerra, terá dito Trotsky, mas a guerra está muito interessada em si. Cambridge era — e ainda é — uma sonolenta cidade universitária, longe dos lugares de poder. Apesar disso, em 1983, encontrava-se cercada por bases da força aérea, e estava bem acima na lista de alvos de Moscovo. Se os funcionários públicos soviéticos tivessem acreditado nos algoritmos de Petrov, eu estaria morto em quinze minutos, vaporizado por uma bola de fogo mais quente do que a superfície do Sol. King’s College e o seu coro, as vacas a pastarem enquanto os barcos balançavam nas águas, os académicos nas suas túnicas a passar pelo porto em High Table — teriam sido transformados em pó radioativo.
Ainda que os soviéticos lançassem apenas os mísseis que tinham apontado a alvos militares (algo a que os estrategas chamam «ataque de contraforça») e os Estados Unidos tivessem respondido na mesma moeda, eu teria sido um dos cerca de cem milhões de pessoas que teriam explodido e sido queimadas e envenenadas no primeiro dia de guerra. Mas provavelmente, não seria isso que aconteceria. Apenas três meses antes do momento da verdade de Petrov, o Centro de Desenvolvimento de Conceitos Estratégicos americano tinha feito correr um jogo de guerra para ver como poderiam decorrer as fases iniciais de um combate nuclear. Concluíram que nenhum jogador conseguiria parar nos ataques de contraforça. Em todos os casos, intensificaram-se para ataques de contravalor, abrindo fogo sobre cidades assim como sobre silos. E quando isso aconteceu, a taxa de mortalidade nos primeiros dias subiu para mais de quinhentos milhões, com as poeiras radioativas, a fome e os combates subsequentes a matar mais quinhentos milhões nas semanas e meses que se seguiriam.
Contudo, de volta ao mundo real, Petrov traçou uma linha. Admitiu, mais tarde, que estava tão assustado que as pernas cederam, mas ainda confiava nos seus instintos mais do que nos seus algoritmos. Seguindo o seu instinto, disse ao oficial de serviço que também este era um falso alarme. A mensagem de ataque por míssil foi interrompida ainda antes de ter subido a cadeia de comando. Doze mil ogivas nucleares soviéticas permaneceram nos seus silos; mil milhões de nós sobrevivemos para ver nascer mais um dia.
No entanto, a recompensa de Petrov por ter salvado o mundo não foi o peito cheio de medalhas. Foi uma reprimenda oficial por enviar papelada confusa e por não ter seguido os protocolos (cabia ao secretário-geral decidir se destruiria, ou não, o planeta). Foi afastado para uma função menos sensível. Viria a reformar-se antecipadamente, sofreu um esgotamento nervoso e afundou-se na pobreza abjeta, enquanto a União Soviética se desfazia em pedaços e deixava de pagar aos seus pensionistas mais velhos.
Um mundo assim — no qual o Armagedão dependia de engenharia de má qualidade e dos juízos rápidos dos programadores informáticos — enlouquecera seguramente. Naquela altura, muitos pensavam assim. Dentro da Aliança americana, onde as pessoas eram livres para fazerem tais coisas, milhões marcharam num esforço para banir a bomba; protestaram contra as agressões dos seus governos, ou votaram em políticos que prometiam o desarmamento unilateral. Do lado soviético, onde as pessoas não eram livres para fazerem tais coisas, mais dissidentes do que o habitual marcaram posição e foram traídos à polícia secreta.
Mas nada disso fez grande diferença. Os dirigentes ocidentais voltaram a ser eleitos com maiorias reforçadas e compraram armas cada vez mais avançadas; os governantes soviéticos construíram ainda mais mísseis. Em 1986, a pilha de ogivas nucleares mundial atingia o seu nível mais alto de sempre, mais de setenta mil, e o colapso do reator nuclear soviético em Chernobyl ofereceu um pequeno vislumbre do que poderia ser o futuro.
As pessoas exigiam respostas e, de ambos os lados da Cortina de Ferro, os jovens viravam as costas aos políticos mais velhos e comprometidos, a favor de vozes mais altas. Falando para uma geração pós-baby-boomer, Bruce Springsteen pegou na maior das canções de protesto da era do Vietname — «War», o clássico da Motown de Edwin Starr — e lançou uma versão sobrecarregada diretamente para o top ten:
War!
Huh, good God.
What is it good for?
Absolutely nothing.
Say it, say it, say it…
Oooh, war! I despise
Because it means destruction
Of innocent lives
War means tears
To thousands of mothers’ eyes
When their sons go to fight
And lose their lives…
War!
It ain’t nothing but a heartbreaker.
War!
Friend only to the undertaker…
PAZ PARA O NOSSO TEMPO
Neste livro, quero discordar. Pelo menos até certo ponto.
A guerra, sugerirei, não tem sido amiga do cangalheiro. A guerra é um assassino de massas e, no entanto, naquele que talvez seja o maior paradoxo da história, a guerra tem sido, ainda assim, o pior inimigo do cangalheiro. Contrariamente ao que diz a canção, a guerra tem sido boa para alguma coisa: com o passar do tempo, fez com que a humanidade ficasse mais segura e mais rica. A guerra é um inferno, mas — mais uma vez, com o passar do tempo — as alternativas teriam sido piores.
Esta será uma afirmação controversa, por isso deixem-me explicar o que quero dizer.
Existem quatro partes no argumento que apresento. A primeira é que com as guerras as pessoas criaram sociedades maiores e mais organizadas que reduziram o risco de os seus membros morrerem de modo violento.
Esta observação assenta numa das maiores descobertas dos arqueólogos e dos antropólogos ao longo do último século, de que as sociedades da Idade da Pedra eram, normalmente, minúsculas. Acima de tudo devido à dificuldade em encontrar alimentos, as pessoas viviam em bandos de algumas dúzias, aldeias com algumas centenas ou (muito ocasionalmente) cidades com alguns milhares de habitantes. Estas comunidades não precisavam de muito em matéria de organização interna e tendiam a viver numa lógica de suspeição ou mesmo de hostilidade para com os forasteiros.
As pessoas resolviam, em geral, os seus diferendos de modo pacífico, mas se alguém decidisse usar a força, estaria sujeito a muito menos restrições do que aquelas a que os cidadãos dos Estados modernos estão habituados. A maioria das mortes ocorria em pequena escala, resultado de vinganças e ataques incessantes, embora, de vez em quando, a violência pudesse afetar todo o bando ou aldeia ao ponto de a doença e a fome eliminarem todos os seus membros. Mas sendo as populações igualmente reduzidas, a violência constante, ainda que de baixo nível, causava prejuízos terríveis. Segundo a maior parte das estimativas, entre 10 e 20 por cento de todas as pessoas que viviam em sociedades da Idade da Pedra morreu pela mão de outros seres humanos.
O século XX surge num contundente contraste. Assistiu a duas guerras mundiais, uma corrente de genocídios e várias fomes infligidas por governos, matando ao todo uns espantosos 100 a 200 milhões de pessoas. As bombas atómicas largadas sobre Hiroxima e Nagasáqui mataram mais de 150 000 pessoas — talvez mais pessoas do que aquelas que viviam no mundo inteiro em 50 000 a.C. Mas em 1945, havia cerca de 2,5 mil milhões de pessoas na Terra e ao longo do século XX, viveram cerca de 10 mil milhões de pessoas — o que significa que os 100-200 milhões de mortes relacionadas com a guerra desse século perfazem apenas 1 ou 2 por cento da população total do planeta. Se o leitor teve a sorte de ter nascido no século XX industrializado, tem, em média, dez vezes menos probabilidades de morrer de modo violento (ou das consequências da violência) do que se tivesse nascido numa sociedade da Idade da Pedra.

Poderá ser uma estatística surpreendente, mas a sua explicação é ainda mais surpreendente. O que tornou o mundo muito mais seguro foi a própria guerra. Tentarei demonstrar nos capítulos 1 a 5 que, começando há dez mil anos, em certas partes do mundo, e disseminando-se depois por todo o planeta, os vencedores das guerras passaram a incorporar os derrotados em sociedades maiores. Para que estas sociedades maiores funcionassem era necessário que os seus governantes desenvolvessem governos fortes, e uma das primeiras coisas que estes governos tinham de fazer, se se quisessem manter no poder, era acabar com a violência dentro da própria sociedade.
Os homens que encabeçavam estes governos raramente seguiam políticas pacificadoras devido à bondade do seu coração. Tomavam medidas enérgicas contra os homicídios porque era mais fácil governar e cobrar impostos a súbditos bem-comportados do que a súbditos furiosos e assassinos. A consequência não intencional, contudo, foi uma queda de 90 por cento na taxa de mortes violentas entre a Idade da Pedra e o século XX.
O processo não foi bonito. Quer se tratasse dos romanos na Britânia ou dos britânicos na Índia, os pacificadores podiam ser tão brutais como a selvajaria que queriam eliminar. Nem foi suave: durante curtos períodos em locais determinados, as mortes violentas podiam regressar abruptamente aos níveis da Idade da Pedra. Entre 1914 e 1918, por exemplo, perto de um sérvio em cada seis morria em resultado da violência, da doença ou da fome. E, claro, nem todos os governos foram igualmente bons a alcançar a paz. As democracias podem ser confusas, mas raramente devoram os seus filhos; as ditaduras conseguem fazer as coisas, mas tendem a executar, matar pela fome e gasear muita gente. E, no entanto, apesar de todas as variações, classificações e exceções, ao longo de dez mil anos, a guerra fez governos, e os governos fizeram a paz.
O meu segundo argumento é que, ainda que a guerra seja um método terrível para a criação de sociedades maiores e mais pacíficas, provavelmente foi a única maneira que os seres humanos encontraram para o fazer. «Deus sabe, tem de haver uma maneira melhor», cantava Edwin Starr, mas, aparentemente, não há. Se o Império Romano pudesse ter sido criado sem a morte de milhões de gauleses e de gregos, se os Estados Unidos pudessem ter sido erguidos sem a morte de milhões de nativos americanos — nesses casos e em muitos outros, se os conflitos pudessem ter sido resolvidos com conversações em vez de com o uso da força, a humanidade poderia ter recolhido os benefícios das sociedades maiores sem ter de pagar um preço tão elevado. Mas isso não aconteceu. É um pensamento deprimente, mas os indícios parecem, uma vez mais, ser claros. As pessoas quase nunca abdicam da sua liberdade, incluindo o direito a matarem e a empobrecerem-se umas às outras, a menos que sejam obrigadas a fazê-lo, e a única força suficientemente pujante para que tal aconteça tem sido a derrota na guerra ou o medo de que tal derrota esteja iminente.
Se eu tiver razão quanto a os governos nos terem trazido mais segurança e que a guerra talvez seja a única maneira encontrada para fazer governos, teremos necessariamente de concluir que a guerra, realmente, serviu para alguma coisa. A minha terceira conclusão, apesar de tudo, vai ainda mais longe. Além de deixar as pessoas mais seguras, sugiro que as sociedades maiores criadas pela guerra também nos tornaram — uma vez mais, com o passar do tempo — mais ricos. A paz criou as condições para o crescimento económico e para melhorar o nível de vida. Também este processo foi confuso e desigual: os vencedores das guerras lançam-se, regularmente, em frenesis de violação e pilhagem, vendendo milhares de sobreviventes à escravatura e apoderando-se das suas terras. Os derrotados podem ficar mais pobres durante gerações. É uma atividade feia e terrível. E, no entanto, com o passar do tempo — talvez décadas, talvez séculos — a criação de uma sociedade ainda maior tende a deixar toda a gente, os descendentes dos vencedores bem como os dos vencidos, em melhores condições. O padrão a longo prazo é, uma vez mais, inconfundível. Ao criar sociedades maiores, governos mais fortes e maior segurança, a guerra enriqueceu o mundo.
Quando juntamos estes três argumentos, só uma conclusão é possível. A guerra produziu cidades maiores, geridas por governos mais fortes, os quais impuseram a paz e criaram as condições prévias para a prosperidade. Há dez mil anos, existiam apenas cerca de seis milhões de pessoas na Terra. Viviam, em média, cerca de trinta anos e sustentavam-se a si mesmas com o equivalente a menos de 2 dólares atuais por dia. Agora, somos mais de mil vezes mais (sete mil milhões, na verdade), vivemos mais do dobro do tempo (a esperança média de vida global é de sessenta e sete anos) e ganhamos mais de uma dúzia de vezes mais (atualmente a média global é de 25 dólares por dia).
A guerra, portanto, valeu de alguma coisa — de tanto, de facto, que o meu quarto argumento é que a guerra está agora a pôr-se a si própria fora de serviço. Durante milénios, a guerra criou (ao longo do tempo) paz e a destruição criou riqueza, mas na nossa própria era, a humanidade tornou-se tão boa nos confrontos — as nossas armas tão destrutivas, as nossas organizações tão eficientes — que a guerra está a começar a tornar a guerra deste tipo impossível. Se os acontecimentos tivessem sido diferentes naquela noite de 1983 — se Petrov tivesse entrado em pânico, se o secretário-geral tivesse carregado, verdadeiramente, no botão e se mil milhões de nós tivéssemos sido mortos ao longo das semanas seguintes — a taxa de mortalidade violenta do século XX teria regressado aos valores da Idade da Pedra e se o legado tóxico de todas aquelas ogivas nucleares fosse tão terrível como alguns cientistas temiam, por esta altura poderiam já não existir sequer seres humanos.
A boa notícia é que não só isto não aconteceu, como também não era, francamente, possível que acontecesse. Regressarei às razões do porquê no capítulo 6, mas a questão essencial é que nós, humanos, provámos que somos extraordinariamente bons a adaptar-nos ao nosso meio envolvente em mutação. Combatemos em inúmeras guerras no passado porque combater compensava, mas no século XX, conforme os lucros da guerra foram diminuindo, fomos encontrando maneiras de resolvermos os nossos problemas sem fazer abater sobre nós o Armagedão. Não existem garantias, claro, mas no último capítulo deste livro sugerirei que existem, ainda assim, motivos para alimentarmos a esperança de que continuaremos a evitar este desfecho. O século XXI assistirá a mudanças espantosas em todos os aspetos, incluindo no que diz respeito ao papel da violência. O velho sonho de um mundo sem guerra poderá ainda concretizar-se — ainda que a forma assumida por esse mundo seja uma questão completamente diferente.
Apresentar estes argumentos com tamanho arrojo, provavelmente, desencadeou todo o tipo de alarmes. O que, poderá o leitor interrogar-se, quererei eu dizer por «guerras» e como poderei eu saber quantas pessoas morreram nessas mesmas guerras? A que estarei eu a chamar «sociedade», e como poderei eu dizer que uma sociedade se encontra em crescimento? E o que, já agora, constitui um «governo» e como podemos avaliar a sua força? São tudo boas perguntas e, à medida que a minha história se desenrolar, tentarei responder-lhes.
Contudo, o meu principal argumento é que a guerra tornou o mundo mais seguro; o que, provavelmente, fará levantar muitas sobrancelhas. Este livro está a ser preparado em 2014, exatamente cem anos depois do estalar da Primeira Guerra Mundial, em 1914, e setenta e cinco anos desde o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Os dois conflitos deixaram atrás de si 100 milhões de mortos — seguramente o suficiente para que assinalar os seus aniversários com um livro que afirma que a guerra nos trouxe maior segurança pareça uma piada de mau gosto. Mas 2014 é também o vigésimo quinto aniversário do fim da Guerra Fria, em 1989, que livrou o mundo de repetições do pesadelo de Petrov. Defenderei neste livro que os dez mil anos de história da guerra, desde o fim da última idade do gelo, são, de facto, uma narrativa única que conduziu até este ponto, e na qual a guerra tem sido um dos atores principais e que tornou o mundo o local mais seguro e rico de sempre.

6 de junho de 1944, o dia D na Segunda Guerra Mundial
Se isto parece um paradoxo, é porque tudo sobre a guerra é paradoxal. O estratega Edward Luttwak resume muito bem o assunto. Na vida quotidiana, observa, «a lógica linear não contraditória, cuja essência é o mero senso comum, é dominante. Na esfera da estratégia, contudo, […] entra em funcionamento uma outra lógica bastante diferente, que viola sistematicamente a comum lógica linear». A guerra «tende a recompensar a conduta paradoxal ao mesmo tempo que derrota francamente a ação lógica, gerando resultados irónicos».
Na guerra, o paradoxo é profundo. De acordo com Basil Liddell Hart, um dos pais fundadores das táticas com tanques do século XX, a conclusão é que «a guerra é sempre uma questão de fazer o mal na esperança de que dele resulte o bem». Da guerra vem a paz; da perda, o ganho. A guerra leva-nos através do espelho, para um mundo virado de pernas para o ar onde nada é exatamente o que parece. A argumentação deste livro é uma proposta de mal menor, uma das formas clássicas de paradoxo. É fácil listar todas as coisas pelas quais a guerra é má, com a morte no topo da lista. E, no entanto, a guerra continua a ser um mal menor, porque a história mostra que não é tão má quanto a alternativa — a violência quotidiana constante, do tipo da da Idade da Pedra, sangrando vidas e deixando-nos na pobreza.
A objeção óbvia aos argumentos do mal menor é que estes têm um registo decididamente contraditório. Os ideólogos adoram-nos: um extremista após outro asseguraram aos seus seguidores que se eles queimassem aquelas bruxas, gaseassem aqueles judeus ou desmembrassem aqueles tutsis, tornariam o mundo puro e perfeito. E, no entanto, estas afirmações violentas também podem ser viradas ao contrário. Se o leitor pudesse recuar no tempo e estrangular Adolf Hitler no seu berço, fá-lo-ia? Se optasse pelo mal menor, uma «mortezinha» agora poderia evitar imensas mortes mais tarde. O mal menor implica escolhas incómodas.
Os filósofos morais interessam-se particularmente pela complexidade da defesa dos males menores. Ouvi um colega do departamento de filosofia da minha universidade pedir a um anfiteatro cheio que imaginasse que tinham capturado um terrorista. Ele pôs uma bomba, mas não lhes diz onde. Se o torturarem, talvez ele lhes diga, salvando-se dezenas de vidas. Arrancar-lhe-iam as unhas? Se os estudantes hesitarem, o filósofo sobe a parada. A vossa família, diz, estará entre os mortos. E agora, já agarrariam nos alicates? E se ele ainda assim se recusar a responder, torturariam a família dele?
Estas perguntas incómodas levantam questões muito sérias. No mundo real, tomamos constantemente decisões relacionadas com o mal menor. Estas podem ser avassaladoras e, nos últimos anos, os psicólogos começaram a tomar conhecimento do que os dilemas nos fazem. Se um experimentador o imobilizasse, o pusesse no interior de uma máquina de ressonância magnética e depois lhe fizesse perguntas moralmente desafiantes, o seu cérebro comportar-se-ia de modo assustador. Conforme se imaginasse a torturar um terrorista, o seu córtex orbital acender-se-ia no ecrã da máquina com o sangue a inundar os circuitos do seu cérebro que lidam com pensamentos desagradáveis. Mas à medida que calculasse o número de vidas que salvaria, o seu córtex dorsolateral iluminar-se-ia, enquanto um novo conjunto de circuitos era ativado. Iria sentir estes impulsos emocionais e intelectuais conflituosos sob a forma de uma intensa luta interior, a qual acenderia também o seu córtex anterior cingulado.
Dado que o argumento do mal menor nos deixa tão desconfortáveis, este livro poderá constituir uma leitura perturbadora. Afinal de contas, a guerra é assassínio em massa. Que tipo de pessoa diz que algo de bom pode advir dela? O tipo de pessoa, respondo eu agora, que ficou espantada com as conclusões da sua própria investigação. Se alguém me tivesse dito há dez anos que eu escreveria este livro, não creio que tivesse acreditado nele ou nela. Mas aprendi que os indícios da história (bem como da arqueologia e da antropologia) não são ambíguos. Por incómodo que o facto seja, a longo prazo, a guerra tornou o mundo mais seguro e mais rico.
Dificilmente poderei ser considerado a primeira pessoa a ter reparado nisso. Há três quartos de século, o sociólogo alemão Norbert Elias escrevia uma dissertação de dois volumes, teórica e densa, intitulada O Processo Civilizacional, em que defendia que a Europa se tinha tornado num lugar muito mais pacífico ao longo dos cinco séculos anteriores. Desde a Idade Média, sugeriu, os homens europeus das classes mais altas (que tinham sido responsáveis pela fatia de leão da brutalidade) haviam gradualmente renunciado ao uso da força e o nível geral de violência fora reduzido.

O sociólogo Norbert Elias
As provas que Norbert Elias apontou estavam à vista de todos, há muito tempo. Tal como muitas outras pessoas, encontrei algumas delas sozinho da primeira vez que me disseram (em Inglês, no secundário, corria o ano de 1974) que desmontasse uma das peças de Shakespeare. O que me chamou a atenção não foi a beleza da linguagem do Bardo, mas o quão sensíveis eram todas as suas personagens. À mais pequena coisa, enfureciam-se e começavam a esfaquear-se umas às outras. Havia, certamente, pessoas assim na Inglaterra dos anos 70 do século XX, mas tendiam para acabar na prisão e/ou num hospital psiquiátrico — ao contrário dos bandidos de Shakespeare, que eram com mais frequência louvados do que censurados por baterem primeiro e perguntarem depois.
Mas poderia Norbert Elias ter, verdadeiramente, razão ao afirmar que o nosso mundo era mais pacífico do que há uns séculos? Essa, como diria Shakespeare, é que é a questão, e a resposta de Norbert Elias foi que por volta dos anos 90 do século XVI, quando Shakespeare escreveu Romeu e Julieta, os seus Montéquios e Capuletos homicidas eram já anacronismos. A contenção estava a substituir a raiva como emoção definidora de um homem de honra.
É o tipo de teoria que deveria ter chegado às notícias, mas — como os editores dizem sempre aos autores — o sentido de oportunidade é tudo. O sentido de oportunidade de Norbert Elias foi péssimo. O Processo Civilizacional foi publicado em 1939, quando os europeus se lançavam numa orgia de seis anos de violência que deixou atrás de si mais de cinquenta milhões de mortos (entre eles a mãe de Norbert Elias, que morreria em Auschwitz). Por volta de 1945, ninguém estava disposto a ler que os europeus estavam mais civilizados e pacíficos.
Só nos anos 80 do século XX, quando Norbert Elias já estava reformado há muito, lhe deram razão. Por essa altura, as décadas de trabalho meticuloso levado a cabo por historiadores sociais, analisando arquivos de registos de tribunal degradados, começaram a gerar estatísticas que sugeriam que ele tinha razão. Por volta de 1250, concluíram, cerca de um europeu ocidental em cada cem podia contar ser vítima de homicídio. Na época de Shakespeare, esse número tinha caído para um em cada trezentos e, em 1950, para um em cada três mil. E, como Norbert Elias insistiu, as classes mais altas mostravam o caminho no que dizia respeito ao bom relacionamento.
Nos anos 90 do século XX, o enredo adensou-se ainda mais. No seu livro War Before Civilization, tão notável quanto O Processo Civiliza-
cional de Norbert Elias, o antropólogo Lawrence Keeley organizou pilhas de estatísticas para mostrar que as sociedades da Idade da Pedra que ainda existiam no século XX eram chocantemente violentas. As lutas e pilhagens ceifavam por norma uma pessoa em cada dez ou até uma pessoa em cada cinco. Se Keeley tivesse razão, tal significaria que as sociedades da Idade da Pedra eram dez ou vinte vezes mais violentas do que o mundo tumultuoso da Europa medieval e trezentas a seiscentas vezes piores do que a Europa de meados do século XX.
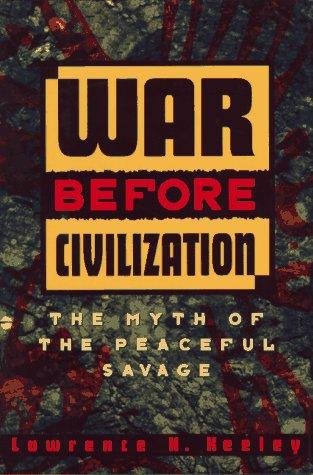
O livro de Lawrence Keeley
É difícil calcular as taxas de mortalidade violenta nas sociedades da Idade da Pedra ou na pré-história, mas quando Keeley olhou para os indícios de homicídio, massacre e caos geral no passado distante, os nossos primeiros antepassados surgiram, pelo menos, como tão homicidas quanto os grupos contemporâneos estudados por antropólogos. O silencioso testemunho das pontas de pedra de setas alojadas entre costelas, dos crânios esmagados por objetos rombos e das armas empilhadas em covas revelam o processo civilizacional como um assunto mais longo, mais lento e mais desigual do que Norbert Elias imaginara.
Nem mesmo as guerras mundiais, reconheceu Keeley, tornaram o mundo moderno tão perigoso como a Idade da Pedra, e um terceiro corpo de obras académicas vem agora reforçar este ponto. Este começou a ganhar forma nos anos 60 do século XX, com a publicação de outro livro notável (se bem que quase ilegível), Statistics of Deadly Quarrels, da autoria do excêntrico matemático, pacifista e (até ter abandonado a sua carreira depois de ter percebido o quanto ajudava a força aérea) meteorologista Lewis Fry Richardson.
Richardson passou os últimos vinte e poucos anos da sua vida em busca dos padrões estatísticos por trás do aparente caos da morte. Pegando numa amostra de trezentas guerras, travadas entre 1820 e 1949, incluindo verdadeiros massacres como a Guerra Civil Americana, as conquistas coloniais europeias e as duas Guerras Mundiais, concluiu — para sua evidente surpresa — que «as perdas de vidas em querelas fatais, variando em magnitude de assassínios a guerras mundiais, representaram cerca de 1,6 por cento de todas as mortes deste período». Se acrescentarmos as guerras do mundo moderno aos seus homicídios, parece que apenas uma pessoa em 62,5 morreu de forma violenta entre 1820 e 1949 — cerca de um décimo da taxa encontrada entre os caçadores-recoletores da Idade da Pedra.
E ainda havia mais: «O aumento da população mundial entre 1820 e 1949», descobriu Richardson, «parece não ter sido acompanhado por um aumento proporcional na frequência das guerras e na perda de vidas no seu contexto, como seria de esperar se a beligerância tivesse sido constante.» Conclusão: «A humanidade tornou-se menos guerreira a partir de 1820 d.C.»

Lewis Fry Richardson
Mais de cinquenta anos depois do livro de Richardson, a construção de bases de dados de mortes cresceu, até se assumir como uma indústria académica secundária. As novas versões são mais sofisticadas do que as de Richardson e mais ambiciosas, estendendo-se desde o ano de 1500 até 2000. Tal como todas as indústrias académicas, encontra-se pejada de controvérsia e até na guerra mais bem documentada da história, a ocupação do Afeganistão desde 2001, encabeçada pelos americanos, existem inúmeras maneiras de contar quantas pessoas morreram. Mas apesar de todos estes problemas, as conclusões centrais de Richardson mantêm-se intactas. Embora a população mundial tenha crescido, o número de pessoas a serem mortas não acompanhou esse crescimento. Resultado: a probabilidade de qualquer um de nós morrer violentamente caiu.
O novo edifício intelectual recebeu a sua cúpula em 2006 com a publicação da monumental obra de Azar Gat, War in Human Civilization. Atraído por uma espantosa gama de campos académicos (e, presumivelmente, pela sua própria experiência como major nas Forças de Defesa de Israel), Gat reuniu as novas argumentações numa única história convincente sobre como a humanidade domesticou a sua própria violência ao longo de milhares de anos. Hoje em dia, ninguém pode pensar seriamente sobre a guerra sem considerar as ideias de Gat e qualquer pessoa que tenha lido o seu livro verá a sua influência em cada página do meu.
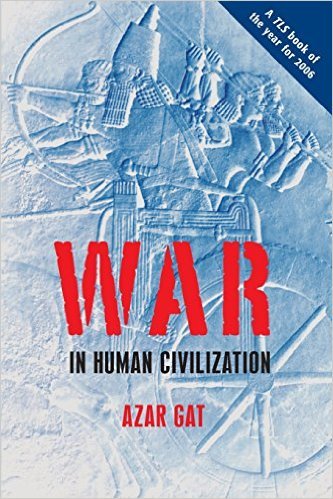
“War in Human Civilization”, de Azar Gat
O pensamento acerca da guerra passou por uma grande mudança intelectual. Há apenas uma geração, a hipótese do declínio da violência era ainda a louca especulação de um velho sociólogo, que nem valia a pena mencionar aos alunos perplexos com Shakespeare. E ainda tem os seus opositores: em 2010, por exemplo, o livro de Christopher Ryan e Cacilda Jethá, Sex at Dawn, que nega vigorosamente que as primeiras sociedades humanas fossem violentas, foi um sucesso de vendas; em 2012, após vários anos a proferir afirmações semelhantes nas páginas da revista Scientific American, John Horgan reuniu-as no seu livro The End of War; e em 2013, o antropólogo Douglas Fry reuniu ensaios de trinta e um académicos num só volu-
me, War, Peace, and Human Nature, interrogando-se se as taxas de mortalidade violenta teriam verdadeiramente caído com o passar dos séculos. Mas embora todos estes livros sejam interessantes, cheios de informação e mereçam ser lidos, parecem-me (como se tornará claro nos capítulos seguintes) usar os indícios de modo bastante seletivo, além de terem sido ultrapassados por uma vaga de estudos mais vastos que reforçam os conhecimentos-chave de Norbert Elias, Keeley, Richardson e Gat. Enquanto escrevia a primeira versão desta introdução, não um, mas sim dois importantes trabalhos sobre o declínio da violência surgiram no espaço de um só mês: o livro do cientista político Joshua Goldstein, Winning the War on War, e o do psicólogo Steven Pinker, Better Angels of Our Nature. Um ano mais tarde, Jared Diamond, geógrafo vencedor de um Pulitzer, dedicava a secção mais longa do seu livro O Mundo até ontem ao mesmo assunto. A discussão mantém-se acesa, mas sobre a questão básica, a de que as taxas de morte violenta caíram verdadeiramente, existe uma concordância crescente.
Isto até questionarmos o porquê do declínio da violência.”

















