Depois de um livro dedicado à evolução da pobreza em Portugal, Maria Filomena Mónica concentrou atenções no extremo oposto: a evolução da riqueza no país. “Os Ricos” é o novo livro da socióloga e historiadora portuguesa. Chegou às livrarias dia 25 de maio e aborda não só a origem das grandes fortunas nacionais, mas também os costumes e a mentalidade portuguesa sobre o enriquecimento.
Recorrendo a memórias, diários e entrevistas, Maria Filomena Mónica narra a evolução do sistema financeiro e dos grandes detentores das fortunas portuguesas ao longo de décadas. O Observador selecionou alguns dos excertos do capítulo “Preâmbulo Histórico”, em que a autora analisa a economia do Estado Novo, as mudanças no mundo empresarial depois do 25 de Abril e o princípio que vigora desde sempre no país: “Não o princípio marxista de a cada um segundo as suas necessidades, nem o meritocrático, o de cada um segundo a sua competência, mas um sistema infinitamente mais simples, o de cada um segundo as amizades políticas, as ligações familiares ou as crenças religiosas.”
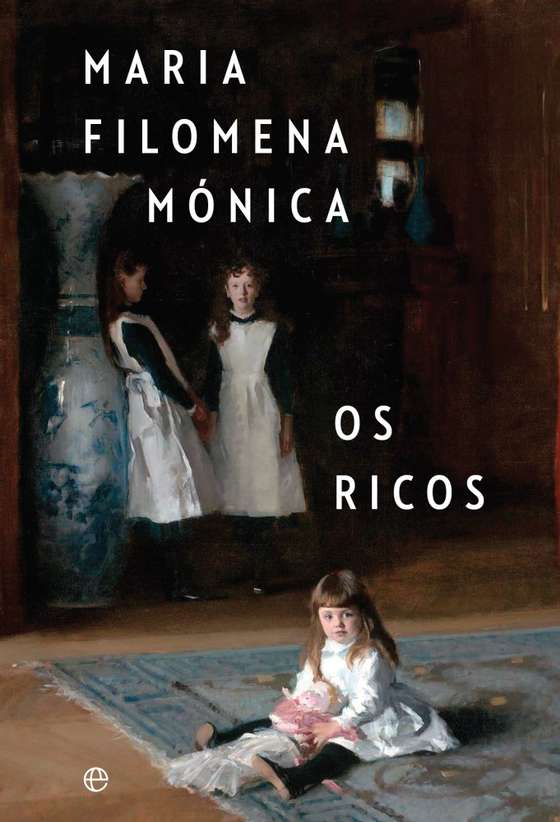
“Os Ricos” é o novo livro do Maria Filomena Mónica. Chega às livrarias a 25 de maio
Salazar, a Coca-Cola e uma frase: “Quero um país pobre”
Aparecia um homem, António de Oliveira Salazar, com força e convicções suficientes para moldar o país a seu modo. Finalmente, os empresários obtiveram aquilo que desejavam: o condicionamento industrial e um protecionismo pautal fortíssimo. A partir de 1930, o Estado passou a intervir de tal forma na vida económica que alguns estudiosos do período têm dificuldade em aceitar o sistema como pertencendo à família capitalista. Durante o longo reinado salazarista, foi-se constituindo um patriciado de Estado, assente em monopólios internos, mercados coloniais cativos, protecionismo alfandegário e uma força política capaz de lhes assegurar mão-de-obra barata.

▲ Salazar num discurso de novembro de 1938
AFP/Getty Images
Por outro lado, a interpenetração entre o Estado e os grupos económicos foi crescendo. O acesso ao poder político, que decidia coisas tão importantes como quem podia montar uma fábrica, importar matérias-primas ou exportar produtos, passou a ser decisivo. As encomendas do Estado continuaram a ser fundamentais, especialmente nas grandes obras. Todos os aspetos da vida empresarial, dos mais insignificantes aos essenciais, dependiam de decisão administrativa.
O Estado Novo assegurou ainda uma «paz social» que permitia aos empresários continuarem a dispor da mão-de-obra mais mal paga da Europa. É verdade que, durante o regime republicano, a tropa interviera frequentemente, e com severidade, em muitas greves, mas a existência de sindicatos livres, especialmente entre os trabalhadores qualificados, obrigara os patrões a cedências ocasionais. A força que a «aristocracia operária» detinha foi destruída, em 1933, pelo Estatuto do Trabalho Nacional. Com a ajuda da polícia política, os sindicatos corporativos encarregaram-se do problema laboral. A partir de então, os patrões puderam dormir descansados: os anos 1920 eram apenas uma má recordação.
Na década de 1960, iniciou-se a grande viragem. A medo, e com prudência maníaca, Salazar deixou que a indústria nacional embarcasse na aventura da EFTA. As exportações aumentaram e o sector têxtil, em particular, beneficiou. Mas não se tratava de uma abertura assumida. O comércio externo continuava a estar submetido a autorizações sem fim e as clientelas a lutar entre si pelos favores que o Estado distribuía arbitrariamente.
Como sobre muitas outras coisas, as convicções de Salazar sobre a pobreza e a riqueza pouco mudaram. Por mais de uma vez se queixou do facto de os portugueses quererem enriquecer. Esse desejo horrorizava-o tanto quanto o interesse que o país despertava junto dos capitalistas estrangeiros. Um dia terá mesmo dito, em confidência, a Franco Nogueira: «Quero este país pobre, mas independente: não o quero colonizado por capital americano.» Salazar sempre pensou que um país que tivesse a coragem de ser pobre seria «um país invencível». Em 1962, ainda via Portugal como um país modesto, recatado, obediente. Mas isto, que fora uma realidade durante trinta anos, estava em vias de sofrer uma modificação.
A história da relação de Salazar com a empresa Coca-Cola é exemplar. Não era apenas por a bebida poder ferir os interesses da viticultura que o Presidente do Conselho decidiu interditá-la. A cerveja também o fazia e acabou por se instalar em Portugal. O que Salazar temia, no caso da Coca-Cola, era que a sua presença alterasse o que, numa carta a A. Makinsky (o responsável daquela multinacional na Europa), designava como a sua «paisagem moral». Eis o que escreveu: «Portugal é um país conservador, paternalista e – Deus seja louvado – “atrasado”, termo que eu considero mais lisonjeiro do que pejorativo. O senhor arrisca-se a introduzir em Portugal aquilo que eu detesto acima de tudo, ou seja, o modernismo e a famosa “efficiency”. Estremeço perante a ideia dos vossos camiões a percorrer, a toda a velocidade, as ruas das nossas velhas cidades, acelerando, à medida que passam, o ritmo dos nossos hábitos seculares.» Mais claro não podia ser.
Os ventos de mudança e o fracasso de Marcello Caetano
Portugal não conseguira manter o seu antigo isolamento. Em 1970, embora em número reduzido, existiam já algumas fábricas pertencentes a multinacionais a fabricar produtos inacabados para exportação ou a montar componentes para automóveis.
O dinheiro, com os seus devastadores efeitos sobre as hierarquias sociais, provou ter uma força que nem o ditador foi capaz de contrariar. De repente, Portugal parecia outro. Alimentada pelas notícias trazidas pelos milhares de portugueses que tinham emigrado para França e para a Alemanha, estimulada pelas séries televisivas a que os portugueses tinham acesso, a «febre consumista» alastrava pelos poros do Portugal rural, conservador e religioso que Salazar soubera encarnar. Quando o Presidente do Conselho morreu, em 1968, os valores que impusera ao país, o recato, a modéstia, a duplicidade, estavam de rastos.
Durante este período, nascera uma classe média pouco dada a tecer louvores à austeridade. A juventude protestava nas Universidades,
os trabalhadores trocavam o seu país pela França e, nalguns sectores, a mão-de-obra começou a rarear. O fosso entre o nível de vida dos portugueses e o dos outros povos europeus estreitava-se. Quando, em 1968, Salazar caiu da cadeira, os valores que ele encarnara caíram com ele. (…)
Ao longo de dois anos, e apesar do seu estado debilitado, os salazaristas ferrenhos optaram por esconder de Salazar que o Presidente da República nomeara um novo Presidente do Conselho, Marcello Caetano. Ninguém sabe o que Salazar pensaria nos momentos de possível lucidez. Mas o povo viu-o na televisão e percebeu que o homem que governara o país durante quarenta anos já não existia: aquele velho alquebrado, balbuciando umas palavras, era um fantasma à espera de ser enterrado, como viria a acontecer em 27 de Julho de 1970.

▲ Marcello Caetano
Getty Images
Ao contrário do que muitos pensavam e alguns temiam, a sucessão fez-se nos corredores, entre as intrigas dos «barões» do regime. Não houve guerra civil, nem se viram capitalistas pendurados em candeeiros. Em vez disso, foi designado um delfim intelectual. Entre 1969 e 1971, o clima foi favorável a Marcello Caetano, mas a pressão da ala retrógrada sobre os sectores liberais paralisou o novo Presidente do Conselho, que teve de aceitar a «reeleição» do Presidente da República, Almirante AméricoTomás.
Incapaz de resolver a abertura advogada pelos sectores económicos mais dinâmicos, Marcello Caetano acabou por os frustrar sem satisfazer os «duros», unidos na recusa em encarar qualquer negociação que pusesse termo à guerra colonial. Em Fevereiro de 1974, quando o general Spínola publicou o seu livro “Portugal e o Futuro”, ficou isolado. Os militares, uma das principais bases de apoio do regime, iam voltar-se contra ele.
E, no entanto, do ponto de vista económico e social, quão promissora parecia a situação. Entre 1965 e 1972, haviam-se iniciado grandes projetos industriais, nas celuloses, nos estaleiros navais, na petroquímica. Uma geração de tecnocratas sequiosos de poder afadigava-se a projetar os destinos do país. As cidades cresciam, as classes médias aumentavam. A emigração atingira números incríveis: entre 1950 e 1970 cerca de 2 milhões de portugueses haviam abandonado o país. Para os que ficaram, a vida tornou-se mais agradável. Na indústria, acontecera o impensável: faltava mão-de-obra. Pela primeira vez na História de Portugal, atingira-se o pleno emprego, um facto cuja importância é difícil exagerar. Depois de décadas em que, aos patrões, bastava acenar para que os trabalhadores acorressem às portas das fábricas, agora, por muito que pagassem, havia falta de gente.
O 25 de Abril, uma revolução (também) de empresários
O 25 de Abril não foi apenas uma revolução política. Enquanto nos quartéis, nos ministérios, nas ruas, o velho Estado salazarista era desmantelado, na estrutura social e económica processavam-se mudanças profundas. Sob a arrogante tutela de Salazar, que os dera por incapazes, os empresários portugueses não tinham tido oportunidade para exercitar o seu músculo político. Durante décadas, viveram num universo à parte, sem lutas nem contestações, como se tudo lhes fosse devido. Para eles, o mundo era simples. Resumia-se a que os operários aceitassem salários baixos, a que o Estado mantivesse ordem nas ruas e a que a Igreja conservasse o decoro nos costumes. Tudo isto ruiu numa manhã de 1974.
Em Junho de 1974, nascia a CIP (Confederação da Indústria Portuguesa), uma instituição que se manteve até à atualidade. Após décadas de passividade, os empresários perceberam que teriam de se adaptar ao novo regime. É a esta luz que temos de interpretar o que disseram ou escreveram nos meses a seguir à Revolução. Um documento de Agosto de 1974 sintetizava os objetivos estratégicos do novo organismo: «A CIP nasceu como expressão do pensamento democrático dos empresários, da capacidade de organização dos industriais e do seu sentido das responsabilidades, constituindo-se como um bastião contra os projetos de coletivização da economia e da defesa dos interesses das várias Associações, no sentido de ser assegurada a democracia industrial, baseada na livre iniciativa e no âmbito de uma fecunda economia de mercado».

D.R.
Eleito seu presidente, António Vasco de Mello manter-se-ia no cargo até 1981. Eis o que, em Maio de 2007, declarou: «Nos primeiros tempos não havia tempo para pensar com muita profundidade o que se estava a fazer, era só uma certa intuição, talvez também uma certa dose de teimosia e perseverança. Já havia então uma noção muito clara, pelo que se via na Europa e também nos Estados Unidos, da importância e do valor de haver na economia de um país (que se arrogava ser “finalmente livre”) um setor privado ativo e dinâmico. Só nas áreas politicamente afetadas é que essa questão era contestada, mas acreditava-se que isso acabaria por desaparecer em consequência da força das realidades económicas, o que de facto veio a acontecer. Afastei-me da CIP quando percebi que essa “guerra” estava ganha.» Primo dos conhecidos manos Mello, foi uma boa escolha para liderar a instituição durante a fase, politicamente sensível, que se seguiu à Revolução de Abril. Era um aristocrata que não desejava protagonismo nem pretendia entrar em polémica.
Em 1975, cerca de duas centenas de grandes empresas foram nacionalizadas. Alguns capitalistas fugiram para o estrangeiro, enquanto homens desconhecidos, com empresas em sectores menos cobiçados, investiam tudo quanto tinham numa economia periclitante. Isto sucedeu sobretudo no Norte, onde os poucos empresários que emigraram o fizeram para cerca da fronteira, dali aguardando a evolução dos acontecimentos. A maioria não era suficientemente rica, para poder, de um dia para o outro, deixar o país; tão-pouco estavam instalados em sectores estratégicos, nem controlavam grandes grupos. Seja como for, remediados ou corajosos, não arredaram pé, envolvendo-se, durante o verão quente, na luta contra o chamado PREC (Processo Revolucionário em Curso).
A economia pós-revolução e o surgimento dos “Amorins, Azevedos e Pinhos”
Depois do período de turbulência social e política a seguir à Revolução, vieram bons anos. Em 1989, até aconteceu um milagre: o relatório do FMI classificou Portugal como um «país industrializado». Mas se o país ficou mais rico do que anteriormente, os outros também enriqueceram e, às vezes, bem mais depressa.
Do ponto de vista do crescimento económico, os melhores anos foram os que decorreram entre 1986 e 1992: o preço do petróleo caiu cerca de 50% entre 1984 e 1986; a adesão à CEE abriu às exportações as portas do mercado europeu; o investimento estrangeiro aumentou, como aumentaram as transferências europeias para investimento em infra-estruturas e requalificação de mão-de-obra; com dois governos de maioria absoluta chefiados por Cavaco Silva, houve estabilidade política.
Como afirmou Luciano Amaral, para que o novo regime tivesse apoio era necessário satisfazer muita gente. Em parte, isso foi conseguido graças ao desaparecimento da velha elite. As nacionalizações tiraram a propriedade aos ricos do antigamente, criando «uma nova aristocracia de gestores públicos (que, depois, e noutras circunstâncias, se transformaram em gestores privados)». Os capitalistas que começavam a afirmar-se no início da década de 1970 floresceram. Os antigos apelidos– os Mellos, os Espírito Santo, os Champalimaud – deram lugar a nomes desconhecidos, como os Amorins, os Azevedos, os Pinhos, que, por não serem detentores de grandes grupos em mercados protegidos, haviam sido poupados às nacionalizações. O acordo entre PSD e PS, em 1989, permitiu alterar o princípio da «irreversibilidade» das nacionalizações. A partir daí, quase todos os sectores que se tinham tornado públicos passaram para as mãos de privados, embora os empresários com nomes mais sonantes, como os Mellos e os Espírito Santo, tivessem ficado com menos poder.
Em 1989, a fim de publicar o meu livro “Os Grandes Patrões da Indústria Portuguesa”, tive oportunidade de entrevistar 35 empresários. Uma das passagens de que mais gosto é a que diz respeito à forma como viveram os anos revolucionários. Houve quem fosse expulso da empresa como houve manifestações a favor do patrão contra a intervenção do Estado. E ainda empresários que tiveram de se defrontar com um conflito motivado pelo desejo dos trabalhadores de, na cantina, comerem, tal como os patrões, servidos em travessas. Na Têxtil Manuel Gonçalves, intervencionada em 1975, a luta dos patrões pela recuperação da empresa arrastou-se durante meses, com centenas de trabalhadores empunhando cartazes, à porta da fábrica: «Fora a comissão, queremos o patrão, ele é que nos dá o pão».

LUSA
Só em 1989, com Cavaco Silva no poder, optaram os mais agressivos, com destaque para António Champalimaud, por colocar o Estado português em tribunal, enquanto dezenas de nomes sonantes publicavam, em páginas inteiras da imprensa, um abaixo-assinado exigindo indemnizações mais elevadas. Isoladas nos seus privilégios, as dez ou vinte grandes famílias que tinham dominado a economia portuguesa não tinham quem por elas chorasse. Ao contrário do que estavam à espera, quase ninguém declarou que as empresas, ou pelo menos algumas delas, deveriam ser entregues aos antigos donos, como se fez com as «reservas» devolvidas aos expropriados pela Reforma Agrária. A barreira entre os «milionários» e o resto da população era grande demais para que entre os menos fortes pudesse surgir qualquer sentimento de empatia pelos mais ricos.
Portugal, um país onde “a cunha reina”
Quem conheça a História de Portugal sabe por que motivo a ideia de que se pode enriquecer com o trabalho não tem raízes. Há tempos, uma amiga minha, que dá aulas no Ensino Básico e Secundário, contou-me o seguinte. Depois de uma preleção aos alunos sobre a necessidade de se estudar para subir na vida, um deles perguntou-lhe: «Ó stôra, onde é que se faz o dinheiro?» Satisfeita por ter captado a atenção do rapaz, respondeu-lhe, «Na Casa da Moeda», após o que lhe explicou o processo de impressão e de cunhagem, um aditamento que não pareceu interessar-lhes. A certa altura, um dos jovens quis saber onde ficava a tal casa. Ela deu-lhe a morada e repetiu que, se tivesse boas notas, certamente que lá arranjaria um emprego. Eis o que se seguiu: «Tem razão, stôra, primeiro candidato-me, depois entro e, uma vez lá dentro, gamo o dinheiro todo que lá houver.» Não pensem que se estava a fazer de engraçadinho: o miúdo estava mesmo a falar a sério.
Em Portugal, não funciona o princípio marxista de a cada um segundo as suas necessidades, nem o meritocrático, o de a cada um segundo a sua competência, mas um sistema infinitamente mais simples, o de a cada um segundo as amizades políticas, as ligações familiares ou as crenças religiosas. A «cunha» reina: era assim no passado e continua a ser assim no presente.
À direita, algumas pessoas tentaram convencer-me de que, no tempo do Salazar, tudo funcionava de forma límpida. A quem assim pense, aconselho a leitura da carta que a marquesa da Foz enviou ao pároco de Belém, P.e Felicidade Alves, algures nos anos 1960. Eis um extrato: «Reverendíssimo Senhor Prior: Agora gostava de pedir um favor muito grande: era se me dizia quem tem a lista dos nomes e moradas da freguesia. Queria fazer um favor a um sobrinho meu, filho do Manuel Espírito Santo, do Banco Espírito Santo. Ele abre uma filial mesmo em frente à pastelaria dos pastéis de Belém e não sabe quem mora na freguesia e, como será mais tarde um trunfo para a Igreja, porque é gente muito bem e não esquecerá o favor que o Senhor Prior lhe fará hoje. Digo-lhe isto, porque o mesmo aconteceu na minha antiga freguesia de Santa Isabel que a filial do Banco de lá foi quem mais deu para as obras da Igreja. Tenho uma certa pressa, por isso bastava que o Sr. Prior dissesse à pessoa competente para se pôr pelo telefone em comunicação comigo e eu combinaria com ela a melhor forma de obter o que quero.» Nem se trata bem de uma cunha. De certa forma, é até mais interessante, porque demonstra a maneira como esta classe pensa que tudo lhe é devido. Os ricos faziam camisolinhas de tricot para os pobres e, em troca, a Igreja dava-lhes, como hoje se diria, a sua base de dados.
Lindo sistema. Em Portugal, para se enriquecer nem sempre é preciso faro empresarial, inteligência ou trabalho. Basta conhecer alguém no governo, nos partidos e, agora menos, na Igreja. Certamente que os leitores não estarão à espera que eu entenda os pormenores técnicos do processo de criação das PPP, mas julgo saber que foram criadas por Executivos em vésperas de eleições, envolvendo contratos favoráveis aos privados e lesivos dos contribuintes. Se não acreditam, entretenham-se a ler os relatórios da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Em muitos casos, a passagem pelo governo é apenas uma plataforma para se chegar a melhor lugar. Em cima do carrossel estão sempre os mesmos, como alertava Hans Magnus Enzensberger no seu poema The Rich.

















