Índice
Índice
O curriculum de Mariano Sigman (n.1972, Buenos Aires) é impressionante, ou para usar um adjectivo hoje muito em voga, “arrasador”. Embora seja “físico de formação”, “doutorou-se em Neurociências na Rockefeller University (Nova Iorque) e fez um pós-doutoramento em Ciências Cognitivas no Collège de France (Paris), antes de regressar à Argentina, onde fundou o Laboratório Nacional de Neurociência Integrativa da Universidade de Buenos Aires […] [É] o único cientista latino-americano a dirigir o Human Brain Project, foi galardoado com o Human Frontiers Career Development Award, o National Prize of Physics, o Young Investigator Prize do Collège de France e o IBM Scaleable Data Analytics for a Smarter Planet Innovation Award”.
Se isto não bastasse para dar ideia da autoridade e prestígio de Sigman, poderia acrescentar-se que é muito requisitado para palestras (nomeadamente TED Talks), por vezes em parceria com Dan Ariely (nome de relevo da psicologia e da economia comportamental), e que o seu livro de 2016, La vida secreta de la mente: Nuestro cerebro cuando decidimos, sentimos y pensamos, foi um best-seller internacional, com traduções em inglês, francês, italiano, turco, russo, ucraniano e português. Esta última foi da responsabilidade da Temas & Debates (como A vida secreta da mente), editora que agora publicou também o op. 2 de Sigman, El poder de las palavras: Como cambiar tu cerebro y tu vida (2022), com o título O poder das palavras: A arte de conversar e tradução de Ana Pinto Mendes, e de cuja badana se retiraram os elementos biográficos acima reproduzidos.
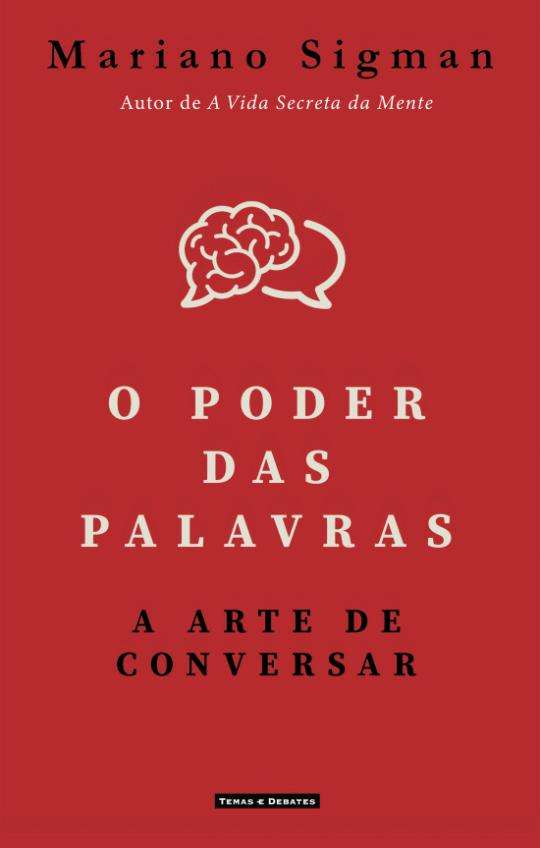
A capa da edição portuguesa de “O Poder das Palavras”, de Mariano Sigman (Temas e Debates)
Porém, quando se chega – a custo – ao fim das 379 páginas de O poder das palavras, é impossível não ficar perplexo perante o abissal desfasamento entre a obra e a reputação de um investigador e autor a quem já chamaram “o Richard Feynman do cérebro”.
Um life coach disfarçado de neurocientista
No prólogo, com o título “Foi apenas um dia mau”, Sigman narra como, após quarenta anos de vida sedentária, à sombra da convicção de que “não fui feito para o desporto”, descobriu em si uma energia e uma tenacidade insuspeitadas e se converteu num formidável ciclista. Soa como a típica história pessoal de superação com que os “oradores motivacionais” justificam como chegaram ao topo do mundo e instilam nas massas de ingénuos que se acotovelam para os escutar a ideia de que “tu também és capaz, basta determinação e espírito de sacrifício”. O leitor que esperava um livro sério, na intersecção entre neurociência e filosofia, e se depara com uma sessão de Cristina Talks, sentir-se-á desapontado, mas terá, quiçá, a esperança de que, após esta bazófia de abertura, o livro corrija radicalmente o rumo e entregue o que o título, o comunicado de imprensa e o curriculum do autor parecem prometer.
Porém, o teor e o tom do prólogo não são equívocos, são a matriz do livro. O autor esquece-se rapidamente do propósito expresso no título e subtítulo e anuncia claramente ao que vem quando, na página 15, se apresenta como um messias que vem libertar a humanidade de milénios de obscurantismo, opressão e infelicidade: “A boa notícia é esta: podemos mudar a nossa vida mental e emocional, mesmo em lugares que nos parecem profundamente arreigados”. Se dúvidas houvesse, ficam assim dissipadas: estamos claramente no território dos life coaches e dos especialistas em “reprogramação mental”.
Em vez de tratar os (tão cativantes) temas do “poder das palavras” e da “arte de conversar”, Sigman serve um morno cacharolete de teorias e estudos da área da neurociência, quase sempre de forma diluída, superficial e desconexa; citações avulsas de filósofos como Montaigne e Epicuro; frases “inspiradoras” dignas de Gustavo Santos ou Pedro Chagas Freitas; piscadelas de olho ao futebol e à cultura popular (nomeadamente a cançonetas pop latino-americanas); tentativas desesperadas de parecer engraçado (que a contracapa descreve como “uma dose reforçada de humor”); e, claro, vários episódios da fabulosa vida de Mariano Sigman, com relação ténue ou nula com os assuntos tratados.

Michel de Montaigne (num retrato da década de 1570 por autor anónimo) é , segundo Sigman, “o herói da conversa”
A ligeireza e insubstancialidade do livro são confirmadas pela ausência de referências bibliográficas e a sua natureza deambulante e amorfa dispensa bem um índice remissivo (é altamente improvável que alguém queira reler um trecho marcante ou recuperar uma frase memorável: tudo neste livro é banal e olvidável). Em contrapartida, o volume é pontuado por dezenas de cartoons “humorísticos”, completamente destituídos de graça e de execução gráfica tão rudimentar que se poderia pensar serem garatujas feitas pelo autor num guardanapo e que, todavia, são obra de um artista profissional (acaba por ser um emparelhamento justo, já que estão para a arte do cartoon como O poder das palavras está para a divulgação de neurociência).
Antevendo que as similitudes entre O poder das palavras e os milhares de livros de auto-ajuda que hoje florescem exuberantemente nas livrarias e hipermercados sejam demasiado óbvias, Sigman trata de lançar um “ataque preventivo”: “O rótulo de ‘auto-ajuda’ tem má reputação entre muitos dos meus colegas cientistas. Confesso que, a mim, nunca me incomodou nem ofendeu que os meus livros acabem na secção de auto-ajuda. As categorizações são complexas, difusas e arbitrárias” (pg. 58).
Pérolas de sabedoria
Se os livreiros arrumam os livros de Sigman na secção de auto-ajuda não é porque “as categorizações são complexas, difusas e arbitrárias”, é simplesmente porque o seu teor e tom em nada se distinguem do que é corrente nos livros de auto-ajuda. Alguns exemplos:
“Veja em perspectiva, observe de mais longe. […] Faça o exercício de analisar o seu caso, imaginando que acontece a outra pessoa, a uma distância desapaixonada” (pg. 60).
“Conversar ajuda a pensar. Falar com outras pessoas aclara as ideias, ajuda a encontrar erros nos próprios raciocínios e a identificar soluções melhores. Também ajuda a dialogar melhor connosco mesmos. Decididamente, é a ferramenta mais poderosa para pensar melhor” (pg.60).

“A conversa”, por Arnold Lakhovsky, 1935
“Relativize. […] O que em determinado momento lhe parecia insuportável agora parece insignificante, ou secundário” (pg.61).
“Crer que somos maleáveis gera uma maior predisposição para a mudança” (pg. 102).
“O futuro está mais à frente e o passado está lá atrás […] avançamos para a frente para nos referirmos ao futuro e recuamos para assinalar o passado distante” (pg. 199).
“As palavras comunicam e dão forma à experiência. Quando desaparecem, a percepção tona-se confusa e desorganizada, por mais intensa que seja” (pg. 210).
“As palavras permitem-nos descrever uma emoção aos outros, num outro tempo, por vezes séculos depois de ser vivida” (pg. 210).
“A solidão não tem a ver com o número de pessoas que nos rodeiam. Podemos sentir-nos isolados no meio de uma multidão de milhares de seguidores nas redes sociais. Estar só é não ter com que falar” (pg. 260).
“A surpresa é uma reacção efémera ao inesperado. Produz um sobressalto em que abrimos os olhos e estiramos o corpo […] As surpresas não dão sinal, umas vezes são agradáveis e outras, tristes, mas num e noutro caso actuam de forma similar. Multiplicam as emoções subsequentes: a alegria e a tristeza são maiores quando nos surpreendem” (pg. 313).
“[A tristeza] anima-nos a parar, a que tiremos algum tempo para recarregar energias. Por isso a sentimos como um estado de abatimento. A sua expressão mais eloquente é o choro, quer seja desbragado ou silencioso ou contido. […] A tristeza costuma nascer de uma perda. Mas esta perda é contemplada de um ponto de vista passivo: sentimos que não podemos fazer nada para a reparar, apenas procurar consolo. O exemplo mais reconhecível da perda é a morte de um ente querido. A tristeza é a forma de expressar abertamente que estamos abatidos” (pg. 314).

A faceta letárgica da tristeza: “Perdida em pensamentos”, por Wilhelm Amberg, 1899
“Da próxima vez que surja um medo, uma tristeza ou uma indignação, experimentemos semicerrar os olhos para ver a alegria que se esconde lá mais longe, para compreender que não há penar sem riso, nem riso sem penar” (pg. 315-16).
“Quando um assunto implica pessoas mais próximas, a esfera emocional multiplica-se: gostamos mais, temos mais ciúme, sentimos mais medo” (pg. 327).
“Partilhe o seu tempo com gente risonha” (pg. 323).
“[O riso é] um antídoto para abordar com uma certa distância temas incómodos, dolorosos, ofensivos ou stressantes” (pg. 344).
“Gosto de pensar que todos alguma vez vivemos um momento em que, pelo simples facto de estendermos a mão a uma pessoa, tudo mudou para melhor” (pg. 357).
Em resumo: 1) as palavras servem para nos expressarmos; 2) o passado vem antes do futuro; 3) a surpresa é surpreendente; 4) a tristeza é triste, manifesta-se através do choro e pode resultar da perda de um ente querido; 5) sentimo-nos próximos das pessoas que nos são próximas; 6) os amigos das redes sociais não são necessariamente nossos amigos; 7) rir é o melhor remédio.

Do sorriso ao riso descontrolado, numa série de anúncios publicitários à chapelaria Young’s The Hatter, em Bridgeport, Connecticut, EUA, final do século XIX
Serão estas “as descobertas mais recentes da neurociência” que o livro promete na contracapa? Será que Sigman – que é publicitado como sendo uma inteligência fora do comum – tem consciência de que o seu livro é um chorrilho de lugares-comuns, tautologias e jogos de palavras, ensopado em sentimentalismo barato? Quem pagou 19.90 euros por O poder das palavras e se depara com este rosário de inanidades deve chorar ou rir?
É possível que o entusiasmo com que são acolhidas as suas TED Talks convença Sigman de que as suas dissertações têm alguma validade, mas é preciso considerar que a atmosfera reverencial das TED Talks – “silêncio, vai falar uma sumidade!” – e a natureza da comunicação oral tendem a deixar o auditório obnubilado. O problema é que as ideias que, com a ajuda de uma assertiva presença em palco, podem parecer – pelo menos durante a dúzia de minutos que dura a palestra – fortes e originais, revelam toda a sua debilidade e banalidade mal são vertidas numa página impressa…
“Messi ou Cristiano Ronaldo?”
Espalhados ao longo do livro existem vários indícios de que o génio das ciências cognitivas, além de produzir reflexões e conselhos que não se distinguem dos que são dispensados nos mais corriqueiros manuais de auto-ajuda, também enferma de sérios problemas de raciocínio.
Tome-se este trecho da pg. 92: “Messi ou Cristiano Ronaldo? Aborto legal? Na Espanha, independentismo ou constitucionalismo? Na Argentina, peronismo ou antiperonismo? Trump? Cada uma destas alternativas abre, em cada terreno específico, uma fenda ideológica. Entre todas elas, há uma particularmente interessante, devido ao extravagante debate intelectual que provoca: a que separa quem pensa que a Terra é redonda dos que crêem que é plana”.
A debilidade do raciocínio começa logo por Sigman nem sequer conseguir formular as alternativas antagónicas como tal, uma vez que não fornece contraponto a “aborto legal” nem a “Trump”. Mas o que é mais estulto é colocar no mesmo plano “alternativas” de naturezas completamente diversas: a esfericidade da Terra é um facto físico objectivo, que foi cabalmente demonstrado há 22 séculos (quando Eratóstenes calculou, com admirável precisão, o diâmetro do planeta), enquanto o debate Messi/Cristiano Ronaldo é a mera cristalização pueril e fanática de uma preferência de natureza subjectiva e a “superioridade” de um em relação ao outro não é passível de ser medida ou demonstrada, nem tem qualquer interesse nem qualquer consequência prática ou teórica, podendo ver-se nele uma versão moderna e popularucha da clássica questão “Quantos anjos podem dançar sobre a cabeça de um alfinete?”, que, reza a lenda, terá apaixonado os teólogos bizantinos do século XV, cercados pelos turcos em Constantinopla, a ponto de se alhearem do facto de a cidade estar prestes a ser conquistada.
Quanto às duas “alternativas” de natureza política, só surgem como alternativas dicotómicas porque, capciosamente, Sigman as formulou como tal. Por exemplo, no cenário político argentino não só existem partidos que não são classificáveis como “peronistas” nem como “antiperonistas”, como, após a morte de Juan Perón, o “peronismo” veio a sofrer constantes metamorfoses e a defender políticas que vão de um extremo ao outro do espectro político, o que faz com que mesmo os mais argutos politólogos argentinos tenham séria dificuldade em explicar o que significa, em 2023, ser “peronista” (ou “antiperonista”) e em situar o “peronismo” no espectro político.

Juan Perón, em 1948, durante o primeiro mandato como Presidente da Argentina: O peronismo foi sofrendo tantas mutações que, hoje, ninguém é capaz de o definir
Quando, em seguida, aprofunda as questões da percepção da planura/esfericidade da Terra, Sigman volta a tropeçar nos seus raciocínios, ao tentar fazer humor com a palavra “planeta”, que, escreve, é “um ponto a favor do terraplanista” (pg. 93). A “piada” (chamemos-lhe assim) pressupõe que os terraplanistas crêem que os planetas são planos – ora, os terraplanistas apenas defendem que a Terra é plana e sempre aceitaram de bom grado que os restantes planetas do sistema solar são esféricos, já que é assim que, indubitavelmente, eles se apresentam através de um telescópio (já agora, a palavra “planeta” nada tem a ver com “plano”: provém do grego “planetes asteres”, que significa “estrelas errantes”, por o trajecto dos planetas no firmamento não acompanhar o das estrelas ditas “fixas”).
Um dos momentos mais asininos do livro ocorre nas pg. 211-12 quando Sigman, a fim de realçar que “por vezes também confundimos emoções distintas que se amalgamam sob uma mesma palavra”, cita um trecho de G.K. Chesterton. Todavia, Sigman, em vez de ir à fonte, preferiu, inexplicavelmente, recorrer à citação feita por Jorge Luís Borges no ensaio “O idioma analítico de John Wilkins”, incluído no livro Outras inquirições, que compila ensaios escritos entre 1937 e 1952. Mais desconcertante ainda é a nota inserida por Sigman: “Quando Borges transcreve estas palavras de Chesterton, está a citar a página 88 de um livro de G.F. Watts, um fabuloso artista que criou quadros e esculturas memoráveis, mas nunca escreveu um livro”. Com efeito, o pintor e escultor britânico George Frederic Watts (1817-1904) não publicou livros – o livro citado por Borges não é “de G.F. Watts”, mas sobre G.F. Watts. Trata-se de uma monografia de G.K. Chesterton sobre o pintor, publicada no ano do falecimento deste e tendo por título o nome do artista. Ou Sigman tem dificuldade em compreender o que lê, ou as múltiplas solicitações decorrentes do seu estatuto de génio o levam a desleixar a escrita ou a confiá-la a um assistente ou a um ghost writer pouco zeloso.

G.F. Watts, fotografado por Frederick Hollyer, 1898
As citações em segunda mão regressam nas pg. 184-85, quando, para ilustrar as mudanças de perspectiva que podem ocorrer ao longo da vida de um indivíduo, se recorre a um trecho de um romance da série Nestor Burma, de Léo Malet (1909-1996), em que o protagonista, um detective privado cínico e desenvolto, retorque a um polícia que o acusa de ser anarquista: “O homem que não tenha sido anarquista aos 16 anos é um imbecil, tal como aquele que ainda o é aos 40”. Sigman sabe que esta frase não nasceu da mente de Malet, pois explicita que é uma “citação de um primeiro-ministro francês”, mas, então, porque não cita directamente o dito governante – Georges Clemenceau, Primeiro Ministro em 1906-09 e 1917-20 – e nem sequer o nomeia? Na verdade, a atribuição a Clemenceau, ainda que difundida, é assaz duvidosa, já que esta frase – ou uma frase que exprime ideia análoga e substitui “anarquista” por “comunista”, “socialista”, “revolucionário”, “liberal” ou “republicano” – andava no ar décadas antes de Clémenceau se ter tornado numa figura pública e tem sido atribuída também a Edmund Burke, François Guizot, Anselme Batbie, Victor Hugo, Oskar II da Suécia, George Bernard Shaw, Benjamin Disraeli e até Winston Churchill (a quem costumam ser imputadas muitas frases cínicas e lapidares que nunca proferiu) e tem sido citada incontáveis vezes por escritores, argumentistas e articulistas. Porquê colocá-la na boca de uma personagem ficcional e, mais especificamente, na de Nestor Burma?

Georges Clemenceau (aqui representado discursando num comício, num quadro por Jean-François Raffaëlli, c.1885) costuma ser identificado como autor de uma frase célebre que não foi cunhada por si
Para alguém que quer convencer o leitor do tremendo poder das palavras, Sigman trata-as com muita displicência e pouca reflexão. Na verdade, nesta como noutras ocasiões em que cita, frequentemente a despropósito, frases de autores célebres, o que Sigman faz não é mais do que “name-dropping”: tentar convencer o leitor de que é senhor de uma cultura mais vasta e ecléctica do que realmente possui. O “name-dropping” mais tolo e despropositado surge na página 105 quando, ao tratar da importância da motivação para a superação, dá o exemplo das experiências do psicobiólogo Curt Richter com ratazanas colocadas em baldes de água, que demonstravam grande variação individual na persistência em continuar a manter-se a tona; de imediato, Sigman estabelece um paralelo com “a historieta de Art Spiegelman” (entenda-se: o livro de banda desenhada Maus), em que “os judeus são ratos e demonstram também nos campos de concentração evoluções muito díspares”. É pena que Sigman não tenha também examinado o comportamento de Mickey, Speedy Gonzales, Jerry (de Tom & Jerry), Geronimo Stilton e Remy (de Ratatouille), pois é possível que neles encontrasse também preciosos ensinamentos na área da cognição.
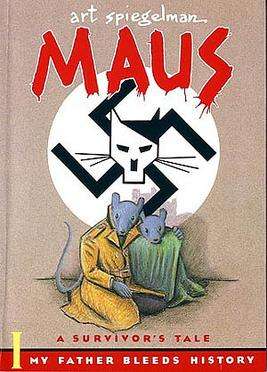
Capa do vol.1 de Maus (1986), “a historieta de Art Spiegelman”
Outro exemplo da estultícia e frivolidade das associações de ideias de Sigman: na pg. 121, “as musas [da mitologia grega] são uma figura externa de memória, uma espécie de Wikipédia”, e quatro páginas à frente, a invenção da escrita, ao dotar a memória “com um suporte rígido” e ao fazer com que “os relatos [deixem] de se degradar na passagem boca a boca […], foi uma primeira Wikipédia”. Para Sigman a Wikipédia é metáfora para tudo o que envolva informação, memória e registo e poderia afirmar, com a mesma (falta de) propriedade, que “as plaquinhas de argila foram uma primeira Wikipédia”, ou que “os post-its na porta do frigorífico são uma Wikipédia”. É assombroso que um pós-doutorado em ciências cognitivas não seja capaz de compreender a natureza e as particularidades da Wikipédia…
Quando as palavras falham
As considerações que Chesterton faz sobre a linguagem no ensaio G.F. Watts são assaz pertinentes e contrariam a exaltação do poder das palavras feita por Sigman, o que justifica que aqui se reproduza um excerto mais longo do que o citado por Borges/Sigman: “Quando um homem diz para outro ‘Explica-me claramente o que queres dizer’, assume a infalibilidade da linguagem; isto é, assume que existe um esquema perfeito de expressão verbal para todos os estados de espírito dos homens […]. Ele sabe que há na alma matizes mais numerosas, mais desconcertantes e mais indescritíveis do que as cores numa floresta outonal [e que] pululam pelo vasto mundo […] crimes que nunca foram condenados e virtudes que nunca foram baptizadas. E, todavia, ele crê firmemente que todas estas coisas e cada uma delas, em todos os seus tons e semitons, em todas as suas mesclas e fusões, podem ser rigorosamente representadas por um sistema arbitrário de grunhidos e guinchos. Ele acredita que um vulgar corretor da bolsa é efectivamente capaz de arrancar das suas entranhas ruídos que representam todos os mistérios da memória e todas as agonias do desejo […] A verdade é que a linguagem não é uma coisa científica mas intrinsecamente artística e foi criada por caçadores, assassinos e artistas muito antes de se sonhar com ciência […] A língua não é um instrumento fiável, como um teodolito ou uma câmara. A língua é um órgão rebelde […], uma coisa poética e perigosa, como a música ou o fogo” (tradução aproximativa deste escriba a partir do original inglês).

Embora tivesse sido um dos mais prolíficos autores de sempre (desdobrando-se pela ficção, poesia, ensaio, peças de teatro, artigos na imprensa), G.K. Chesterton (1874-1936) manifestou reservas quanto ao poder das palavras
É verdade que as palavras nem sempre são capazes de exprimir com precisão o que vai na alma humana, mas é absurdo apontar estas limitações à linguagem quando se cometem imprecisões bem maiores ao introduzir, desnecessariamente, um intermediário no processo de comunicação, como faz Sigman, ao citar Chesterton através de Borges (ainda que Borges tivesse um excelente domínio da língua inglesa). Os desvios e perdas são agravados pela subsequente tradução do espanhol para português, como é evidente no facto de “He believes that an ordinary civilized stockbroker can really produce out of his own inside noises which denote…” se ter transformado em “Acredita que de dentro de uma bolsa saem realmente ruídos que significam…”. Com mais uma tradução pelo meio – de português para, digamos, polaco – e mais outra de volta ao inglês e talvez Chesterton não fosse capaz de reconhecer o seu texto…
Borges, embora manifeste admiração pelo esforço e pelo engenho de John Wilkins (1614-1672), um erudito e clérigo anglicano que foi co-fundador e o primeiro secretário da Royal Society, em prol da criação de uma língua irrepreensivelmente racional e objectiva, acaba por aduzir argumentos que demonstram a vanidade e impraticabilidade de tal empreendimento e o tom geral do ensaio “O idioma analítico de John Wilkins” acaba, sob a sua capa de seriedade e erudição, por ser de zombaria (entenda-se: zombaria do género pince-sans-rire, como é usual em Borges).
Nem Wilkins nem Borges poderiam prever que o esplendoroso século XXI assistiria à explosiva difusão de uma nova linguagem que permite exprimir com rigor todas as emoções e estados de alma imagináveis, e sem necessidade de recorrer ao complexíssimo e pouco prático sistema de Wilkins, que requeria a divisão do Universo “em 40 categorias ou géneros, subdivisíveis em sub-géneros, por sua vez subdivisíveis em espécies” (Borges). São, claro está, os emojis, cujo primeiro pictograma foi criado em 1998 por Shigetaka Kurita e cujo número cresceu até aos presentes 3664 (dados de Setembro de 2022, segundo a Emojipedia).
A linguagem dos emojis tem a vantagem de ser imediatamente compreensível por todos os habitantes do planeta sem necessidade de tradução e há quem creia que bastará criar mais alguns emojis para podermos dispensar todas as línguas e sistemas de escrita de antanho, bem como essa classe anacrónica, parasitária e sumptuosamente remunerada que são os tradutores. Em 2017 surgiu a primeira versão emoji de um clássico da literatura: o Moby Dick de Herman Melville foi “traduzido” através do Amazon Mechanical Turk (um sistema de “crowdsourcing” onde é possível contratar e oferecer mão-de-obra de forma a repartir um trabalho intelectual pesado e minucioso por numerosos “trabalhadores”) e deu origem (após compilação e harmonização por um editor) ao Emoji Dick (cuja versão impressa pode ser adquirida por 40 dólares, na versão de capa mole a preto e branco, ou 200 dólares, na versão de capa dura a cores). Entretanto, em 2012, o artista chinês Xu Bing (n. 1955), já publicara Book from the ground: Point to point, o primeiro romance original escrito apenas com emoticons (precursores dos emojis), que narra 24 horas na vida de um empregado de escritório. Têm tardado em surgir mais romances escritos apenas com emojis, mas o triunfo desta nova linguagem/sistema de escrita parece inevitável, não só entre os millennials e a Geração Z, como entre a restante população, uma vez que o autor deste artigo (perdoe-se-me a nota pessoal) já ouviu uma professora universitária de literatura e tradutora, de meia idade, admitir, sem qualquer embaraço, que se sente desamparada quando tem de escrever sem recorrer a emojis.
Num livro que trata de emoções, linguagem e comunicação, Mariano Sigman não faz qualquer menção aos emojis – está, quiçá, a guardar-se para um futuro O poder dos emojis…

Emoji Dick: uma piada (até agora) sem seguimento
Tropeçar na língua
A ambição de John Wilkins de criar uma linguagem universal e perfeitamente racional e objectiva estava condenada ao fracasso devido aos obstáculos metodológicos apontados por Borges e porque, como defendeu Chesterton, todas as linguagens são instrumentos relativamente grosseiros e limitados face à riqueza e variedade da vida interior. Porém, a maior objecção ao projecto de Wilkins vem de direcção completamente diversa: essa mirífica linguagem pouco ou nada mudaria a comunicação entre os seres humanos, pois as diversas linguagens de que dispomos há séculos e que não cessam de enriquecer-se e sofisticar-se, estão dotadas de uma formidável gama de matizes, subtilezas e poderes de sugestão que a esmagadora maioria dos seus utilizadores não tem competência para aplicar. Se os escritos e falas tendem a ser grosseiros, imprecisos e limitados e se as conversas tendem a ser estéreis, ziguezagueantes e inconclusivas é, antes de mais, porque a grande maioria dos falantes e escreventes não possui proficiência no manejo da língua. De que adianta a língua inglesa (por exemplo) possuir pelo menos 170.000 vocábulos (600.000 se contabilizarmos os que, entretanto, caíram em desuso) se os que a têm como língua materna apenas conhecem, em média, 20.000 a 30.000 e, destes, apenas empregam no dia-a-dia 2000 a 3000? De que serve a sintaxe permitir erguer agulhas vertiginosas, arcos imponentes e colunas esbeltas se a maioria dos falantes e escreventes só tem competência e ambição pare erguer casotas de cão e arrecadações para ferramentas?

As dificuldades da expressão escrita, segundo Norman Rockwell (ilustração publicada no Saturday Evening Post de 17 de Janeiro de 1920)
Estas limitações não afligem apenas os “amadores”, que raramente são solicitados a escrever mais do que um parágrafo seguido após terminarem o percurso escolar. Também muitos dos que fazem de falar e escrever a sua profissão se limitam a cumprir “serviços mínimos”, exprimindo-se sem rigor, desenvoltura, clareza ou elegância e sendo incapazes de se sustentarem sem o arrimo de um arsenal de lugares-comuns, frases feitas e muletas linguísticas.
Parte das limitações na expressão escrita e oral decorrem do escasso convívio com os grandes mestres da língua. Nas escolas, a leitura integral dos clássicos da língua pátria foi substituída pelos “resumos”, que compactam largas centenas de páginas numa mera dezena, onde, para comodidade do estudante, também se inventariam personagens e temas, se dissecam as intenções do autor, se delineia a estrutura da obra, se providenciam contextos históricos para a narrativa e para a feitura da obra e se realçam os recursos estilísticos mais frequentemente empregues pelo autor – tudo formatado, padronizado e expurgado de ambiguidades (e de literatura e de vida), enfim, um descanso para alunos, pais, professores e Ministério da Educação! Como esta prática já tem algumas décadas, estão hoje no activo numerosos professores de Português que das grandes obras da literatura apenas conhecem os “resumos”, pelo que dificilmente poderemos contar com eles para instilar o gosto pelos clássicos nas gerações seguintes. Por outro lado, parte do tempo dantes consagrado ao estudo dos clássicos, manifestamente distantes das experiências e interesses dos “jovens de hoje” e com extensões que excedem largamente a sua capacidade de concentração, passou a ser devotado à análise de notícias de jornal e de etiquetas de vestuário, É uma substituição compreensível numa perspectiva de estrito pragmatismo e filistinismo: na vida que têm pela frente, os alunos terão de tomar repetidamente decisões sobre o programa a seleccionar na máquina de lavar roupa, enquanto é muito improvável que voltem a cruzar-se com o maçador do Eça de Queiroz. Quem sabe, não estará longe o tempo em que o ensino da língua portuguesa dará lugar ao da tão universal e expressiva linguagem dos emojis?
Para já, ainda vai havendo quem compre livros e em 2022, venderam-se em Portugal 12.7 milhões de livros, gerando receitas de 175 milhões de euros. Este número representa um acréscimo de 16% em relação às vendas do ano anterior, que, por sua vez, tinham crescido 16% em relação a 2021, mas há que considerar que em 2020 se dera uma queda abrupta, devido aos confinamentos decorrentes da covid-19, pelo que o valor das vendas de 2022 ficou ainda abaixo do período pré-pandemia – em 2018 foi de 220 milhões de euros. A situação afigura-se mais sombria quando se considera que o período entre 2009 e 2018 foi, genericamente, de declínio (ver Das editoras aos leitores: Como está o mercado livreiro em Portugal?). Mas os volumes de vendas, se são um indicador da saúde do mercado livreiro, nada dizem sobre a relação dos portugueses com a literatura – e esta parece ser cada vez mais distante, pois os livros com maior saída versam assuntos como decoração, puericultura, dietas, vida saudável, espiritualidade ou auto-ajuda, e o seu “sucesso” decorre sobretudo da notoriedade da figura pública – político, modelo, estilista, desportista, treinador, dirigente desportivo, socialite, personal trainer, life coach, pivot ou entertainer televisivo, ex-concorrente do Big Brother, medium, astrólogo, instrutor de pilates, alinhador de chakras, influencer, YouTuber – que assume a sua autoria (ainda que sejam confeccionados, integral ou parcialmente, por mão-de-obra anónima contratada pela editora).
Há quem argumente que os “jovens de hoje”, embora não leiam os clássicos em papel, estão, em compensação, sempre a ler e escrever nos computadores, tablets e smartphones; e que os livros se tornaram num assunto tão importante no TikTok que surgiu uma subcomunidade a eles devotada, a BookTok, onde há influencers com poder para criar best-sellers da noite para o dia; e que o Wattpad, uma plataforma online gratuita destinada à publicação e leitura de histórias originais, tem cerca de 100 milhões de utilizadores, maioritariamente jovens. Sim, mas quem se habitua a ler e escrever em nacos de 100 ou 200 caracteres dificilmente ganha músculo mental para apreender um romance ou um ensaio de fôlego. Sim, mas uma página de Eça estimula neurónios que o linguajar telegráfico e rudimentar das SMSs e dos tweets deixa intocados. Sim, é possível conversar através de SMSs e de tweets, mas nem todas as conversas têm a mesma capacidade de comunicação e o mesmo poder transformador. Sim, há livros que estão a fazer furor no TikTok e um romance escrito por uma adolescente portuguesa foi (dizem-nos) lido no Wattpad por mais de 400.000 leitores em menos de um ano, mas estas obras circunscrevem-se aos géneros “romance jovem adulto” (“young adult fiction”) e “fantasia” e poucos dos seus fãs irão, mesmo que persistam como leitores após estes entusiasmos e modas típicos da adolescência, ousar explorar o mundo que existe para lá das fronteiras destes géneros codificados, previsíveis e desvitalizados e descobrir o verdadeiro poder das palavras.
Esperar-se-ia que o livro de Sigman desse relevo à literatura e ao poder desta para fazer o leitor passar por experiências e emoções que, provavelmente, nunca encontrará na sua vida, e para nos dar uma ideia do que é ser outra pessoa e viver noutra realidade, mas, aparentemente, a literatura só interessa a Sigman para efeitos de “name-dropping”.
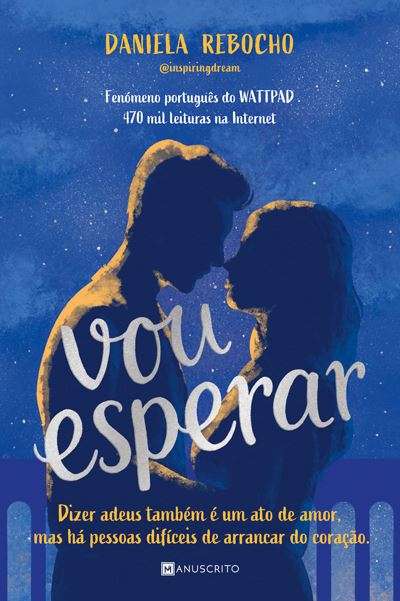
Vou esperar, de Daniela Rebocho, foi editado em papel após ter tido mais de 400.000 leitores em menos de um ano, no Wattpad
O que vem a ser uma “boa conversa”?
Ao longo do livro, talvez para justificar o seu subtítulo, Sigman realça repetidamente o valor de “uma boa conversa”, sem que alguma vez chegue a explicar o que faz uma conversa ser “boa”. O melhor que consegue é avisar que, embora a conversa seja “a ferramenta mais poderosa para pensar melhor […] não vale uma conversa qualquer. Só são eficazes as que se desenvolvem em grupos pequenos, formados por pessoas com uma atitude receptiva, predispostas a ser convencidas. Decididamente: a dialogar de boa-fé num processo de descoberta mútua. […] A conversa pública de massas não é eficaz. As redes sociais têm dinâmicas e inércias próprias que não facilitam a conversa. Fomentam um tipo de discussão em que se torna muito difícil o intercâmbio construtivo de opiniões e a articulação de consensos” (pg. 60-61).
Já se escreveram milhares de páginas sobre as limitações, enviesamentos e malefícios das “conversas” nas redes sociais e o pouco que Sigman tem a dizer sobre o assunto não lhes acrescenta nada. O assunto é suculento e extravasa largamente o âmbito deste artigo, mas vale a pena realçar que, embora as redes sociais não sejam uma máquina demoníaca concebida por forças ocultas com o fito de destruir a humanidade, é indiscutível que a sua arquitectura e o seu “modelo de negócio” acabam por exacerbar o que há de pior na natureza humana.
A criatura humana caracteriza-se por sentir-se sempre insatisfeita com a sua situação e sempre satisfeita consigo mesma. Todas as bênçãos que a vida lhe proporcionou lhe parecem insuficientes, mas, quando se contempla a si mesma, vê um esplêndido ramalhete de virtudes, salpicado por um ou outro defeito menor, que, longe de deslustrar o conjunto, lhe confere colorido e originalidade, compondo o que costuma ser descrito como “uma personalidade forte”. Ironicamente, muita da “literatura” sobre auto-ajuda centra-se nos métodos de reforço da auto-estima (aquilo que dantes se designava, em português, por “amor-próprio”), quando um dos problemas presentes da humanidade é o excesso de auto-estima – um enviesamento antigo que as redes sociais fizeram ascender a níveis recorde. Note-se que o excesso de auto-estima, embora seja nocivo ou irritante para os que convivem com quem enferma desse enviesamento, é benéfico para o próprio – vários estudos psicológicos indicam que quem sobrestima as suas capacidades e talentos tem maiores probabilidades de sucesso do quem faz uma justa apreciação de si mesmo.
O auto-engrandecimento e a autopromoção sempre foram impulso natural do ser humano e aquilo a que usualmente se chama “conversa” mais não é, muitas vezes, do que uma troca de bazófias, agravos e lamúrias, em que um dos lados raramente presta atenção ao que é dito pelo outro, limitando-se a aguardar que o interlocutor interrompa momentaneamente o discurso a fim de recuperar o fôlego, para desfiar, por sua vez, o seu rol de bazófias, agravos e lamúrias.
O historiador britânico Henry Thomas Buckle (1821-1862) terá, em conversa relatada pelo aristocrata escocês Charles Stewart na sua autobiografia, assim catalogado a humanidade: “Os homens e as mulheres dividem-se em três classes ou ordens de inteligência: a classe baixa pode ser identificada pelo seu hábito de falar sempre de pessoas; a classe intermédia pelo hábito de falar de coisas; a classe superior pela preferência por discutir ideias”. Esta asserção, dogmática e classista, que ficou conhecida nalguns meios como “Tricotomia de Buckle”, circula nos nossos dias, sem autor atribuído (ou com atribuição apócrifa), nesta forma simplificada e ligeiramente alterada: “As grandes mentes discutem ideias, as mentes vulgares discutem eventos e as mentes mesquinhas discutem pessoas”.

Henry Thomas Buckle
O douto historiador estava rotundamente errado: as pessoas de todos os escalões da sociedade falam sobretudo de pessoas, ou melhor, das pessoas que melhor conhecem e mais estimam, que são elas próprias. Acessoriamente, falam de quem lhes é próximo (filhos, cônjuges, animais de estimação) e dos que lhes causam dano, suscitam inveja ou infligem humilhações e injustiças (patrões, superiores hierárquicos, colegas, rivais, clientes, vizinhos, familiares, amigos e conhecidos), mas tudo acaba por girar em torno delas mesmas, das suas aspirações, dos seus infortúnios, das suas frustrações, das suas conquistas, das suas quezílias, dos seus atritos com pessoas, instituições, deuses e forças da Natureza. Se se promovesse um inquérito a nível mundial, talvez se concluísse que, independentemente das culturas, das idades, das ocupações e dos níveis de rendimento e educação dos entrevistados, o tema de conversa mais frequente do homem moderno é o ressabiamento decorrente de o mundo se recusar, com inexplicável obstinação, a reconhecer e recompensar devidamente as suas evidentes e incontestáveis qualidades.
A dança das galáxias em torno do meu umbigo
Mesmo quando as pessoas falam de “eventos”, “coisas” e “outras pessoas”, acabam, frequentemente, por apropriar-se destes como elementos da sua própria história, por integrá-los numa perspectiva cujo ponto de fuga são elas mesmas. Esta tendência para que todas as “narrativas” sejam sobre nós mesmos está bem patente na anedota em que alguém, após discorrer longamente sobre si próprio, interpela assim o infeliz interlocutor: “Mas basta de falarmos de mim, vamos falar de si. O que pensa de mim?” (a frase costuma ser atribuída a C.C. Bloom, personagem interpretada por Bette Midler em “Eternamente amigas”/”Beaches”, de 1988, mas circulava já há várias décadas, tendo o seu primeiro registo impresso surgido em 1928, na revista satírica Punch).
Se as pessoas vulgares, com vidas baças e anónimas, têm esta inclinação nata, nas figuras públicas, habituadas como estão a viver na ribalta e rodeadas de todas as atenções, o autocentramento e o narcisismo podem atingir proporções grotescas. Um exemplo flagrante era o empresário e político Silvio Berlusconi, que o jornalista Enzo Biagi assim descreveu numa entrevista a Roberto Benigni, em 2002: “Quer sempre o papel de protagonista: na igreja quer ser o papa; num casamento, a noiva; num funeral, o defunto. Se tivesse umas mamas que se vissem, quereria ser apresentadora na televisão”. Donald Trump – outro empresário que abraçou uma carreira política foi eleito graças à sua constante presença televisiva – é outro exemplo óbvio de alguém que imagina que o universo gira em torno do seu umbigo e não se coíbe de o proclamar aos quatro ventos.

Silvio Berlusconi (1936-2023) no tempo em que ganhava a vida como cantor romântico em navios de cruzeiro, na viragem das décadas de 1950-60
Ao menos, as figuras públicas tendem a ter vidas recheadas, a cruzaram-se, ao longo da vida, com outras celebridades e a ter acesso a lugares, experiências e segredos que não estão, usualmente, ao alcance do cidadão comum, pelo que as suas conversas têm, ao menos, matéria-prima com potencial, ainda que possam faltar ao conversador a capacidade de análise e o talento para se exprimir. Já o cidadão comum do mundo desenvolvido do século XXI leva uma vida anódina, pacata, confortável (pelos padrões dos séculos anteriores) e isenta de riscos físicos; e, uma vez que os trabalhos pesados, sujos e perigosos são, cada vez mais, confiados a máquinas e a imigrantes de países pobres, a vida laboral da larga maioria da classe média do mundo desenvolvido decorre em escritórios, call centers ou lojas com ambiente climatizado e envolve a interacção com écrans de computador, máquinas registadoras e dispositivos de leitura de códigos de barras. Se não tiver como hobby um desporto radical – escalada, parkour, sky surfing, investir em criptoactivos – e se não perseguir interesses esdrúxulos – história da Prússia, danças tradicionais coreanas, indie-pop islandesa, cerâmica pré-colombiana – que assuntos de conversa poderá propor? E, caso tenha estes hobbies e interesses, quem, fora do restrito círculo de correligionários, estará disposto a ouvi-lo? Nas vidas pacatas e seguras dos funcionários da burocracia estatal e empresarial do mundo desenvolvido, os eventos que marcam a vida e são eleitos como temas de conversa vão da multa de estacionamento à avaria da máquina de lavar louça, da obstipação do gato à obstrução da chaminé da salamandra, e têm como momento mais memorável a disputa em torno do mapa de férias do departamento ou as desavenças na reunião de condomínio.
Mas o problema das conversas não está só na dificuldade em encontrar temas viáveis – é preciso que os interlocutores possuam conhecimentos minimamente sólidos e abrangentes sobre o tema; que tenham reflectido sobre ele e formado uma opinião; que estejam dispostos a escutar opiniões que não coincidem com a sua; que sejam capazes de elaborar uma linha argumentativa racional e sem quebras e de interpretar correctamente a linha argumentativa do interlocutor; que tenham um período de atenção superior a cinco minutos; que sejam capazes de avaliar o conhecimento e experiência do interlocutor e de tratá-lo com o respeito correspondente; e que, quando em divergência, não saltem da discussão do assunto para o questionamento da idoneidade do interlocutor, recorrendo aos infames argumentos ad hominem.

“Dewey vs. Truman”, por Normal Rockwell. A ilustração foi publicado no Saturday Evening Post de 30 de Outubro de 1948, três dias antes das renhidas eleições presidenciais americanas de 1948, que dividiram o país e foram ganhas pelo incumbente, o democrata Harry S. Truman, apesar de as sondagens darem como vencedor o candidato republicano Thomas E. Dewey
A conversa no século XXI
Basta que uma destas condições falhe para que a conversa descarrile – e era isso que acontecia com frequência. E depois, no início do século XXI, ocorreu uma conjugação aziaga de mudanças de fundo na sociedade:
1) Os progressos vertiginosos nas tecnologias de informação e comunicação, a difusão generalizada do smartphone e a sua instalação no centro da vida de cada indivíduo (num dia, o americano médio consulta-o 96 vezes e despende com ele 5 horas e 24 minutos), e a vulgarização do multitasking (um estado de delírio febril em que se desempenham simultaneamente várias tarefas, todas elas de forma trapalhona e medíocre) fragmentaram a vida quotidiana e pulverizaram a atenção por um imenso alhures.
2) O acesso ilimitado ao vasto repositório de informação da World Wide Web criou nos néscios a ilusão de que, após cinco minutos de “pesquisa” sobre um assunto de que nunca antes ouviram falar, estão em pé de igualdade com quem devotou ao dito assunto anos de estudo e reflexão. Há cinco séculos, Desiderius Erasmus já estava consciente de que “nada é mais presunçoso do que a ignorância ligada à convicção de que se possui a ciência”, mas não podia adivinhar as proporções e a difusão que tal presunção ganharia no século XXI.

Desiderius Erasmus por Hans Holbein o Jovem, 1528
3) A natureza democrática da World Wide Web foi interpretada como significando que todas as fontes se equivalem e todas as opiniões são igualmente válidas. A existir uma hierarquia de credibilidade, esta é regida pela estridência (tem razão quem escreve em maiúsculas, com várias cores e tipos de letra e com uso liberal de pontos de exclamação) e pela notoriedade (medida em “page views”, “likes” e “número de seguidores”). Mas mesmo as criaturas mais apagadas e que apenas possuem um modesto séquito de “seguidores” e “amigos”, ao verem-se dotadas de uma tribuna que, teoricamente, lhes permite serem escutadas nos mais remotos confins do planeta e as coloca em pé de igualdade com qualquer outro possuidor de conta no Facebook ou no Twitter (do próprio dono do Twitter e technoking da Tesla ao presidente dos EUA, de Cristiano Ronaldo a Shakira), se sentem impelidas – até mesmo obrigadas – a opinar sobre tudo o que passe sob o seu nariz. E isto mesmo que a sua “opinião” mais não seja do que o decalque de uma opinião alheia, lida dois minutos antes.
4) A desvalorização da memorização pelo sistema de ensino, que já estava em voga no Ocidente no final do século XX, ganhou forte impulso com o advento da World Wide Web e das palavras de ordem “para quê decorar isso se posso googlar?” e “está tudo na Net!”. Ora, o cérebro é como um músculo: se não é usado, atrofia. E assim se explica que a capacidade de retenção de informação de muitas pessoas comece a aproximar-se da de um pardal. Mas não é a memória a única função cognitiva a ser debilitada pela falta de uso: a crescente delegação de processos mentais em apps e gadgets electrónicos vai, concomitantemente, desactivando sinapses nervosas. À medida que a inteligência artificial avança – com o propósito, dizem-nos, de aliviar a humanidade de tarefas penosas, incómodas ou maçadoras e libertar-nos para tarefas mais criativas e recompensadoras – a “inteligência natural” recua.
5) A aceleração do tempo, resultante de a tecnologia nos permitir estar a par, em tempo real, de tudo o que se passa no mundo e de termos no bolso um aparelho que assegura essa conexão, 24 horas por dia, fomentou o imediatismo, a “leitura na diagonal”, a superficialidade, a irreflexão, a impulsividade, a resposta ou comentário “a quente”. É a vitória, em toda a linha, do “pensar depressa” sobre o “pensar devagar”, do sistema 1, rápido, intuitivo e emocional, sobre o sistema 2, lento, deliberado e lógico (cf. Pensar, depressa e devagar, de Daniel Kahneman).
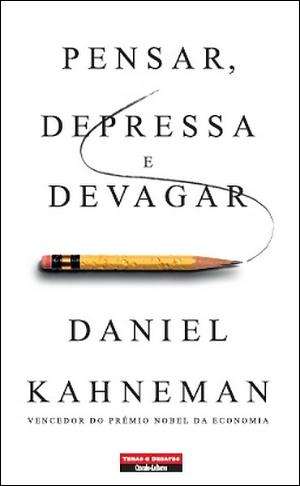
A capa de “Pensar Depressa e Devagar”, de Daniel Kahneman (Temas e Debates)
6) O estilo soez, acintoso e pesporrente que, na falta de um código de urbanidade digital e a coberto do anonimato e do distanciamento garantidos pela Internet, se tornou dominante nas redes sociais e nas caixas de comentário dos jornais contaminou não só outras formas de comunicação online, mas também os relacionamentos no mundo real.
Hoje, não é só “a conversa pública de massas” que “não é eficaz”, como escreve Sigman – são também as conversas presenciais, em pequenos grupos ou apenas entre duas pessoas, por vezes até entre dois amigos de longa data, que se tornaram mais erráticas, pobres, incongruentes e improfícuas.
José Mourinho, a comédia e a morte
Sendo difícil, pelas razões acima apontadas, encontrar um tema sobre o qual todos os interlocutores possuam um mínimo de conhecimento, o assunto de conversa mais frequente (pelo menos entre homens) é o futebol – não a prática pessoal deste desporto, claro, mas as competições profissionais de futebol e as respectivas “incidências” e negócios milionários.
O mundo fez formidáveis progressos do domínio da educação (em Portugal, a percentagem de alunos a frequentar o ensino secundário passou de 1.3% em 1961 para 88.0% em 2022; o número de alunos matriculados no ensino superior passou de 81.500 em 1978 para 433.000 em 2022), as viagens de lazer ao estrangeiro deixaram de ser um privilégio das elites, o acesso à informação democratizou-se (na Net não “está tudo” e o que está nem sempre é de acesso livre e gratuito, mas há mais do que suficiente para satisfazer os espíritos mais inquisitivos), mas o indigente e pueril tema do futebol (cf. “A conversa desportiva” (1969), de Umberto Eco, em Viagens na irrealidade quotidiana), continua a ser o único denominador comum entre indivíduos do sexo masculino (ver capítulo “Desporto, espectáculo desportivo e tagarelice desportiva” em A febre do futebol parte 1: Hooligans e tagarelas).
Na verdade, a palraria ludopédica até tem vindo a dilatar a sua preponderância, já que os media, além de cobrirem detalhadamente o campeonato nacional e as principais competições europeias e mundiais, alargaram a esfera de interesse às principais ligas europeias e, no caso dos media lusos, a qualquer liga em que actue um jogador ou treinador português de algum renome (o que leva pessoas que não fazem ideia de quem são os seus vizinhos de prédio ou de quem são os professores dos seus filhos a estar a par dos resultados do “Brasileirão” e das ligas turca ou saudita). Não contentes com o acompanhamento do clássico futebol de 11 masculino do escalão sénior, os media (em resposta ao interesse espontâneo das audiências ou como estratégia de aliciamento ao consumo de novos produtos) bombardeiam-nos também com o futebol de salão, o futebol de praia, os jogos dos escalões jovens e, a pretexto de reparar milénios de submissão e apagamento das mulheres sob o jugo patriarcal, com os jogos das equipas femininas, tudo isto com o beneplácito, o louvor e a presença no estádio das mais altas figuras do Estado, que, insufladas de patriotismo, descortinam em cada vitória internacional, mesmo que contra um adversário modesto, um “motivo de orgulho” e um “momento histórico”, quiçá para nos distrair da persistente ausência de motivos de orgulho nas áreas que dependem da governação.
Ao mesmo tempo, a “conversa sobre futebol”, em tempos menosprezada nos círculos superiores da sociedade (se Henry Thomas Buckle tivesse nascido um século depois, talvez a sua “Tricotomia” postulasse que “a classe baixa pode ser identificada pelo seu hábito de falar sempre de futebol”), foi sendo “normalizada: deixou de ser vista como um agente de alienação das massas – em Portugal, um dos três Fs usados pelo Estado Novo para manter o povo adormecido – e ganhou foros de dignidade. Tornou-se corrente que membros da elite política, empresarial, judicial, científica, académica, literária e artística surjam em público a expressar as suas “paixões” clubísticas, a divulgar as suas expectativas e “antecipações” para os grandes “embates” em agenda e a comentar, com fervor e maniqueísmo, as “incidências” dos desafios recentes e a linguagem no espaço público foi infestada pelo jargão ludopédico. Hoje não é motivo de embaraço nem de estranheza que um livro de divulgação científica de “uma figura cimeira internacional da neurociência cognitiva” contenha alusões despropositadas ao mundo do ludopédio. Porém, se a história de infância de Sigman, envolvendo o desmascaramento de uma pretensa amizade com Diego Maradona é apenas um devaneio inócuo, já a sua reflexão sobre José Mourinho é reveladora da flacidez intelectual do “Richard Feynman do cérebro”:
“José Mourinho, o famosíssimo treinador português, é uma personagem pública que optou por manifestar uma personalidade arrogante e conflituosa; adora-se ou odeia-se, sem meios termos. O curioso é a distribuição dos afectos: enquanto, na Espanha, desperta sobretudo ódio, na Inglaterra, adoram-no […]. Por que razão a mesma personagem suscita reacções emocionais tão diferentes? O jornalista desportivo John Carlin propõe uma explicação muito instrutiva. Na Espanha, ele é levado a sério e, na Inglaterra, é levado a brincar. Digamos que Mourinho, na Inglaterra, é um espectáculo, uma forma de humor. Não é encarado com a gravidade do que é próximo, do que é seguro. Temos aqui outro recurso útil para guardar na nossa mochila […]: pensar que as coisas, em última análise, não são mais do que um mero entretenimento. Nem tão graves, nem tão sérias. Não o é o futebol, não o é Mourinho, não o são quase nunca as brigas e discussões com o nosso companheiro e, talvez, também a morte não o seja” (pg. 345-46).
[Compilação de momentos da carreira daquele que é, para Sigman, um dos mais populares stand-up comedians do nosso tempo:]
Há muito que as ciências cognitivas reconhecem que aquilo a que chamamos “inteligência” apresenta múltiplas facetas e, como tal, é apenas imperfeitamente medida pelo número obtido nos testes padronizados de QI. Este livro é a demonstração – se tal fosse necessário – de que a(s) inteligência(s) necessária(s) para triunfar na carreira científica (ou até em duas carreiras académicas), ser distinguido com uma miríade de prémios de prestígio e ser uma vedeta do circuito internacional de palestras, pode(m) coexistir com uma frivolidade e um vazio aterradores e com uma irreprimível inclinação para o dislate.

















