Um homem, com os seus 80 e poucos anos, de cabelo grisalho e sorriso escondido à espreita, senta-se num café na freguesia lisboeta de São Domingos de Benfica. Acende um cigarro e espera. Levanta-se e regressa a casa. Esqueceu-se de alguma coisa: duas cópias do recentemente reeditado Uma Noite Não São Dias, para oferecer ao Observador. Esta bondade parece preencher-lhe os dias: há poucas semanas foi homenageado no festival “Escritaria”, em Penafiel. “Uma manifestação coletiva de carinho”, recorda, enquanto reforça que nunca se esquece “a natureza de um abraço”. Mário Zambujal, o “bom malandro” que há décadas escreve histórias — mais criativas, mais verdadeiras, sempre notáveis na dança da língua portuguesa — é o homem que econtramos no café, agora de máscara e “com as pernas trôpegas”, mas com a mesma vontade de conversar que sempre teve. Connosco e com os vizinhos que passam.
Interessa-lhe pouco atirar-se para os “grandes assuntos da humanidade”, aqueles que, supostamente, fazem pensar, ainda que já esteja com um novo livro na cabeça. Só ainda não saltou para o papel porque não quer cometer erros factuais. É preciso investigar, ser jornalista. Entretanto, no dia 2 de dezembro, será estreada uma nova série da RTP baseada no seu maior sucesso, Crónica dos Bons Malandros, o primeiro livro que escreveu, em 1980, que conta a história de sete rufias que planeiam um grande assalto à coleção de joias Lalique guardadas na Fundação Gulbenkian. Assistiu às gravações, gostou do que viu, mas não se quer meter. Já agora, o autor confessa que gostava de ter visto o Cafuné (romance publicado em 2012) chegar mais longe, por ser a sua obra mais apurada, diz. Mas isso são trocos e pouco importam: porque Mário Zambujal, nascido em Moura em 1936, está profundamente satisfeito com a vida que levou. Sem revelar amargura ou desprezo por ninguém.
A vida nos jornais, que começava nas redações, deambulava pelas casas das máquinas a olhar para o papel impresso e terminava na noite com a “turma da mão fria”, fazem parte de um tempo que adora recordar, ainda que saiba que já não é assim. O batuque das máquinas de escrever foi substituído pelo silêncio. A pandemia trocou-nos o guião. Tal como saber que os que perdeu, como o seu irmão Francisco, caricaturista, o deixam mais pobre. Mas nessas páginas já não se mexe. Tudo tem um fim. Por isso é que tem tendência para encarar tudo com naturalidade. “O que é para mim a morte? É estar a ver esta rua e no dia seguinte acabou, já não tenho visão para o mundo. Tenho essa tranquilidade. Espero que não seja numa demorada sala de hospital. Não quero que me doa, pá”. Um bom malandro também tem fraquezas.
[o teaser para a nova adaptação da Crónica dos Bons Malandros, com estreia marcada para dia 2 de dezembro na RTP1]
Crónica dos Bons Malandros, brevemente na RTP1!
Posted by RTP1 on Thursday, November 19, 2020
Diz que para escrever já tem que ter a história pensada. Enquanto preparava esta entrevista estava difícil conseguir pôr no papel uma primeira pergunta para lhe fazer. Então decidi perguntar-lhe a si: qual seria uma boa primeira questão?
Talvez como é que começou o meu hábito… Não gosto da palavra carreira, porque é presunçosa. Como começou esta vida de escrever, tanto nos jornais como nos livros. Durante toda a minha vida tenho feito comunicação. Pode ser jornalística, dar notícias ou em função da imaginação, criar histórias, coisa que me agrada particularmente. Não é que tenha relações cortadas com o mundo real, mas a ficção é a criação de um outro mundo. São pessoas que não existem, mas que podiam. Isso estimula a minha imaginação. Sou um contador de histórias.
Deduzo que preferisse fazer esta entrevista num bar, como antigamente. Estar aqui num jardim ao ar livre, sem um copo a ajudar, não é bem a mesma coisa.
Tenho um passado de convívio nos bares, era natural. Encontrava-se toda a gente ali. Havia e há bares..
[Mário Zambujal interrompe a conversa para acenar a um vizinho]
… em que um tipo ia sozinho e já sabia que ia conhecer outros companheiros. Fazia parte do nosso circuito de movimentação e de companheirismo. Agora já não vou.
Mesmo antes da pandemia, acalmou essa atividade.
Muitos dos meus companheiros já encostaram às cordas…
A “turma da mão fria”.
É, já encostou. Infelizmente, alguns já se foram embora deste mundo. Aqui há uns dois ou três anos, entrei num bar, que fica atrás do El Corte Inglês, onde era habitual encontrarmo-nos numa tertúlia de fim de tarde. Com espanto meu, encontrei três desses velhos companheiros. Foi uma festa. Telefonei a outro muito antigo, que sempre andou comigo, e disse-lhe para vir, que estava lá tudo como antigamente! Ele deu-me uma justificação para não ir, que me parece o retrato deste tempo: “Epá, agora já arrumei carro, e custa tanto arranjar lugar aqui”. É o retrato do mundo, com este problema do carro. Sou muito antigo, sou do tempo em que não havia esses problemas.
O mundo era mais próximo. Agora estamos todos metidos no telemóvel.
As pessoas encontravam-se pessoalmente e fisicamente. Não desapareceu por completo, mas é muito menos. O aperto de mão, os olhos nos olhos, isso ainda não morreu, mas, também por causa da pandemia, que há de passar, e por causa das tecnologias de comunicação, já não será como dantes. Hoje fui entregar um prefácio a uma senhora que me tinha pedido, estive lá de manhã. Disse-lhe para ir ter a uma leitaria, porque não lhe ia enviar nenhuma mensagem de computador. Encontrámo-nos e não nos víamos há 30 anos. Foi diferente de lhe mandar um email. Sou muito defensor disso. Quando fui a Penafiel [ao festival Escritaria], pediram-me uma mensagem para ficar gravada. Deixei uma que diz respeito ao meu pensamento dominante: “Os tempos mudam, mas nada substitui a natureza de um abraço”. A minha neta está em Londres e falamos, vendo a imagem e os sorrisos. Mas não lhe posso dar um beijinho ou dar-lhe uma festa na cabeça. Ainda há muita diferença.
Como é que lida com essa restrição? Um homem que gosta tanto de afetos, agora não pode dá-los ou recebê-los. Isso afeta-o? E desculpe o trocadilho…
Agora tem de se dar umas cotoveladas. O homem é um ser que se vai adaptando às circunstâncias. Ando com máscara e essas coisas. Estou é um pouco saturado deste tempo que estamos a viver. Quando um dia disserem que a pandemia está dominada, faço uma grande festa.
Vai dançar? Li que gostava muito de o fazer.
Gostava de dançar, mas agora as pernas já não obedecem, a não ser com uma música lenta, um bom tango, ao lado de uma rapariga que tenha força para me agarrar. Estou com as pernas um pouco trôpegas. Mas quero muito que o final da minha vida não seja com pandemia. Tenho 84 anos, estou na ponta final. Quero que isto tenha passado, gostava de viver outra vez nos tempos de liberdade de respiração, do abraço, da mão dada.
Quer que o sprint final seja com alegria.
Que seja do regresso a uma vida normal. A pandemia vai-se tornando noutro normal. Ontem estive a ler um artigo de um especialista nestas coisas, que dizia que o futuro será de mais pandemias. É um desassossego e uma contradição com os avanços espantosos da medicina e da ciência. Agora toda a ciência está embaraçada perante este malefício que nos caiu em cima, e não sabe como se dar a volta. Pensei que já fosse tão avançada que dominasse rapidamente esta brutalidade. Quando foi a febre espanhola, a ciência estava muito atrasada. Agora admiramo-nos que não tivesse sido possível evitar tantas mortes. Bom, mas continuo a pensar que há de aparecer aí a vacina.
Conheço quem tenha a sua idade e não lhe apeteça chegar até aos 100. Qual é a sua perspetiva?
Desde criança que tomei conhecimento de que a vida é um contrato a prazo com recibos verdes. Um dia acaba o contrato. Ninguém fica para lá de um determinado máximo possível de permanência neste emprego que é a vida. Sempre fui perdendo pessoas. Primeiro da família. Ou seja, tive sempre esta relação próxima com a morte. Não quero morrer atropelado, estou a ver se passo nas passadeiras sem o ser, porque tenho as pernas trôpegas. Atropelado é que não! Mas estou tranquilo nesta parte final da minha vida. Não tenho de dramatizar uma coisa que é a normalidade. Farto-me de ler notícias de amigos meus e de grandes pessoas deste país, mais novos, que já se foram. Fico sempre mais pobre. Faziam parte da minha vida. Ia jantar, almoçar ou tomar um copo com elas.

▲ O que é para mim a morte? É eu estar a ver esta rua e no dia seguinte acabou, já não tenho visão para o mundo. Espero que não seja numa demorada sala de hospital. Não quero é que me doa, pá"
DIOGO VENTURA/OBSERVADOR
Quem é que lhe faz mais falta?
Epá… pessoas como o Nicolau Breyner, só para falar nos mais conhecidos. O Carlos Pinto Coelho, o Fernando Assis Pacheco. Todos morreram muito novos, na minha visão de hoje. Mas se tiver de eleger o que me faz mais falta é o meu irmão Francisco, um caricaturista espectacular. Trabalhámos muito juntos, ele a fazer os bonecos, eu as piadas. A minha irmã mais nova também, que morreu primeiro com cancro da mama. Foram choques.
Nunca resolveu passar essas tristezas para o papel?
Não, não. A minha escrita tende mais a divertir ou a entusiasmar os leitores do que a colocá-los perante grandes dramas. Depois, os grandes assuntos da humanidade como a morte, está tudo escalpelizado, já imensa gente escreveu sobre isso. Tem sempre um ar amargo, de desistência de viver e de ausência do mundo. O que é para mim a morte? É eu estar a ver esta rua e no dia seguinte acabou, já não tenho visão para o mundo. Tenho essa tranquilidade. Espero que não seja numa demorada sala de hospital. Não quero é que me doa, pá. Vocês [jornalista e fotojornalista] são dois meninos. Há quase 60 anos, eu também tinha 26…
Foram uns bons 26?
Foram. Já era jornalista, já estava a trabalhar em Lisboa. Tinha amigos e convívio, o que me falta agora. Às vezes uns rapazes dos velhos tempos vêm aqui ter comigo. Outras vezes levam-me para almoços de jarretas da minha idade. É muito engraçado porque é uma data de rapaziada na casa dos 80 anos, e os gajos gostam tanto de comer!
O Mário não gosta assim tanto?
Sou mais da conversa, não sou grande comedor. Gosto de petiscar, mas sou fraco comedor.
Voltemo-nos para o jornalismo. Sou de uma geração onde se entra numa redação e não há cigarros nem máquinas de escrever. Muitas vezes há silêncio. Algo que lhe causa espanto. É um pouco o espelho da sociedade e do que estamos aqui a falar, ou não?
É a estranheza de uma mudança. Quando estava nas redações há 40 anos, eram salas cheias de fumo, tudo a fumar a sua cigarrada. Depois tinha a música de fundo do batuque das máquinas de escrever, que desapareceu. Isso e as conversas. Agora vão ao Tio Google perguntar as coisas que queremos saber. Há um quase silêncio nas redações em que cada um está debruçado sobre o seu interlocutor que está dentro de um computador. Não há o som de uma redação, apesar de estarem próximas.
É isso que também faz com que se diga que o jornalismo, por vezes, não vai além da espuma dos dias?
Há muito para observar sobre a recolha da informação. Há muito mais capacidade para a recolher, nos onlines todos deste mundo. Só que fiz televisão ainda a preto e branco e também fiz jornalismo dessa cor, por vezes. Dantes marcava-se o encontro, como, aliás, se fez para esta entrevista. Isto aqui dá-me um prazer de ser uma situação comum a toda a minha vida em que fiz entrevistas ou dei. Da proximidade física. Estamos num período em que, por mais que queiramos, acabamos sempre a falar na pandemia. Está a ocupar de tal maneira os nossos movimentos, as notícias são alarmantes. Vim de Penafiel há dias, agora leio e ouço que o hospital de lá deita pelas costuras. Já estava assim quando fui…
Quis assumir esse risco?
A Escritaria é uma iniciativa muito interessante e é em Penafiel, que a torna mais ainda. Quando fui escolhido para ser o autor deste ano, podia ter dito que não podia ir, que não queria sair de casa. Claro que fui. Vi-me envolvido numa manifestação coletiva de carinho e apreço que me deixou sensibilizado. Até uma escultura em ferro fizeram.
Ficou bem?
Fico um espectáculo. Ontem ainda me telefonaram a dizer que estão a fazer murais sobre os meus livros. Os velhos gostam de ser gratos. A velhice tem uma consequência que é o afastamento dos outros. Não direi que é por desprezo, mas por desinteresse. Quando um gajo de 84 anos se sente envolvido numa onda fabulosa de carinho, fica… não digo vaidoso, porque sou incapaz…
Nem um bocadinho?
Não sou, não sou. Tenho uma velha regra que dizia a uns tipos que tinham tendência a sê-lo: por muito bem que a gente faça, já alguém fez melhor do que nós. Portanto, calma aí. E virá alguém que fará melhor do que nós. Ainda bem que ficamos contentes com o que fazemos, mas não esquecer que há um mundo além de nós onde há pessoas que fazem ou já fizeram melhor. Isto é só para acalmar uma tentação de vaidade, que é tão fútil.
Retomando a conversa sobre os jornalistas: passou por vários cargos de chefia na sua vida. Quando apanhava malta mais nova, como é que era?
Uma redação tem uma tarefa de grupo. Ninguém faz o jornal sozinho. Trabalhei em jornais mais diários. Sendo um trabalho coletivo, é bom que haja harmonia. Fui sempre um conciliador. Vi ao meu redor esboçar-se conflitos e, por natureza e por sentir que todas as hostilidades são contra esse espírito, falava com as pessoas para acabarem com isso. Aqui nesta casa onde vivi 30 anos e a que estou de regresso, porque gosto muito deste bairro, viveu cá uma sobrinha. Confesso que me sinto mais autêntico neste bairro de Lisboa, nesta coisa castiça, com gente na rua a toda a hora, com cafés e tascas. Ando aqui 50 metros e tenho desde a padaria à farmácia, tenho tudo. E gente que, na sua maioria…
[Agora uma vizinha, interrompe a conversa, com um “olha o meu querido amigo Mário Zambujal”! Ao que o autor responde: “Minha querida senhora, atrás dessa máscara um lindo sorriso se esconde!”. Segue-se uma curta conversa sobre os seus livros, vendidos no supermercado, e uma troca calorosa de cumprimentos à distância.]
Assim é que é bom.
Já estava admirado, já estava admirado…
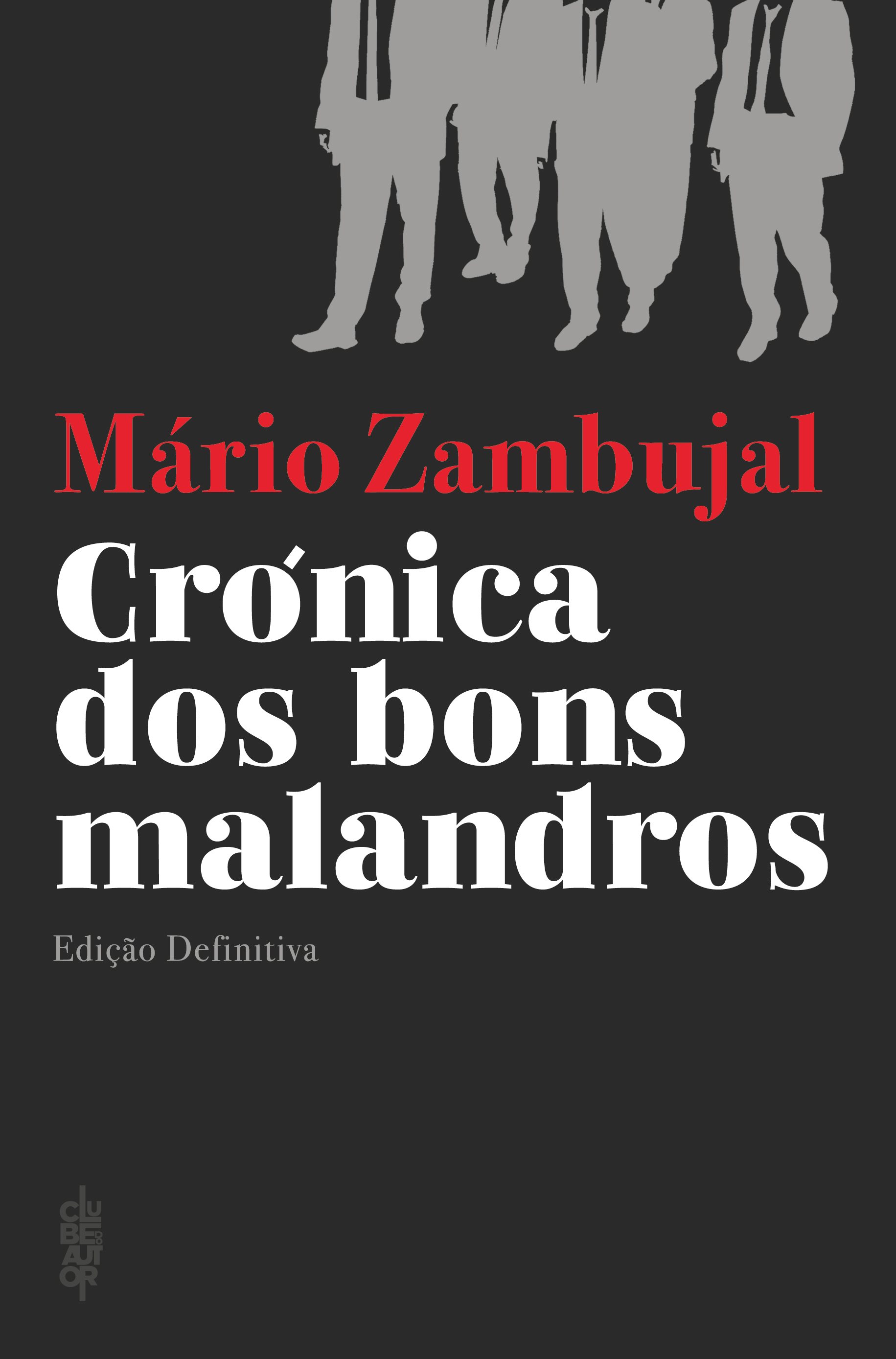
▲ A capa da mais recente edição da "Crónica dos Bons Malandros", pela Clube do Autor
Essa vontade de reunir consensos nas redações contraria um pouco a frieza do típico lisboeta. Foram os ares do Alentejo e do Algarve, onde morou muitos anos?
Talvez tenha tido alguma influência campestre. Saí do Alentejo com cinco anos, fui para o litoral e foi uma mistura de mundos, sendo que o Alentejo foi comigo, porque os meus pais eram de lá. Toda a culinária era com os velhos pratos alentejanos. O sotaque familiar era esse. No entanto, estive no Algarve durante 18 anos, onde passei da infância para o princípio da idade adulta, e aí fiz e tenho grandes amigos. E os bailes e o futebol.
Mais umas asneiras…
Graças a Deus. Há atitudes que se tomam, que são asneiras ou não que fazem parte de um período da idade. Vivi a minha adolescência num tempo em que as regras ditas morais eram extremamente rigorosas. A gente não se podia aproximar das moças. Havia uma vigilância nos contactos. Até que chegava o bendito dia do baile e até nos podíamos abraçar. Era um dia festivo. Mas isso tem a ver com a idade jovem. Uma vez estive em Belém do Pará, no Brasil, com um grupo de jornalistas, também num baile, num pavilhão imenso. Quase só havia mulheres a dançar umas com as outras. Foi muito divertido. Elas eram muito simpáticas, porque cheguei a dançar com uma, muito amável. Era um momento quase acriançado olhando para a minha vida de hoje em dia. Seria lá capaz de fazer isso agora.
Nesse fervor da puberdade, nunca lhe apeteceu escrever logo sobre o que sentia?
Quase todos os meus livros têm algo a ver com a reação entre homens e mulheres. Paixões quebradas, triângulos e coisas assim. Porque as minhas personagens… nenhuma representa uma pessoa que tivesse conhecido, mas podem perfeitamente existir. Basta relacionarmo-nos com a vida. Não é ficção nenhuma. Mesmo o livro que foi reeditado agora [Uma Noite não são Dias], que é uma loucura que se passa em 2044, as pessoas são reais, não têm olhos na testa. Pode acontecer haver pessoas muito parecidas em qualquer parte do mundo e as suas histórias não se diferenciarem muito das que faço, sem as conhecer. Estou a pensar escrever um livro, ainda não tomei bem a decisão.

▲ A capa da nova edição de "Uma Noite Não São Dias", pela Clube do Autor
Já tem 70% na cabeça, não é?
Tenho. Mas às vezes levantam-se questões. Falta decidir algo aparentemente estranho. Queria escrever sobre a segunda metade do século XIX e, para tal, preciso de não cometer erros. Chamar jaqueta a algo que não se chama assim… Ao transportar-me para uma época que não vivi, tenho de saber como era na realidade, apesar das pessoas serem inventadas. Não as posso meter a falar ao telemóvel.
Tem de ser jornalista.
Sim, desse tempo. É muito arriscado começar-se a escrever coisas que não existiram. Por exemplo: a polícia, que nome tinha? Não sei se o vou escrever ou se escrevo uma história contemporânea. Porque aí não preciso de fazer investigação, as coisas passam na minha frente. Vejo as pessoas e sei os locais onde se encontram, as paixões que podem suscitar daí.
A sua literatura anda muito à volta das mulheres. Agora com mais idade, ficou sem vontade de as seduzir?
Gosto do convívio com mulheres. Acho que têm, de um modo geral, uma argúcia e forma de estar e uma capacidade de serem amigas e carinhosas, que é sedutora. Sou um velho apreciador. Vai ali um senhor de certa idade, deve ser mulher dele…
…ou amante.
Ou filha. Mas há uma relação entre as conversas entre estes dois géneros, que são um pouco marcadas pela natureza do masculino e do feminino. Mesmo que falem de coisas gravíssimas. Há um lado de perspicácia nas mulheres e de visão que é normalmente diferente.
Mas o que é que ainda não descobriu sobre mulheres?
As histórias têm de ter um conflito, em que alguma coisa se passa entre as personagens da história, para o bem e para o mal. O meu melhor livro é o Cafuné, porque me deu algum trabalho e penso que consegui localizar num período extraordinário na história de Portugal, quando estavam a entrar os franceses e houve uns gajos que ficaram cá. Nesse quadro, que foi real, introduzi-lhe as personagens de ficção. Movem-se como se fossem figuras desse tempo. Esse jogo e a forma como se desenhou a história, fico a pensar que este texto está bem sacado.
Chateia-o que Crónica dos Bons Malandros tenha sido um sucesso maior do que o Cafuné? É que o primeiro diz que escreveu para os amigos, assim quase como uma brincadeira.
Chatear, não. Acho piada. Algum motivo há de haver para que esse livro e não outros tenham tido teatro, cinema, musical.
Fernando Lopes nem conseguiu rodar na Gulbenkian. Isso tem graça.
Mas a série da RTP já foi feita lá dentro.
[o trailer da adaptação de 1984 e a canção de Paulo de Carvalho:]
O que é que achou, depois de assistir às gravações?
Só lá fui duas ou três vezes, adorei os artistas que fazem parte da quadrilha e adoro o realizador, o Jorge Paixão da Costa, que é um gajo brilhante. A série é inspirada no livro, não é a reprodução tal qual. E, como provavelmente estaria muito amarrado ao livro, afastei-me do guião, embora me tenham enviado todas as páginas. Acho que vai ser divertido.
Por vezes há adaptações que não correm bem e os autores não gostam muito.
Estou confortável, porque parto do princípio de que aquilo não é exatamente o que está no livro. As sete personagens têm o mesmo nome, partem para o desafio de fazerem um grande assalto. O essencial está lá todo. Depois há os derivados nas pesquisas e nas biografias, onde se estendeu mais porque não está lá.

▲ Rui Unas, Joana Pais de Brito, Adriano Carvalho, José Raposo, Maria João Bastos, Manuel Marques e Marco Delgado: os Bons Malandros na adaptação que se estreia na RTP a 2 de dezembro
FAYA
A escrita é simples, mas não é fácil de o conseguir. Como é que se faz, afinal?
A comunicação só acontece quando o conteúdo é recebido e entendido pelo destinatário. Isso não quer dizer que se vá escrever com um léxico muito pobre. Mas de uma forma entendível. Contar uma história é falar por escrito, é conversar por escrito. Sei que me estão a entender. Presumo, pelo menos. Há a clareza e a claridade. A clareza é escrever de uma maneira muito entendível, o que não invalida que haja a claridade, que é coisas, até poéticas, mesmo mesmo bem feitas. Como dizia a Sophia, entro no grau da claridade. Escrever é um bom exercício para o cérebro, porque está a funcionar em pleno, está a ser chamado a ter ideias. Quando se escreve, estamos a viver o mundo das personagens que estamos a criar. Vamos seguindo, ocupando as cadeiras de outros e depois estamos lá.
Somos os intermediários.
Isso. É uma boa palavra.
Porque o Mário Zambujal não se força a escrever. O seu método de escrita é o mesmo?
É o impulso. Já sei o que hei de escrever quando chegar o momento em que se passa ao ato concreto de escrever, que é desenhar letras e frases. Não sei as palavras todas, vão aparecendo. Há esparrelas na língua portuguesa, como o “ão”, “naquela ocasião”, “conselho de administração”. É por isso que aconselho a todos os que escrevem a lerem em voz alta. Porque a escrita também é música e sonoridade. Quando às vezes escrevemos inadvertidamente um conjunto de palavras que podem acabar em “ão” ou em “ente”, epá, não soa. Essa é a musicalidade da escrita. Não tem choques de rimas. O que sabe bem ouvir em voz alta, está bem escrito.
Perdeu-se um bocadinho este registo de sátira, especialmente nas crónicas, não acha?
O mundo está sisudo, muitas vezes. Também há o lado dramático da vida, que dá obras magníficas. Mas outra coisa é uma escrita acinzentada, sem corresponder, por outro lado, à ideia de ser uma grande peça literária. Às vezes não é. Também não tem o lado do divertimento, porque o autor não gosta, não quer ou não sabe. Talvez queira escrever sobre os grandes dramas da humanidade, onde já foi escrito tanto.
Porque é se perdeu um bocadinho esse registo? Até na televisão…
Há ondas de altos e baixos. Tenho a impressão de que vão reaparecer sempre. O Herman José é um tipo que mantém uma atividade de divertimento e de relação com o espectador, por exemplo. Não há muitos, já houve mais, se calhar já houve menos também. Provocar o riso é um ato de bondade. Admiro os grandes artistas e agradeço-lhes por me fazerem rir e sorrir.
Quem é que o tem feito sorrir e rir?
O Herman ou a Maria Rueff, que é uma atriz extraordinária e uma comediante sensacional.
E dos mais novos?
Receio cometer injustiças porque não acompanho todos. Vejo que há gente muito boa. Os sete atores que vão fazer a série da “Crónica dos Bons Malandros” [Marco Delgado, Maria João Bastos, Rui Unas, Joana Pais de Brito, Manuel Marques, Adriano Carvalho e José Raposo], almocei com eles, fizeram-me rir. Não estavam a representar nada.
[Novo vizinho acena para Mário Zambujal. Desta vez, o escritor fica-se por um “não sei quem é mas pronto…”]
Gostou desse almoço, então.
Foi uma risota pegada, contavam-me histórias. Em Penafiel, perguntaram-me se esperava ter uma homenagem tão grande. Respondi: “Isto fez-me lembrar um pescador de linha, a quem perguntaram se achava que ia apanhar 100 quilos hoje, e respondeu, mesmo à típico alentejano, não é fácil, mas é difícil”. Brinquei com esta frase também lá na série, porque uma quadrilha de quarta categoria também podia dizer o mesmo.
Hoje já não é fácil distinguir a malandragem.
Continua a haver o malandro do pega e foge, o gatuneco. A malandragem agora está mais refinada, até com o uso das tecnologias, que permitem grandes golpes, que não existiam há 200 ou 300 anos. O grande falsificador de Portugal, cujo nome não me lembro agora, tenho uma admiração por esse tipo. Era de uma inteligência extraordinária. Deu-lhe para o mal, para fazer notas.
Também há génios do mal…
Sim.
Estes “bons malandros” são todos de Lisboa. Essas pessoas já não existem, pois não?
A cidade mudou um pouco, mas o que mudou muito mais foi o tempo. Muitas faleceram, outras atualizaram-se, porque o tempo assim convidou. O que acontece hoje a um jovem de 20 e tal anos é que já nasceu nesta época. Tem uma coisa contra: não pode comparar nada com algo que não viveu. Não tem noção, pode imaginar, por exemplo, uma altura sem telemóveis. O meu livro, Romão e Juliana, é uma brincadeira, onde o Romão ia encontrar-se com a Julieta, onde ela o esperava do outro lado do muro, dentro do jardim dela. E ele, para dizer que já tinha chegado, imitava o cuco, não mandava mensagem. Era uma forma de comunicação. Ela atirava pedrinhas. Hoje dizemos para enviar mensagem. No entanto, há um romantismo nessa existência antiga, de autenticidade. O tipo que inventou o cuco tem graça.
Andamos aqui a falar dos seus livros, falta então uma pergunta: quando dizem que é uma referência literária, como é que reage?
Epá… tenho uma natureza de originalidade, porque há muitas pessoas que escrevem parecidas umas com as outras. Escrevi um livro em co-autoria com outros autores, onde cada um escrevia um capítulo sem serem assinados. Um dia alguém fez uma procura de saber com futuros leitores quem teria sido o autor. Comigo todos acertavam. Escrever assim é a minha maneira falar, uma procura do que é original.

▲ "Pode haver pessoas muito parecidas em qualquer parte do mundo e as suas histórias não se diferenciarem muito das que faço. Estou a pensar escrever um livro, ainda não tomei essa decisão..."
DIOGO VENTURA/OBSERVADOR
Vem de si, nem sabe porquê.
Sim. Quando estou a escrever, os que tenho na mesa de cabeceira para ler à noite, nem que seja 20 minutos, são sempre diferentes. Porque o cérebro se deixa influenciar pela musicalidade. Se se ler só Saramago, a pessoa não quer imitar, mas influencia.
É como ler o seu livro e, de repente, escrever assim de uma maneira diferente, divertida, quase ingénua. Fiz esse exercício e aconteceu-me isso.
É bom que o sinta. Não gosto de falar de escritores que conheço, nem de fazer juízos de valor. Mas posso-lhe dizer que o que gosto ler, mesmo não tendo influência em mim, é o Gabriel Garcia Marquez. É um tipo de uma narrativa com um movimento humano muito profundo. Acontece sempre qualquer coisa, está a contar uma história, não está a encher páginas para mostrar que tem uma grande capacidade artística.
O que tem a dizer sobre os nossos novos autores, muito bem referenciados um pouco pelo mundo inteiro?
Vejo com alguma surpresa. Há uns anos percorria muito as escolas, porque os meus livros eram ensinados lá, e lembro-me de as professoras de português dizerem que os miúdos liam muito pouco. Disse várias vezes: “Se tivesse a idade deles, também lia muito menos do que quando tinha a idade deles”. Uma coisa é o número fixo, 24 horas por dia. E, esse número, que é o dividendo, vai-se dividindo pelo que temos para fazer. Hoje eles têm muito mais tentações do que quando tinha a idades deles. Muito mais entretenimento. O que acontecia nessa altura era ter livros, uma bola e pouco mais. Sou do tempo anterior à televisão. Ler fazia parte do preenchimento de um tempo dessas 24 horas. Acho normal pensar que se tivesse os meus 15 anos, estaria a ler muito menos tempo do que quando tive realmente essa idade.
Daí não estar à espera de ver uma geração dedicada à escrita com fervor.
Exatamente. Quando vejo essa geração com um conhecimento de grandes autores da língua portuguesa..
[Última interrupção, agora de um vizinho uruguaio. “Parabéns pelo prémio (homenagem em Penafiel). Merece muito mais! Continue a escrever!”, diz]
Este é uruguaio! Único fã que tenho de lá!
Mais um.
Já foi.
Voltando aos autores mais recentes, como o Afonso Reis Cabral ou o João Tordo.
São pessoas que se enamoraram pelas letras, primeiro por leitores, depois passando a ser eles os protagonistas e criadores das suas próprias histórias. Há aí gente boa. Se cada vez há menos leitores, como dizem, na proporção, não seria natural que aparecesse uma tão boa quantidade de escritores jovens.
Já disse várias vezes que se sente distanciado da classe jornalística de agora, sendo presidente do Clube de Jornalistas. Essa geração dá-lhe esperança?
Estou preocupado com eles, é um período difícil. Dentro das dificuldades, também é fascinante. Os modos de trabalho são totalmente diferentes de há 30 ou 40 anos. É mais esforçado e autêntico ir aos sítios, escolher os nomes, ver as pessoas do que fazer um texto baseado apenas em internet e telefone. Para mim, era muito mais fácil falar ao vivo, se as pernas me deixassem. Mas porque não domino a moderna ciência das tecnologias, não me sinto eu. No entanto, estive a falar com a minha neta que está em Londres, através do telemóvel da minha filha. Devo gratidão a quem inventou isto, pá!
Que conselho é que lhes poderia deixar?
É difícil dar conselhos sobre uma situação que não se viveu. Mas passa pelo respeito por aquilo que são os princípios básicos do jornalismo: rigor e a procura exaustiva da verdade. Já vi muitas coisas. Numa notícia, pode ser tudo verdade o que lá está, mas se se omite uma parte dessa realidade, é uma forma de mentira. Se se omite deliberadamente. Se tiver uma aproximação do conflito, a minha tendência é dar a parte favorável, não contando o que está contra a minha simpatia. Isso é sempre uma forma imperfeita. O meu top de jornal aqui há 40 anos era o Le Monde.
Ainda é?
Agora nem tenho visto. Porque era um jornal que parecia todo escrito pela mesma pessoa. Havia uma unidade e uma autenticidade que nos dava confiança. Não havia nada que estivesse escondido.
Isso que não acontece agora, por vezes, faz com que a desinformação tenha chegado à frente da corrida?
É doloroso. Qualquer jornalista pode ser enganado por uma fonte tão infiel à realidade. Pode ser apanhado numa…
… armadilha.
É uma boa palavra. Porque nas próprias redes sociais, muitas vezes, não se sabe quem escreveu aquilo.
Há uma quebra na confiança entre o público e os jornalistas.
O aparecimento das redes sociais levou as pessoas a pensar “já li no facebook, por isso não me interessa”. Os jornalistas têm de ter a autenticidade, a autoridade e a confiança pública para dizer que o que está no jornal é que dá garantias, por estarem lá profissionais da informação.
Andamos todos a navegar à vista, dos cidadãos aos políticos, por causa do vírus. Como é que olha para a gestão da pandemia em Portugal? Que personagens são estas que nos lideram?
A minha atenção não vai para os ministros, que em princípio não são especialistas de saúde pública, mas para este grupo de pessoas competentes, estudiosas e bem intencionadas, dificilmente acertam com a leitura e o tom do que é esta a pandemia. Mas o que é mais extraordinário é que não podemos sequer dizer mal de um médico especialista, por exemplo, porque o desconhecimento é universal. Podemos estar contra as medidas, mas segundo as nossas conveniências. A minha filha trabalha em dois concelhos, ficou um bocado atrapalhada, mas não está a ver pela conveniência universal, porque não sabe se é útil as pessoas não poderem circular. Estamos cheios de interrogações, neste momento. E dependentes da ciência, que sempre louvámos. Continuamos com os mesmos embaraços. Podemos criticar ou aplaudir aquela ou a outra medida, mas o governo anda à nora. Todos andam.
Quer mais medidas para a cultura. Costuma ser um patinho feio nas crises.
Esta situação também está a estimular o ato cultural, as análises, os cérebros trabalham num espaço que nunca tinham tido. A cultura não é só a erudição. É um conjunto de observações, como ouvir um pescador a ensinar-me o que não sei sobre a pesca. Quando falamos da falta de apoio é no cantar alentejano, peças dramáticas ou comédia, num movimento criativo que é baseado ou no divertimento ou na representação de situações humanas. As coisas quando metem dinheiro são sempre uma chatice. A cultura merece mais. Mas se a contrapuserem com miséria e pobreza, não. Os agentes culturais já formam uma parte importante da nossa sociedade. Também é cultura o que não se faz com apoio do governo. Sou a favor dos subsídios, de uma cultura que não pode ter no jogo comercial a sua possibilidade de vida.

▲ "Se puder, levanto-me tarde. Às vezes confundo o pequeno almoço com o almoço. Leio as notícias. À noite, espero até à uma da manhã para ver o que os jornais do dia seguinte vão ter"
DIOGO VENTURA/OBSERVADOR
Façamos um exercício de memória, para terminar. O que é que lhe apetecia estar a fazer neste momento? Tantas paixões e profissões, não vai ser fácil.
Aos 16 anos escrevi os meus primeiros contos para um jornal satírico, “Os Ridículos”, porque o professor de português quis que mandasse. A minha felicidade suprema seria agora estar a recomeçar. Mas não tenho idade para isso. Tenho para lembrar, com mais ou menos satisfação, as minhas jornadas nos jornais. Depois também está ligada às amizades. Vivi intensamente o meu gosto de ser jornalista e de ver chegar grandes bobinas de papel grande, que saíam depois impressas. Esse nascer dos jornais, ficava na casa das máquinas, na casa da impressão, a ver que aquilo que tinha feito nas redações se transformava em alguma coisa. Que era um interlocutor, que estava ali o que queríamos dizer. Quando acabo um livro…
…qual é a sensação?
Ainda bem que escrevi! Cheguei até ao fim. A escrita tem uma coisa: não estamos em contacto com o leitor e quando a vida proporciona isso, como hoje de manhã, com uma senhora que me enviou uma revista, tive essa proximidade de lhe agradecer. Não escrevemos uma carta, mas sim uma história. E ver que foi bem aceite, é o melhor.
E o seu refúgio em Alcoutim, não lhe apetece fugir para lá?
Há muita gente que gosta de fazer isso. Mas se há coisa castiça são os bairros de Lisboa como este. Já estive nessa casa uns dias, mas canso-me do isolamento. Não será totalmente solidão, porque tenho família ali. Só que falta-me a minha gente, as minhas esquinas, este ar. Esta possibilidade de me encontrar com alguém daqui por um quarto de hora. Tenho tido isso, agora estou afrouxando os meus convívios porque estou trôpego, há quem esteja ocupado e eu não. Mas não tenho uma vida com vazio, tenho muito que pensar. Tenho montanhas de livros para ler.
Coisas para arrumar.
Papéis e mais papéis. Sabe-me bem esta vida neste recanto em São Domingos de Benfica.
Como é o seu dia a dia?
Se puder, levanto-me tarde. Às vezes confundo o pequeno almoço com o almoço. Leio as notícias. À noite, espero até à uma da manhã para ver o que os jornais do dia seguinte vão ter. Quero saber as primeiras páginas. Quando era chefe de redação, do “Século” ou no “Diário de Notícias”, acabávamos às três ou quatro da manhã, diziam que tínhamos grandes notícias. Mas podíamos falhar a grande notícia do dia, meter uma argolada qualquer. Dizia que só amanhã é que sabíamos. É natural que um gajo da minha idade tenha uma sedução pelos jornais de papel que hoje já não exista.
Sai à rua?
Pouco. Mexer um bocadinho as pernas. Vou ao Jardim Zoológico também.
Vai lá dentro?
Sim. Também há ali restaurantes.
Os animais dão-lhe inspiração?
Não, não tenho muito fascínio.
O ser humano é que sim.
Exatamente. Mas olhe, não sei como é que vai tirar alguma coisa desta conversa.



















