Índice
Índice
Desde 2016 que o mundo está a braços com uma vaga de livros de auto-ajuda com obscenidades no título – o autor que lançou a moda foi Mark Manson, com A arte subtil de saber dizer que se foda (2016, edição portuguesa de 2018), seguido por Está tudo fodido (2019). Trabalhos de merda: Uma teoria (publicado originalmente em 2018) não faz parte deste grupo, nem a obscenidade no título desempenha papel meramente chamativo – David Graeber (1961-2020), um antropólogo americano cuja carreira combinou a docência em Yale e na London School of Economics com o activismo anarquista, tem a seu crédito uma obra com propósitos sérios (mesmo quando os títulos são provocadores) e que obteve reconhecimento crítico. Entre os seus ensaios, há a destacar Debt: The first 5000 years (2011) e Projecto Democracia: Uma arrojada reflexão sobre a ideia política mais poderosa do mundo (2013, editado em Portugal pela Presença), a que se junta agora Trabalhos de merda: Uma teoria, pela mão das Edições 70 e com tradução de Hugo Barros.
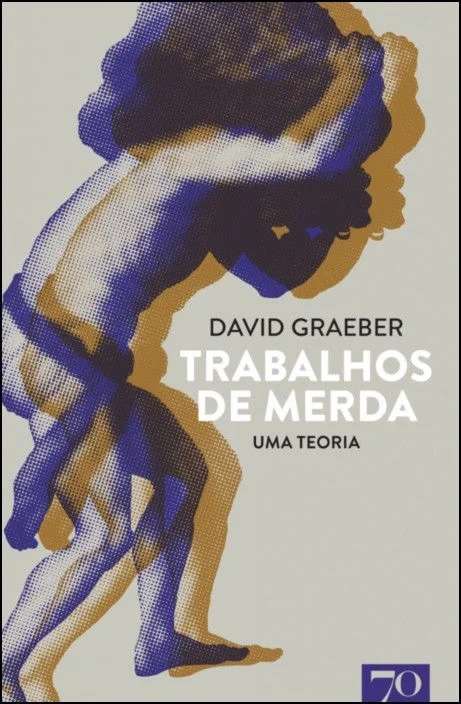
A capa de “Trabalhos de Merda: uma teoria”, de David Graeber (Edições 70)
O livro é um desenvolvimento de um artigo de Graeber com o título “On the phenomenon of bullshit jobs”, publicado em Agosto de 2013 na revista Strike! e que suscitou intenso debate um pouco por todo o mundo. Mesmo quem nunca tenha ouvido falar de Graeber, conhecerá provavelmente o slogan que lhe é creditado na qualidade de um dos líderes do movimento “Occupy Wall Street”, em 2011: “Nós somos os 99%”, uma denúncia da gritante desigualdade de rendimentos nos EUA, em que o 1% mais rico da população detém 25% do rendimento e 50% da riqueza do país (na verdade, Graeber declinou tal atribuição e há quem identifique a origem da expressão num artigo do economista Joseph Stiglitz publicado em 2011 na Vanity Fair).
No fundo de um poço
Peço aos leitores a indulgência de introduzir neste texto uma nota de cariz pessoal, que trata do meu contacto com um trabalho de merda na acepção literal do termo. Há um quarto de século, noutra encarnação, quando desempenhava funções na área da engenharia do ambiente num organismo do Estado com responsabilidades na área da protecção da natureza, fui chamado a averiguar um alegado caso de descargas de águas residuais para o meio aquático, com fonte numa fábrica de farinhas e óleos de peixe. A operação desta unidade seria, provavelmente, deficitária ou estaria no limiar da rentabilidade, mas era indispensável ao funcionamento da indústria conserveira da cidade, uma vez que usava como matéria-prima o refugo gerado por aquela, refugo que, de outro modo, não teria forma prática de ser eliminado. Ora, também o fabrico de farinhas e óleo de peixe gera um resíduo, que era recolhido por um sistema de colectores e concentrado no exterior da fábrica, num poço de uns três ou quatro metros de profundidade, de onde, após mais algum tempo de putrefacção, era bombeado para a superfície e espalhado em tanques pouco profundos, onde ficava a secar uns dias até perder a maior parte do teor de água, do volume e do odor e poder ser mais facilmente transportado para um aterro sanitário. Todos conhecerão o odor a peixe podre e serão talvez capazes de extrapolá-lo para o cenário de toneladas de cabeças, caudas, vísceras, peles e espinhas de peixe após uns dias de Verão, mas duvido que sejam capazes de conceber o fedor gorduroso emanado pela pasta viscosa que se acumulava no fundo do dito poço – é o refugo do refugo, a quinta-essência do pivete.

Descabeço do peixe, fábrica de conservas Nero & C.ª, Matosinhos, 1958
É provável que existam formas mais eficazes, sofisticadas e higiénicas de tratar estes resíduos, mas a época de ouro da indústria conserveira da cidade já ficara para trás há muito, restando apenas duas ou três unidades em operação, e, consequentemente, a vetusta fábrica de farinhas e óleos de peixe funcionava em moldes semi-artesanais e num ritmo letárgico e exibia, por todo o lado, sinais flagrantes de decrepitude, abandono e desleixo – quem visse esta ruína industrial de fora talvez nem suspeitasse de que ainda laborava. No poço dos resíduos, a bomba há muito deixara de funcionar e fora removida e o trabalho de trazer a pasta repugnante para a superfície era executado mediante uma corda, um balde, uma pá e dois operários: um em cima e outro no fundo, enterrado até quase à cintura em pura podridão, sem máscara ou qualquer equipamento de protecção. Vieram-me à mente, de roldão, várias questões, mas uma sobrepôs-se às outras: “as posições dos dois operários são fixas ou eles revezam-se?”.

Fábrica de conservas Júdice Fialho & C.ª, Portimão, década de 1920
A profissão que então exercia familiarizara-me com uma razoável paleta de fedores e com as operações que, nos bastidores, asseguram a salubridade e a conveniência da nossa civilização, mas nunca encontrara – nem voltei a encontrar – algo tão nauseabundo e torpe como aquele poço. Embora lá não tivesse regressado, o fedor assombrou-me o nariz durante dias a fio e passados alguns meses ainda era capaz de recriá-lo na imaginação.
O cheiro acabou por desvanecer-se, mas a imagem daquele poço tem voltado amiúde à minha mente: lembrei-me dela quando ouvi, num programa de comentário político, alguém que, a propósito de subida do salário mínimo, punha em causa a necessidade, sequer, da existência de salário mínimo, que, a seu ver, seria um atestado de menoridade intelectual dos trabalhadores: afinal de contas, o trabalho obedece às leis da oferta e da procura e ao trabalhador cabe fazer valer as suas competências e atributos e usá-los na negociação com o empregador a fim de obter uma remuneração adequada.
Regressou quando comecei a ouvir gente (sempre gente a quem a vida corria de feição no plano financeiro) proclamar, no tom entusiástico de quem encontrou a Verdade e a Luz, que a desigualdade económica gerada pelo capitalismo deve ser encarada sem dramatismo: ela é natural e inevitável e, portanto, deve ser aceite como o preço a pagar por hoje sermos (colectivamente) mais ricos do que na era pré-capitalista.
Do que falamos quando falamos de merda
Ao contrário do que o título da edição portuguesa sugere, Trabalhos de merda, de David Graeber, não é sobre trabalhos de merda. O título original da obra é Bullshit jobs: The rise of pointless work and what we can do about it e o substantivo “bullshit”, embora resulte, numa tradução estritamente literal, em “merda de boi”, tem o significado, na maioria dos dicionários, de “conversa fiada”, “mentira”, podendo compreender ainda “treta”, “léria”, “paleio”, “cantiga”, “lábia”, “ludíbrio”, “conto”, “engano”, “manha” (e, em português do Brasil, os coloridos “bobagem”, “besteira” e “papo furado”). O verbo “to bullshit” confirma que verdadeiro sentido de “bullshit” não tem a ver com “merda”, uma vez que significa, “enganar”, “ludibriar”.
“Bullshit” não é palavra fácil de traduzir, para português ou para outra língua, e é instrutivo considerar as soluções encontradas para verter o título do célebre ensaio On bullshit (2005), de Harry G. Frankfurt, professor de filosofia na Universidade de Princeton. A primeira edição portuguesa, de 2006, pela Livros de Areia, surgiu como Da treta, mas uma edição posterior, pela Bookout, escolheu como título Bullshit! Sobre a conversa fiada, o embuste e a mentira. Na edição espanhola o ensaio surgiu como On bullshit: Sobre la manipulación de la verdade, dando ênfase à intenção deliberada de distorcer factos; nas edições francesa – De l’art de dire des conneries – e italiana – Stronzate: Un saggio filosofico – o foco foi deslocado para a estupidez.
A versão italiana retoma a conexão fecal da palavra inglesa, já que “stronzo”, além de “palerma”, significa também “cagalhão”. Mas a verdade é que o termo “bullshit” só no início do século XX ganhou a componente “merdosa”, com o primeiro uso registado a surgir em 1915 entre as tropas do Império Britânico destacadas na Europa continental. A palavra “bull” (homógrafa e homófona do “bull” que significa “touro”) estava em uso desde o século XVII, com origem no francês arcaico “bole”, que significava “fraude, aldrabice, astúcia”, e terá sido durante a I Guerra Mundial que os soldados australianos e neo-zelandeses, ao darem-se conta de que os oficiais britânicos tendiam a atribuir maior importância às aparências e ao cumprimento de regras do que a combater de forma eficaz, o que era uma forma de “bull”, somaram a esta a palavra “shit”, com o intuito de ridicularizar os oficiais britânicos e a sua conduta postiça e pretensiosa.
Em inglês, “bullshit” comporta vários significados e nuances, que Frankfurt examina no seu ensaio, sublinhando que a “bullshit” implica de quem a pratica um estado de espírito: a intenção de ludibriar, de simular. O ludíbrio pode visar a obtenção de um proveito material, como quando um vendedor de carros de segunda mão tenta persuadir o comprador de que uma caranguejola prestes a exalar o último suspiro está “como nova” ou quando um gestor de conta tenta persuadir o cliente de que um certo “papel comercial” duvidoso é um investimento de retorno garantido; ou pode servir apenas para projectar uma imagem empolada do “bullshitter” como alguém muito vivido, astuto, bem informado, decidido, destemido, desenrascado, seguro de si, bem relacionado e influente.

Vendedor de carros usados em acção: Cena de episódio de 1997 da sitcom americana Caroline in the city
Mesmo quem nunca foi trapaceado na compra de um carro ou de fundos de investimento, estará seguramente familiarizado com a segunda acepção, pois ela faz parte da “segunda natureza” de muitas pessoas (em certos contextos socio-profissionais e familiares, há dias em que a maioria das interacções humanas podem ser com criaturas destas, o que é mentalmente extenuante). Como se já não houvesse “bullshit” de sobra no mundo, a sua produção tem sido extraordinariamente fomentada pelas redes (ditas) sociais, onde a atitude básica (o “default mode”) da maioria dos intervenientes é o auto-engrandecimento, a bazófia, o intuito de convencer os outros de que se é uma pessoa interessantíssima e que se leva uma vida invejável. Enquanto na primeira acepção, o ludíbrio diz respeito ao mundo exterior (mente-se sobre as características factuais do carro ou do fundo de investimento), na segunda o que é falsificado são as ideias, atitudes, sentimentos, motivações e interesses do próprio “bullshitter” – o que confere à “bullshit” uma componente de pretensiosismo.
Frankfurt não tem inteiro êxito no estabelecimento de distinções entre a simples mentira, o “bluff” e a “bullshit” e não desenvolve as várias facetas que a “bullshit” tem assumido no passado e no presente (tem uma justificação: o livrito cabe num bolso e tem apenas 60 páginas), mas a leitura do ensaio é proveitosa e proporciona substancial “alimento para o espírito”.
De regresso ao livro de David Graeber e face aos exemplos acima, é duvidoso que, “trabalho de merda” seja uma tradução apropriada para “bullshit job” e esse juízo torna-se ainda mais forte quando se examina a definição fornecida pelo próprio Graeber: “Um [bullshit job] é uma forma de emprego remunerado que é tão completamente inútil, desnecessária ou prejudicial que nem o empregado consegue justificar a sua existência, ainda que, como parte das condições do emprego, se sinta obrigado a fingir que não é o caso”.
A inadequação é confirmada quando, na pg. 40, Graeber faz a distinção “entre trabalhos que são inúteis e trabalhos que são simplesmente maus. Vou referir-me a estes como ‘trabalhos merdosos’ (shit jobs), já que é assim que a maior parte das pessoas se refere a eles”. Graeber sublinha que considera que estes dois tipos de trabalho “quase podem ser considerados opostos”. Os “bullshit jobs”, afirma, “são habitualmente muito bem pagos e costumam oferecer excelentes condições de trabalho. São tão-somente inúteis”. Já os “shit jobs” costumam “envolver trabalho que precisa de ser feito e que beneficia claramente a sociedade; o único problema é que os trabalhadores que o fazem são mal pagos e mal tratados”.

Um exemplo de “shit job”: Trabalhadores da recolha de lixo, Kent County, Michigan, década de 1930
Conclui-se que a tradução portuguesa dá nomes similares – “trabalhos de merda” e “trabalhos merdosos” – a duas coisas que são tão diferentes que o autor as considera quase como opostas – “bullshit jobs” e “shit jobs”. Teria sido mais avisado traduzir “bullshit jobs” como “trabalhos de treta” e será esse o critério que se empregará neste artigo daqui em diante, reservando “trabalhos de merda” ou “trabalhos merdosos” para “shit jobs”.
É importante frisar que embora, acima, se tenha escolhido o exemplo dos operários no poço da fábrica de farinhas e óleo de peixe como quinta-essência do “trabalho de merda”, e a maior parte dos trabalhos na área da limpeza e da recolha, triagem e processamento de resíduos sejam “trabalhos de merda”, estes não têm de ser necessariamente sujos ou insalubres. O trabalho nas cadeias de fast food, nos armazéns das grandes empresas de comércio online ou nas estufas da agro-indústria são também típicos “trabalhos de merda”: são úteis à sociedade, mas são precários, mal pagos, árduos, com metas de “produtividade” difíceis de cumprir, penalizações para erros e incumprimentos, escassas ou nulas perspectivas de “progressão na carreira” e sujeitos a regras e imposições injustificadamente rígidas e, amiúde, humilhantes.
As muitas facetas dos “trabalhos de treta”
No artigo de 2013 na Strike!, título “On the phenomenon of bullshit jobs”, Graeber apresentou uma listagem sumária dos “trabalhos de treta” mais correntes: “CEOs de fundos privados de investimento, lobistas, investigadores de relações públicas, actuários [uma inclusão que Graeber depois admitiu ser injusta], operadores de telemarketing, oficiais de diligências, consultores jurídicos”. São sobretudo trabalhos do mundo dos escritórios, desempenhados em frente de écrans de computador, mas nem sempre foi assim: um dos “trabalhos de treta” por excelência – hoje praticamente extinto – era o de ascensorista. A sua função objectiva era absolutamente inútil, a sua função simbólica era dar aos hóspedes do hotel ou aos clientes das lojas de departamentos a sensação de serem pessoas importantes – de certa forma, um resquício dos lacaios do período feudal, a maior parte dos quais servia apenas para mostrar que o seu amo possuía meios para sustentar um vasto séquito.

Ascensoristas, loja de departamentos Selfridges, Londres, 1928
A identificação do que é um “trabalho de treta” comporta uma boa dose de subjectividade, uma vez que, na definição de Graeber, depende da percepção que o trabalhador tem da inutilidade da função que desempenha e facilmente se imagina que duas pessoas que desempenham a mesma função possam ter dela ideias opostas: uma – chamemos-lhe o perfil 1 –, mais auto-crítica e com maior consciência social, sentir-se-á acabrunhada por estar a ser paga para não fazer nada de útil, e outra – perfil 2 –, mais calaceira, auto-confiante e dada à bazófia, pode sentir-se grata por não ter de puxar pela cabeça e por preencher a jornada laboral a jogar jogos de computador ou a bisbilhotar o Instagram e, ao mesmo tempo, ter uma ideia muito favorável ou até francamente insuflada do seu papel (alguns cultivarão mesmo a ilusão de que, sem eles, o seu departamento ou divisão soçobraria e que talvez o PIB do país caísse um ou dos pontos percentuais).
Graeber cita um estudo da YouGov no Reino Unido, que apurou que 37% dos inquiridos entende que o seu trabalho não “contribui com algo significativo para o mundo”, e um inquérito similar, na Holanda, em que 40% dos inquiridos exprimiu opinião similar. Ao longo do livro, Graeber faz desfilar grande número de testemunhos de pessoas com o perfil 1, mas nem um com o perfil 2 e esta lacuna, de que o autor não parece dar-se conta, resulta, em parte, do facto de a sua amostragem se basear – como se tornou comum na era da Internet – na iniciativa de cada indivíduo em contactar Graeber, através de um e-mail fornecido para o efeito. É claro que existe aqui um enviesamento: só as pessoas que correspondem ao perfil 1 irão dar o seu testemunho, as que encaixam no perfil 2 não andam pela Internet em busca de artigos denunciando a proliferação de “trabalhos de treta” e as perversões sádicas do capitalismo no século XXI (estão satisfeitas com o trabalho que têm e com o capitalismo) e, mesmo que, por acaso, tropeçassem nos textos de Graeber sobre “trabalhos de treta”, não se veriam neles retratados.
Este enviesamento inerente à amostragem via Internet, anónima, não verificada e “por iniciativa do inquirido”, está hoje a contaminar muita da investigação académica (sobretudo na área das ciências sociais) e muitos dos inquéritos de opinião e sondagens realizados por instituições estatais e empresas. A crescente popularidade do método é compreensível – é muito barato e pouco trabalhoso, quando comparado com os métodos “tradicionais” – mas produz, inevitavelmente, resultados muito pouco fiáveis, como saberá quem possua noções básicas de probabilidades & estatística, ou tenha ouvido falar do fiasco estrondoso que foi a sondagem realizada em 1936 pela Literay Digest relativa às eleições presidenciais americanas, ou dos Kinsey Reports de 1948 e 1953, ou dos Hite Reports de 1976 e 1981, que deram imagens enviesadas da sexualidade humana devido a análogo enviesamento de amostragem. A corrente voga de amostragem via Internet a quem se prontifique a responder só não tem consequências mais graves porque a maior parte das “investigações” que a ela recorrem são, elas mesmas, “trabalhos de treta”, pelo que acabarão a ganhar pó nos arquivo de uma universidade.
Uma possibilidade que Graeber deixa por explorar é a de o trabalho que é executado com aplicação, competência e proficiência e em que o trabalhador se sente realizado, mas cujo universo de destinatários é quase inexistente. Tome-se o caso da crítica de concertos de música clássica, que alguns jornais de referência ainda mantêm: quantas das 150 pessoas que assistiram na Casa da Música, no Porto, a um concerto com obras de Kaija Saariaho e Olli Kortekangas irão ler o jornal onde essa crítica será publicada e quantas de entre essas terão interesse em saber que o crítico entendeu que o maestro conseguiu, numa obra, “uma reveladora exploração tímbrica”, que na abertura do segundo andamento de outra, “o oboé entrou ligeiramente atrasado”, e que uma terceira obra “beneficiou da disposição espaçada dos músicos no palco”? Para os leitores do jornal que não assistiram ao evento, o assunto é tão apelativo quanto o tempo no dia anterior em Turku, na Finlândia. É muito provável que a crítica seja lida apenas pelo maestro, um ou outro músico da orquestra (o oboísta!), o programador da sala de concertos, quiçá um dos administradores da entidade que gere a sala – e não por serem leitores usuais do dito jornal ou terem hábito de ler críticas de concertos, mas porque a empresa de “clipping” contratada pela entidade que gere a sala enviou a esta um PDF com a dita crítica. Se, um dia, a direcção do jornal decidir eliminar, discretamente, a secção de crítica de concertos, ou outras secções cujo público potencial está praticamente extinto, devido a inelutáveis mutações sociológicas e tecnológicas, como sejam a crítica de discos de géneros musicais marginais e de livros de poesia, é possível que nem um leitor dê por isso. E há que admitir que um trabalho cuja extinção passa completamente despercebida às pessoas a quem supostamente se destina é, em certa medida, um “trabalho de treta”, ainda que quem o faz possa não o entender assim.
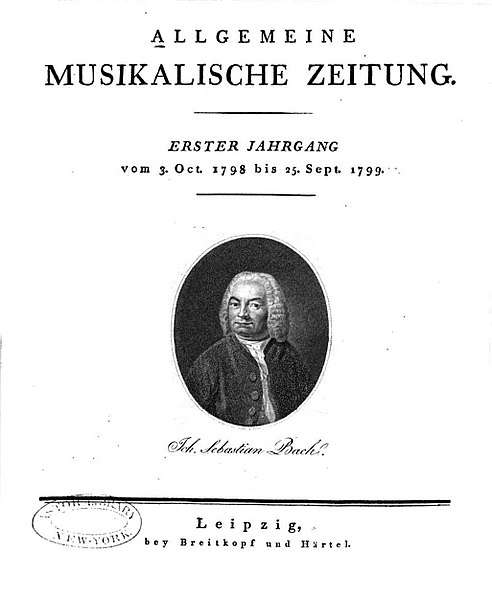
Um fóssil de outro tempo: Capa de compilação dos fascículos semanais do primeiro ano (1798-99) da revista de crítica musical Allgemeine Musikalisches Zeitung, a mais conceituada publicação em língua alemã neste domínio e que cobria eventos musicais em toda a Europa e nos EUA
Vamos todos fazer de conta
Como Graeber deixa claro na sua definição de “trabalho de treta”, o fingimento é uma componente indispensável deste. O trabalhador a quem foi confiada uma tarefa que apenas ocupa 15 minutos de uma jornada de trabalho de sete ou oito horas não pode ocupar o tempo livre a ler um livro, ver um filme no YouTube, procurar um sofá de segunda mão que combine com as cortinas da sala, aprender japonês ou discutir com os colegas o último episódio de “Squid game”. Ou melhor, pode, desde que não o faça de forma ostensiva – está obrigado a dar a ideia de que está sempre a trabalhar. Esta obrigação acaba por agravar a sensação de falta de sentido que um “trabalho de treta” comporta – como Graeber sublinha, uma vez que o próprio empregador criou um trabalho inútil e está consciente disso, quando fingimos trabalhar “nem sequer temos a satisfação de saber que estamos a enganar alguém”. O que torna o facto de se ser forçado a fingir que se trabalha exasperante é tornar “claro em que medida se está sob o poder total de outra pessoa”. Graeber realça os efeitos devastadores, em termos psicológicos de “se estar preso a um trabalho em que se é tratado como se se estivesse a fazer algo de útil e em que se tem de entrar no jogo e fingi-lo, apesar de se ter perfeita consciência de isso não ser verdade. Não se trata apenas de um assalto ao sentimento que a pessoa tem da sua importância, mas ainda um ataque directo às próprias bases que sustentam a sensação de se ser um ‘eu’”.
Graeber ilustra esta absurda situação com uma piada do comediante Bill Hicks que merece ser reproduzida:
“Patrão: Porque não está a trabalhar?
Trabalhador: Não há nada para fazer.
Patrão: Bom, é suposto fingir que está a trabalhar.
Trabalhador: Caramba, eu tenho uma ideia melhor. Porque é que não finge você que eu estou a trabalhar? É mais bem pago do que eu”.

Relógio de ponto fabricado pela National Time Recorder Co. Ltd., início do século XX
Nos “trabalhos de treta”, torna-se evidente uma característica do trabalho moderno que pareceria desconcertante na Antiguidade ou na Idade Média: “o tempo do trabalhador não é deste; pertence à pessoa que o comprou”. Em princípio, o intuito de quem, mediante um contrato, adquire direitos sobre o tempo de um trabalhador seria “espremer” este ao máximo, mas nos “trabalhos de treta”, que não geram produtos ou serviços úteis, a única coisa que o empregador reclama é o tempo do contratado. Esta situação é particularmente evidente na função pública, onde muitos funcionários que não desempenham tarefas cruciais para o funcionamento regular da sociedade (recolher o lixo, reparar fugas de água, apagar incêndios, cuidar de doentes, ensinar geometria descritiva) acabam em “trabalhos de treta”, onde, não havendo metas ou quotas “de produção” para cumprir nem recompensas para a diligência e para a eficiência, a relação laboral fica reduzida ao cumprimento pelo trabalhador do horário estipulado. E tamanha importância tem sido colocada na observância dos horários de trabalho, mesmo que este seja absolutamente improdutivo, que o relógio de ponto, que fez a sua primeira aparição em 1890, não só foi tendo cada vez maior difusão – entrando mesmo nas repartições mais comatosas e poeirentas – como foi ganhando sofisticação, com o intuito de prevenir a possibilidade de o trabalhador estar a “roubar” o precioso tempo que cabe ao “patrão”. O apogeu deste controlo do tempo chegou com o relógio de ponto biométrico, apoiado num sistema de reconhecimento de impressão digital, de rosto ou de retina – um belo exemplo da tecnologia de ponta colocada ao serviço da mesquinhez e do espírito concentracionário, a coberto do nobre desígnio da produtividade.

Um moderno relógio de ponto biométrico, com reconhecimento de impressão digital
Embora a experiência do tele-trabalho imposta pela pandemia de covid-19 tenha evidenciado resultados positivos nalgumas funções e nalguns sectores de actividade, proporcionando flexibilidade ao trabalhador sem comprometer a produtividade (e poupando a atmosfera à emissão de uma apreciável quantidade de CO2 e outros poluentes decorrentes das deslocações), a maioria dos “chefes” continua a fazer questão de ter os seus trabalhadores no escritório. Alguns “chefes” adoptam esta postura porque pensarão algo como “Comprei o direito a usar o teu tempo, não podes ficar em casa de pijama a beber chá e com o gato ao colo”, mas o que é curioso é que também as chefias em organismos públicos tendem para o mesmo sentimento de posse, embora o pagamento do funcionário não saia do seu bolso e alguns dos seus funcionários não tenham nada para fazer no escritório (ou que o que há para fazer não possa ser feito a partir de casa).
Uma vez que os numerosos testemunhos de quem desempenha “trabalhos de treta” que surgem no livro de Graeber vêm quase todos do mundo anglo-saxónico, é adequado inserir uma pincelada de cor portuguesa. Esta pequena história verídica tem por cenário um organismo do Estado central, cujas funções, embora de indiscutível utilidade, estão longe de serem prementes ou inadiáveis e que está, consequentemente, infestado de “trabalhos de treta”, e é protagonizada por um quadro técnico superior recentemente transferido para aquele serviço. Por ocasião de uma das vagas da pandemia de covid-19, a direcção do organismo entendeu que, mesmo sem ter sido decretada pelo Governo a obrigatoriedade geral do tele-trabalho, todos os funcionários deveriam ficar em casa a dar continuidade, na medida do possível, aos trabalhos que tinham em mãos; o quadro recém-chegado, que ainda não recebera atribuições e encargos específicos, inquiriu junto do seu superior se também deveria ficar em casa e a resposta foi “Uma vez que ainda não tem trabalho para fazer, tem de vir trabalhar”.
É um exemplo revelador do entendimento que o Estado-patrão português tem, frequentemente, da relação com os seus funcionários: não tenho interesse pelos bens, serviços ou conhecimentos que possas gerar, mas comprei 35 horas por semana do teu tempo e faço questão de as gastar até ao último segundo.
Um cenário que poucos reconhecerão
Os leitores portugueses ficarão perplexos perante as percentagens de pessoas que, no livro de Graeber, declaram não desempenhar funções úteis no seu emprego ou que as executam em dez minutos e têm de arranjar forma de ocupar o resto do horário de trabalho. A verdade é que as estatísticas citadas por Graeber não incluem numerosos parâmetros fundamentais e não detalham a forma como foram obtidas e processadas, pelo que desconhecemos a sua fiabilidade e representatividade. É muito provável que existam grandes diferenças consoante os países, as regiões e a dimensão, tipo e sector de actividade das empresas e é também provável que em Portugal os “trabalhos de treta” sejam menos correntes do que nos EUA e Grã-Bretanha – os dois países mais frequentemente mencionados nos exemplos de Graeber – pelo simples facto de o nosso tecido empresarial ser dominado por micro e pequenas empresas, que rapidamente soçobrariam se dois dos seus seis empregados não fizessem nada de útil (a não ser, claro que a empresa seja a fachada de um esquema de lavagem de dinheiro).
Graeber não menciona o factor “dimensão da empresa”, mas parece óbvio que, enquanto o “trabalho de merda” está por todo o lado, o “trabalho de treta” só pode medrar em “ecossistemas” empresariais de grande dimensão, que, em Portugal, são em número limitado – o que leva, possivelmente, a que, por cá, acabe por estar sobre-representado na função pública ou no sector empresarial do Estado.

Os primórdios do “escritório”: gravura incluída num manual de aconselhamento jurídico publicado em 1719 por Julius Bernhard von Rohr
Por outro lado, é certo que mesmo uma empresa privada de grande dimensão poderá ver o seu desempenho comprometido – deixando os seus proprietários ou accionistas descontentes – se criar demasiados “trabalhos de treta”, enquanto os organismos e empresas do sector público não têm de pagar dividendos a accionistas nem correm risco sério de falir, pelo que os “trabalhos de treta” têm condições para medrar. Foi por esta razão que o “trabalho de treta” conheceu o seu apogeu nas economias ditas “planificadas” dos regimes ditos “socialistas”, onde todo o sector produtivo estava nas mãos do Estado – e não há melhor tradução do espírito então reinante entre os trabalhadores desses países do que a velha piada soviética “Nós fingimos trabalhar; eles fingem pagar-nos”. Graeber cita este slogan de uma ironia amarga mas não explora o tema do “trabalho de treta” no mundo socialista pré-1989 (o suposto “paraíso dos trabalhadores”), pois o seu foco está no mundo capitalista de hoje – e é certo que há uma diferença essencial entre os dois universos: a economia planificada sempre se revelou demasiado ineficiente para poder pagar bons salários aos seus apparatchiki.
Há também que considerar que o cenário descrito por Graeber, de alastramento generalizado do “trabalho de treta” no sector privado, não bate certo com as notícias que dele têm emanado nas últimas décadas e que têm sido dominadas por eufemismos como “downsizing”, “restruturação” ou “supressão de redundâncias”, que se traduzem na eliminação do maior número possível de trabalhadores sem comprometer a capacidade de produção e na sobrecarga dos trabalhadores que foram (por enquanto) poupados ao despedimento. Aliás, a roda-viva de aquisições e fusões em que as grandes empresas multinacionais parece, na maior parte das vezes, não ser guiada pelo fito de “racionalizar a produção”, “criar sinergias”, “criar uma nova dinâmica empresarial” ou “conquistar a liderança” num determinado segmento de actividade, mas simplesmente cortar nos custos através do despedimento de trabalhadores – o que, aliás, costuma ser saudado, de imediato, pelos “mercados”, na sua infinita sabedoria, com um robusto aumento na cotação das acções da empresa “restruturada”. A esta tendência soma-se o facto de os avanços na robotização e na inteligência artificial terem vindo a promover o encolhimento do número de trabalhadores das grandes empresas “tradicionais”, ao mesmo tempo que as novas gigantes do Admirável Mundo Digital, embora movimentem somas fabulosas e sejam campeãs da valorização bolsista, empregam apenas algumas centenas de trabalhadores (ver Que fazer com toda esta gente supérflua?).

Escritório, Grã-Bretanha, 1903
Também parece um contra-senso que as grandes empresas, tão empenhadas em reduzir custos com pessoal e em “espremer” mais rendimento dos seus “colaboradores” e tão relutantes em pagar impostos que gastam fortunas em consultoria para atingir estes desideratos, vão depois dissipar o pecúlio assim conquistado criando postos de trabalhos improdutivos e generosamente pagos. O próprio Graeber reconhece, na pg. 178, que “a realidade de tantas pessoas serem pagas para não fazer nada contraria […] todos os nossos pressupostos sobre como deveriam funcionar as economias de mercado”. Mas defende que os “trabalhos de treta” não só resultam da natureza intrínseca do sistema capitalista como ganharam impulso adicional com o colapso dos regimes socialistas da URSS e da Europa de Leste no início da década de 1990 e com as subsequentes mutações por que passou o capitalismo.
A financeirização da economia
Graeber apresenta várias explicações para sustentar a sua tese:
1) A nível global assistiu-se ao declínio do emprego na agricultura, uma estabilização do emprego na indústria e um enorme crescimento do emprego nos serviços, que foi maior ainda nas nações desenvolvidas, onde o declínio do emprego agrícola foi mais pronunciado e se registou um declínio do emprego industrial, que foi maciçamente deslocalizado para o Sudeste Asiático e outras regiões com mão-de-obra barata. Porém, a componente dos serviços que mais se desenvolveu foi a que no meio económico anglo-saxónico é conhecida como FIRE (“finance, insurance, real estate”: finança, seguros, imobiliário) e os novos postos que foram criados correspondem a “administradores, consultores, empregados de escritório, contabilistas, profissionais de tecnologias de informação e similares […], justamente a área em que proliferam os ‘trabalhos de treta’”.
2) As grandes empresas “dedicam-se cada vez menos a fabricar, construir, consertar ou manter coisas e cada vez mais a processos políticos de apropriação, distribuição e alocação de dinheiro e recursos”. “Se a existência de ‘trabalhos de treta’ parece desafiar a lógica do capitalismo, uma razão possível para a sua proliferação talvez seja a de que o sistema actual não é o capitalismo”, ou, pelo menos, já não é o capitalismo “clássico”, tendo dado lugar a um “sistema rentista”. Graeber dá como exemplo a General Motors, que “não ganha dinheiro na venda de carros mas sobretudo nos juros que cobra pelos empréstimos para comprar carro”.
3) Uma vez que a produção deixou de ser o cerne da actividade destas empresas (e a automação assegura cada vez mais tarefas no processo de produção), a pressão é para extinguir empregos na linha de produção (colarinhos azuis), ao mesmo tempo que se criam empregos supérfluos no sector administrativo (colarinhos brancos, maioritariamente “trabalhos de treta”), com o propósito de rodear os executivos de topo de um séquito que lhes confere uma aura de importância.
4) Ainda assim, como podem as grandes empresas dar-se ao luxo de pagar aquilo que, aos olhos dos colarinhos azuis, são “uns tipos de fato, com títulos pretensiosos, que andam por aí e não fazem nada”? Acontece que – e este é um fenómeno bem comprovado – nos anos após o final da II Guerra Mundial os salários acompanharam o incremento da produtividade, mas a partir do final da década de 1970 as remunerações começaram a ficar para trás e hoje existe um grande hiato entre os dois indicadores.

Evolução da produtividade do trabalho (a azul) e da remuneração (salário base por hora a verde; remuneração total por hora a vermelho) nos EUA entre 1948 e 2017; o gráfico toma como ponto de referência o ano de 1979
A maior parte dos lucros do aumento de produtividade foi, portanto, usada para remunerar o capital, o que explica o extraordinário aumento da riqueza do 1% no topo da sociedade e, em particular, dos mais ricos entre os ricos. Mas, além de ser canalizado para accionistas, investidores e executivos, “outra porção considerável dos benefícios do aumento da produtividade foi utilizada para criar cargos profissionais de gestão totalmente novos e essencialmente inúteis, muitas vezes […] acompanhados por pequenos exércitos de pessoal administrativo igualmente inútil”.

Evolução da produtividade do trabalho, expressa como PIB por hora de trabalho (linhas sólidas) e do salário médio (linhas tracejadas) para os países do G7 (Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e EUA) entre 1990 e 2020; valores em dólares ajustados à paridade do poder de compra
Na verdade, não só a remuneração dos trabalhadores deixou de acompanhar o aumento de produtividade como a desigualdade salarial aumentou, como mostra o gráfico abaixo: o salário médio está cada vez mais distante do salário mediano, o que talvez reflicta a criação de “trabalhos da treta” relativamente bem pagos e a estagnação dos salários, já de si baixos, dos trabalhadores que realmente desempenham tarefas indispensáveis – e que tendem a cair na categoria dos “trabalhos de merda”.
A ascensão do capitalismo de casino
Segundo Graeber, a grande divergência entre produtividade e salários e a proliferação de “trabalhos de treta” são consequência da financeirização da economia. É pertinente sumarizar os principais passos desse processo que ganhou ímpeto na década de 1990 e que foi fortemente potenciado pela desregulação dos mercados financeiros. Esta teve um momento crucial em 1999, com a anulação pelo presidente (democrata) Bill Clinton do Glass-Steagall Act, de 1932, um pacote legislativo que impusera a separação entre os bancos comerciais e os bancos de investimentos e visava evitar a repetição dos fenómenos que tinham conduzido ao crash bolsista de 1929, que estivera na origem da Grande Depressão. Liberto deste freio, os mercados financeiros converteram-se num universo paralelo, assente na especulação e cada vez mais autónomo da economia real.
Entretanto, no Reino Unido, o governo (conservador) de John Major chegara à conclusão, no início dos anos 90, que a melhor forma de salvar a economia declinante do país seria esquecer de vez o outrora pujante sector industrial, que estava em cacos, e fomentar o sector financeiro através do escancarar de portas aos oligarcas russos que tinham tido a astúcia de aproveitar o desmantelamento e venda ao desbarato do sector empresarial estatal da antiga URSS para enriquecer da noite para o dia (Portugal esteve longe de ser o inventor do conceito de “Vistos Gold”). O Reino Unido criou também extraordinárias facilidades para o registo de empresas-fachada e para a circulação de capitais entre a praça financeira londrina e os paraísos-fiscais situados nos seus territórios ultramarinos – com tanto sucesso o fez que, em 2021, três desses territórios (Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caimão e Bermudas) ocupavam os três primeiros lugares do top 10 de “facilitadores da evasão fiscal por grandes empresas” (a que se soma a Ilha de Jersey em 8.º lugar). O Reino Unido converteu-se, assim, no refúgio favorito dos cleptocratas de todo o planeta e Londres, na capital mundial da lavagem de dinheiro.

A City londrina (vista da Tower Bridge) alberga as sedes de algumas das maiores empresas multinacionais e das mais reputadas firmas de consultoria jurídica e financeira
Embora o pretexto para o Brexit invocado pelas elites e assimilado pelas massas tenha sido o “taking back control” e a libertação da “tirania burocrática de Bruxelas” foi, em última análise, para preservar este estatuto privilegiado como “centro de negócios” e “porto de abrigo” que o Reino Unido escolheu sair da União Europeia, cuja regulamentação no domínio financeiro ameaçava tornar-se demasiado restritiva para o gosto dos britânicos e dos seus “clientes” (o que não impede que, no top 2021 de “facilitadores da evasão fiscal por grandes empresas”, a Holanda e o Luxemburgo surjam em 4.º e 6.º lugar, respectivamente).
Entretanto, a criação de formas de transacção bolsista puramente electrónicas, em 1983, e os formidáveis progressos na informática deram extraordinária relevância às transacções de alta frequência (“high-frequency trading” ou HFT), um mecanismo especulativo que emprega algoritmos sofisticados, computadores ultra-rápidos e linhas “expresso” de fibra óptica para tirar partido de desfasamentos de mili-segundos na transmissão de ordens de compra e venda nos mercados bolsistas – em 2009-2010 as transacções de alta frequência atingiram um pico de 60% do total de transacções bolsistas nos EUA e, embora tenham perdido algum protagonismo, ainda representam hoje cerca de metade das transacções totais. Como é regra no capitalismo de casino, as transacções de alta frequência não produzem nada, não geram benefício algum para a sociedade, acentuam a volatilidade dos mercados financeiros e só dão dinheiro a ganhar a um punhado de especuladores (embora nada garanta que esses ganhos não sejam pulverizados nas jogadas seguintes, uma vez que, como num casino, a aleatoriedade reina).
Em 1970, o valor total do mercado bolsista (ou capitalização de mercado) dos EUA representava 13% do PIB, em 2000 atingiu 145% do PIB, em 2020 foi de 195% (ou seja: a economia fantástica é quase duas vezes maior do que a economia real). Nem todos os mercados bolsistas são tão pujantes – o português, em 2020, ficou-se por 37% do PIB – mas existem mercados ainda mais sobre-aquecidos do que o dos EUA, como sejam o da Suíça (266% do PIB) ou o de Hong Kong (1769% do PIB). Mesmo os mais distraídos se terão apercebido da dissociação entre mercados financeiros e economia real durante os confinamentos de 2019, decorrentes da pandemia de covid-19, quando a economia mundial ficou paralisada durante meses, com fábricas, lojas e aeroportos encerrados e consumidores fechados em casa, mas os mercados financeiros batiam recordes de capitalização.
O capitalismo de casino, por não produzir nenhum bem ou serviço útil, por estar divorciado da realidade e por os seus ganhos serem de natureza puramente especulativa, é um caldo de cultura favorável ao crescimento luxuriante de “trabalhos de treta”. E hoje em dia abrem-se novas perspectivas a este sector parasitário, devido ao furor em torno das cripto-moedas. Graeber não as menciona, talvez por em 2018, quando o livro foi publicado, elas ainda não serem mais do que uma “curiosidade”, mas em 2022 há um entusiasmo a raiar a euforia em torno delas (até que bolha especulativa estoire) e há até um país, El Salvador (um Estado falhado e à beira da insolvência), que reconhece uma delas, a bitcoin, como meio de pagamento legal e planeia construir uma cidade utópica, livre de impostos, chamada Bitcoin City. Revoadas de cripto-evangelistas, recém-saídos das “business schools” profetizam que será apenas uma questão de tempo até que todos os Estados e instituições financeiras adiram às cripto-moedas como meio de pagamento, embora nenhum destes profetas explique que função útil desempenham as cripto-moedas que não seja assegurada já pelas moedas “convencionais”, nem como se justifica a promoção entusiástica de moedas cuja “mineração” requer imenso tempo de computador e, logo, grandes emissões de CO2, nem que segurança como meio de pagamento e aforramento pode ser oferecida por um activo caracterizado por uma extrema volatilidade.
Numa primeira fase, os “trabalhos de treta” no ramo das cripto-moedas envolviam apenas quem as “minerava” e quem as transaccionava, mas um artigo no suplemento Economia do Expresso de 28.01.2022 (“PS mantém Portugal como paraíso fiscal para cripto-moedas”) já considerava previsível “a entrada de novos participantes, com a criação de instituições como cripto-bancos, entidades custodiárias, corretoras e gestoras de risco e compliance”, a que se juntarão, à medida que os diversos Estados forem reconhecendo e regulamentando o seu uso, as entidades estatais com a responsabilidade de regular o sector. Ou seja: todo um universo paralelo construído em torno do vazio…

“Il Ridotto”, por Pietro Longhi, década de 1740. O Ridotto, uma ala do Palazzo Dandolo, em Veneza, foi a primeira casa de jogos de azar a ser licenciada na Europa, em 1638
Outro sucesso do hiper-capitalismo parasitário que Graeber não poderia prever em 2018 foi a fulgurante ascensão do mercado de NFTs (“non-fungible tokens” ou “activos não-fungíveis”), que, como as cripto-moedas recorrem à tecnologia “blockchain”. Os NFTs são transaccionados num mercado descentralizado e sem regulação, que é, na prática, uma recauchutagem do velho esquema de Ponzi para “nativos digitais”. Esta moscambilha já alimenta um enxame de agências de “trading” e de “artistas digitais” e é possível que venha também a dar origem a uma constelação de entidades “periféricas”, com os respectivos “trabalhos de treta”.
As cripto-moedas e os NFTs são para os Millennials e para a Geração Z o que as lotarias e a Dona Branca foram para a geração dos seus pais e avós: a oportunidade de enriquecer subitamente, sem trabalho nem talento, e viver dos rendimentos durante o resto da vida. É uma miragem que convém aos poderes estabelecidos, pois enquanto as massas depositarem uma esperança (sempre desproporcionada) nesta possibilidade infinitesimal de se libertarem da penúria não questionarão os mecanismos que a geram e perpetuam.

Salão de jogos Orient Saloon, em Bisbee, Arizona, c.1900
A recompensa do trabalho
Graeber chama repetidas vezes a atenção para o facto de a sociedade tender a pagar mal e tratar ainda pior quem desempenha trabalhos realmente vitais – trabalhadores da recolha de lixo e da limpeza de edifícios e espaços públicos, enfermeiros, bombeiros, condutores de ambulâncias, cuidadores de crianças, idosos e pessoas incapacitadas, trabalhadores agrícolas, repositores de stock e caixas de supermercados, motoristas de pesados, professores de jardins-de-infância – e de remunerar generosamente os “trabalhos de treta”, que a sociedade poderia dispensar. E as leis da oferta e da procura não conseguem explicar isto, pois na maior parte dos países desenvolvidos há, como observa Graeber, “uma enorme escassez de enfermeiros e uma super-abundância de licenciados em Direito”.
Ainda que o valor social das profissões tenha sempre componentes subjectivas e a sua determinação quantitativa envolva necessariamente assumpções e aproximações discutíveis, tem havido alguns estudos a aventurar-se por esse terreno e Graeber cita dois. Um da autoria de Lockwood, Nathanson & Weyl calculou, para diversas profissões nos EUA, a diferença entre o valor que um trabalhador gera para a sociedade e o valor que lhe é pago:
*Investigadores: + 9
*Professores: + 2
*Engenheiros: + 0.2
*Consultores e profissionais de tecnologias de informação: 0
*Advogados: – 0.2
*Publicitários e profissionais de marketing: – 0.3
*Gestores: – 0.8
*Trabalhadores do sector financeiro: – 1.5
Outro, da New Economics Foundation, no Reino Unido, estimou o quociente entre o valor gerado para a sociedade pelo trabalhador e o valor que lhe é pago (entre parêntesis indica-se o rendimento médio anual de cada uma destas profissões, em libras):
*Operário de reciclagem: 12 libras geradas por libra recebida (12.500)
*Trabalhador de limpeza em hospital: 10 libras geradas por libra recebida (13.000)
*Trabalhador de infantário: 7 libras geradas por libra recebida (11.500)
*Banqueiro: 7 libras destruídas por libra recebida (5.000.000)
*Contabilista da área fiscal: 11.2 libras destruídas por libra recebida (125.000)
*Executivo de publicidade: 11.5 libras destruídas por libra recebida (500.000)
O sub-capítulo “A propósito da relação inversa entre o valor social do trabalho e o dinheiro que se recebe por ele” leva em epígrafe uma frase do filósofo grego Epicteto – “A recompensa pelas virtudes reside nas próprias virtudes”, que espelha a forma como a sociedade vê a remuneração daqueles que se dedicam a actividades intelectuais e criativas: uma vez que estas são enriquecedoras e gratificantes para quem as exerce, tal deve ser considerado em si mesmo como um pagamento.
Há aqui que fazer uma ressalva: Epicteto deixou-nos, tal como outros filósofos estóicos da Grécia e Roma da Antiguidade Clássica, preciosos ensinamentos, mas na área do trabalho pouco ou nada há a aprender com eles, já que viveram em sociedades escravocratas e misóginas, que isentavam os homens de uma certa condição social de qualquer tipo de trabalho físico. A sociedade estava assente no trabalho dos escravos, das mulheres e das classes baixas, provia a todas as necessidades da elite intelectual patriarcal e permitia-lhes que se entregassem exclusivamente à reflexão, ao debate de ideias e à criação e fruição artística, pelo que se compreende que Epicteto considerasse dispensáveis compensações adicionais pelo trabalho desenvolvido pelos “pensadores” e “criadores”.
Ora, os “trabalhadores intelectuais” do nosso tempo não gozam dos privilégios dos seus homólogos da Grécia clássica; têm, como qualquer outro cidadão, de obter rendimentos que lhes permitam cobrir as suas despesas quotidianas, mas a sociedade não só tem relutância em conceder-lhes retribuições adequadas, como parece entender que os trabalhadores intelectuais estão moralmente obrigados a prestar serviços à comunidade a título gracioso: os escritores, por exemplo, são frequentemente solicitados para palestras em escolas e bibliotecas, sem que seja sequer aflorada a possibilidade de alguma compensação monetária pelo tempo despendido – um procedimento que nunca uma escola ou biblioteca se atreveria a propor a um técnico de ar condicionado, embora técnico de ar condicionado típico tenha rendimentos anuais várias vezes superiores aos do escritor típico. É também revelador o uso da palavra “dom” para caracterizar as competências dos que se dedicam a actividades intelectuais e criativas: por um lado, pressupõe que o referido talento é inato e natural, esquecendo que por trás da maior parte dos “dons” estão muitos anos de trabalho árduo, disciplina, pesquisa, formação, perseverança, experiências falhadas, escolhas erradas, retornos ao ponto de partida, frustrações e sacrifícios pessoais; por outro lado, presume que, uma vez que Deus ou a genética ou a Grande Lotaria Universal lhes concedeu um “dom”, devem sentir-se gratos por isso e partilhá-lo, a custo zero, com os seus concidadãos menos “dotados”. Curiosamente, este princípio redistributivo não costuma ser usado para persuadir os que têm o “dom” de fazer facilmente dinheiro a reparti-lo entre a comunidade.

Divisão de Classificação e Catalogação dos Arquivos Nacionais dos EUA, 1937
Num dos capítulos mais estimulantes do livro, “Porque é que, enquanto sociedade, não protestamos contra o crescimento do emprego inútil?”, Graeber examina mais aprofundadamente a perspectiva da sociedade sobre o trabalho e a sua remuneração e identifica um ressentimento, de laivos puritanos, contra aqueles que trabalham naquilo de que gostam e que retiram do trabalho realização e enriquecimento interior, como se nisso houvesse algo de pecaminoso.
Graeber aponta uma aparente contradição revelada pela investigação sobre trabalho que tem sido feita ao longo dos séculos XX e XXI: “1) Para a maioria das pessoas, o sentimento de dignidade e de valor próprio está ligado ao trabalho que fazem para ganhar a vida; 2) A maioria das pessoas detesta os seus trabalhos” e apresenta a resolução para o paradoxo: “se o trabalho é uma forma de sacrifício ou abnegação, então é o próprio horror do trabalho que possibilita vê-lo como um fim em si mesmo”. Ora, hoje está profundamente entranhada em todo o mundo desenvolvido a ideia (que Graeber faz remontar a Thomas Carlyle, entre outros pensadores) de que “o trabalho deve ser penoso e o tormento que é o trabalho é, em si mesmo, aquilo que forma o carácter. Dito de outra forma, os trabalhadores logram o sentimento de dignidade e de valor próprio porque odeiam os seus empregos”. Ou, em termos mais crus: “Se não estás a destruir a tua mente e o teu corpo através de trabalho remunerado, não estás a viver como deve ser”.
A crescente preponderância desta visão do trabalho ao longo dos séculos XX e XXI, está espelhada na evolução da ficção audio-visual, argumenta Graeber: enquanto o ócio dos ricos era um dos principais temas dos filmes da primeira metade do século XX e “durante a Grande Depressão nos anos 30, as audiências empobrecidas gostavam de assistir a filmes sobre a alta sociedade que retratavam as escapadelas românticas de playboys milionários”, nos últimos anos multiplicaram-se os filmes e séries televisivas sobre “CEOs heróicos”, com éticas de trabalho obsessivas e que sacrificam amizades, paz de espírito e valores ao sonho de erguer um império empresarial a partir de uma garagem ou de um anexo no quintal da casa dos pais.
Os mártires dos estádios
Graeber não aborda o assunto, mas também a representação dos desportistas nos mass media do século XXI reflecte a sacralização do trabalho e a associação deste à penosidade: quando ingressam num novo clube, os heróis do estádio juram solenemente que irão trabalhar imenso, quando sofrem derrotas prometem, contritos, ainda mais trabalho, quando vencem realçam a preparação exaustiva do jogo e o “espírito de sacrifício”.
Uma coisa é o desporto – entenda-se: o espectáculo desportivo de massas e, mais concretamente, o futebol-espectáculo – estar completamente subjugado ao hiper-capitalismo globalizado e apátrida no plano organizacional e financeiro (ver A febre do futebol parte 2: Bairrismo na era global e O que esta epidemia revelou sobre a esplendorosa indústria do futebol) e ser, cada vez mais, analisado numa óptica de metrificação e produtividade, que leva os comentadores a entreter-se a discutir estatísticas de “percentagem de posse de bola”, “percentagem de acerto de passe”, “percentagem de dribles com sucesso”, “quilómetros percorridos por jogador”, “percentagem de golos por remate”, “número de recuperações de bola no quarto ofensivo do terreno de jogo”. Outra coisa é que o jogo em si mesmo tenha sido expurgado da sua componente lúdica e se tenha convertido num trabalho penoso, de acordo com a ética puritano-capitalista – “saber sofrer” tornou-se na mais exaltada das qualidades e o que deveria ser ocasião para dois grupos de jovens desempenados se alhearem de preocupações e responsabilidades comezinhas e passarem noventa minutos a dar pontapés numa bola converteu-se numa sessão de martírio. Ao menos, no circo romano, enquanto os mártires penavam na arena, os espectadores divertiam-se nas bancadas, mas o público de hoje, contagiado pelo discurso dos jogadores, dos treinadores e dos media, também converteu a sua experiência num “sofrimento”. Tal como Cristo desceu à Terra para resgatar a humanidade dos seus pecados e oferecer-lhe a possibilidade da vida eterna, faria falta um novo Messias que libertasse o desporto do sofrimento e voltasse a convertê-lo num divertimento. Porém, as figuras proeminentes do mundo desportivo tendem a assemelhar-se mais a Judas do que a Jesus.

Jogador de bola decapitado, estela proveniente da estação arqueológica de Aparicio (c.700-900 d.C.), no estado de Veracruz, México. Na América Central pré-colombiana foi popular um desporto/ritual com bola (denominado “pok-ta-pok” ou “pokolpok”), a que, nalgumas culturas e épocas, estava associado o sacrifício (literal) da equipa derrotada
As profundas transformações por que passou o mundo do espectáculo desportivo de massas e, sobretudo, o crescimento desmedido dos volumes de dinheiro por ele movimentados, favoreceram um empolamento das estruturas dos clubes, o que faz despertar a suspeita de que em torno da equipa propriamente dita se terão multiplicado os “trabalhos de treta”. Agora os organigramas dos grandes clubes são tão complexos quanto os de um governo ou de uma empresa multinacional e incluem cargos como “oficial de ligação aos adeptos” e “coordenador de olheiros” (chief scout). É provável que este imenso séquito não tenha outro fito do que fazer o presidente do clube imaginar-se a reencarnação de um Medici ou de um Sforza e criar no treinador a ilusão de que é um condottiere. Porém, estes postos nos clubes-empresa do século XXI dificilmente se conformarão à definição de “trabalho de treta” estabelecida por Graeber, pois é muito provável que, do “oficial de ligação aos adeptos” ao “coordenador de olheiros”, passando pelo “supervisor-adjunto de roupeiros”, todos vejam a sua função como sendo da mais excelsa importância.
A criação artística como tormento
Durante séculos, a vida dos artistas, escritores e pensadores foi marcada pela privação material. Todos terão presentes as histórias de pintores, compositores e escritores de génio que passaram a vida a pedinchar empréstimos a amigos e adiantamentos a patronos, a fugir a credores e a morrer na miséria. Hoje é usual ouvir criadores artísticos a apresentarem-se como vítimas de outra forma de sofrimento: o que os atormenta já não é a falta de dinheiro – geralmente, quem faz este tipo de queixas leva vida burguesa e desafogada – é o próprio acto criativo que, dizem-nos, é um processo excruciantemente doloroso.
Graeber nada diz sobre este suplício, mas ele é, seguramente, merecedor de reflexão, uma vez que seria legítimo presumir que as profissões artísticas e criativas seriam as que escapariam à “maldição” da penosidade e da monotonia que paira sobre quase todas as outras ocupações, que seria um privilégio trabalhar naquilo de que se gosta, que um pintor no seu atelier seria mais livre, realizado e feliz do que um rei no seu palácio, que o acto de criar arte (ou pensamento) seria dos mais jubilantes a que o ser humano poderia aspirar. Mas não, descobrimos agora que também criar é um tormento. E, note-se, as queixas não incidem, sobre episódios efémeros de “bloqueio criativo”, de indecisão sobre a via (estética) a tomar, ou da dificuldade em lidar com o incessante anseio de auto-superação – não, é o processo criativo em geral que nos é descrito como uma tortura.
Como explicar esta nova e inusitada perspectiva? Não é herdeira da concepção Romântica do artista sofredor e cheio de auto-comiseração, mas antes como fazendo parte da presente voga de todos os trabalhos reivindicarem um estatuto de penosidade, como acima se viu com os desportistas – só se o nosso trabalho for desagradável é que temos direito a obter da sociedade recompensas materiais (remuneração) e espirituais (reconhecimento). Mas para lá do “sofrimento” inteiramente postiço, que se fica pela adopção de um discurso socialmente aceite e legitimador (“isto custa-me imenso, portanto devo ser bem pago”), existem dois outros tipos de “tormento criativo” a considerar.
Algum do “sofrimento” tem uma componente genuína – na verdade é menos “sofrimento” do que “dificuldade” e manifesta-se em artistas que não têm vocação nem talento e, por vezes, nem sequer “métier” (o saber-fazer, a capacidade técnica e a experiência associadas a um ofício). Não têm nada para dizer e não sabem como dizer, pelo que é inevitável que estrebuchem durante anos perante a tela em branco ou o écran de computador onde vegeta o romance que já teve duas dúzias de falsas partidas. E de onde veio esta massa de “sofredores”?
Das alterações dramáticas do estatuto do artista ocorridas no século XX. Durante a maior parte da história da humanidade, a esmagadora maioria da população era semi-analfabeta e não tinha conhecimento, dinheiro, tempo ou oportunidade para se interessar por arte, o reconhecimento da produção artística e intelectual pelo conjunto da sociedade era limitado e o artista que não tivesse, além de talento, a sorte de encontrar mecenas na Igreja ou na aristocracia (depois, também na alta burguesia) estava provavelmente condenado a uma vida de míngua.

Franz Schubert, por Josef Abel, c. 1814. Schubert nunca teve dinheiro para comprar um piano. A sua penúria não resultou de falta de trabalho ou inspiração, uma vez que produziu, em apenas 31 anos de vida, 1500 obras – que foram todas compostas em pianos de ocasião ou em casas de amigos
No século XX, tudo mudou: com a ascensão de uma vasta classe média munida de algum tempo livre e algum dinheiro, com o desenvolvimento dos métodos de reprodução e difusão, com a adopção de práticas vindas dos mundos da indústria e do marketing e com a globalização, a arte massificou-se e passou a mover enormes somas, parte das quais foram parar aos bolsos de um número limitado de artistas. Pela primeira vez na história, uma carreira artística de sucesso passou a comportar, não apenas a possibilidade de se viver confortavelmente, como a miragem de poder chegar-se a milionário e ser alvo da adulação das massas em vida (nos artistas de antanho, o reconhecimento alargado soía ser póstumo). Muitos dos que abraçam uma carreira musical não sonham com a vida de Schubert (que nunca teve dinheiro para comprar um piano) ou Satie (que vivia num quartito alugado atafulhado de bricabraque e lixo) mas com a de Kanye West (cuja fortuna está avaliada, em 2022, em 2000 milhões de dólares), Rihanna (1700 milhões), Jay Z (1400 milhões), Andrew Lloyd Webber (1200 milhões) ou Paul McCartney (1080 milhões). Muito poucos dos que enveredam pelas artes visuais quererão partilhar os destinos de Rembrandt, El Greco, Vermeer, Gauguin ou Van Gogh (todos acabaram na penúria), as suas ambições são antes balizadas por Damien Hirst (cuja fortuna estava avaliada, em 2021, em 700 milhões de dólares), Anish Kapoor (700 milhões) ou Jeff Koons (500 milhões).

Primeira de três versões de “O quarto” (1888), representando o quarto alugado em que Van Gogh viveu durante a sua estadia em Arles
Quando este fortíssimo atractivo se combina com a massificação do ensino das artes, o resultado é que multidões sem vocação nem talento, após terem obtido um diploma na área das artes, se imaginem artistas e se sintam obrigados a produzir arte – o que, sendo algo que não lhes é natural, será, inevitavelmente, fonte de consumição. E uma vez que vivemos numa época de extraordinária insuflação do amor-próprio, mesmo o facto de fracassarem repetidamente, ou de não obterem mais do que um sucesso mitigado, ou de nunca ultrapassarem o estatuto de “artista local”, os dissuade de prosseguir com a “carreira” – quem tem hoje a auto-consciência para reconhecer “Fiz o curso de escultura da ESBAL, mas acabei por concluir que não tinha jeito nenhum para aquilo e agora instalo painéis solares”?
Há outra categoria, mais rara, de artistas “atormentados”: os que se julgam investidos de uma missão messiânica. Vêem a sua arte como revelação e dádiva à humanidade e o seu papel como o de intermediário ou instrumento de um poder superior (gostam de dizer que não sabem quem lhes escreve os livros ou pinta os quadros), pelo que tratam de embrulhar o seu acto criativo em “gravitas”, mistério e mortificação. São os Cristos e Prometeus do nosso tempo e também eles são (metaforicamente) sujeitos a flagelação seguida de crucifixão ou acorrentados a um rochedo para que uma águia dilacere o seu fígado (em Portugal, o exemplo mais notório desta estirpe de torturados é António Lobo Antunes).

Prometeu agrilhoado, por Nicolas-Sébastien Adam, 1762
As duras penas dos aristocratas
A concepção puritano-capitalista do trabalho até já tomou conta do antigo paradigma da inutilidade pomposa e do ócio requintado que são as famílias reais. Dantes, estas eram avidamente seguidas pela populaça e pelas revistas de celebridades por causa das suas mansões, dos seus hobbies, dos seus iates, das suas colecções de automóveis, das suas caçadas, dos seus flirts, das suas festas e bailes, das suas férias (na Riviera, em Formentera, em Chamonix, em Capri) e pelos chapéus extravagantes que levavam às corridas de cavalos; agora são representados como rivais dos heróis do trabalho socialista, paradigmas do stakhanovismo beneficente, com agendas sobrecarregadas e ritmos de trabalho infernais. Graeber comenta que, hoje em dia, os jornais e revistas da Grã-Bretanha se esforçam por dar ideia de que “a família real […] passa tantas horas a preparar e a realizar as suas funções rituais que mal tem tempo para a vida privada”.
Em 2017 foi notícia que o príncipe Filipe, esposo de Isabel II e Duque de Edimburgo, se iria reformar, uma vez que os seus 95 anos de idade já não lhe permitiam suportar as pesadas obrigações que sobre ele recaíam – o comunicado oficial destacava entre elas apenas a presidência de 780 (setecentas e oitenta) instituições de caridade, mas qualquer pessoa com alguma sensibilidade é capaz de imaginar o que representa o fardo de passar 70 anos a descerrar placas, a cortar fitas, a assistir a jogos de críquete e paradas militares, a integrar o júri de um concurso canino em Morpeth, a condecorar um bombeiro de Storrington que resgatou um gato de cima de uma árvore, a entregar os prémios do concurso “Vaca Hereford do Ano”, a almoçar com o cônsul de Tuvalu em Slough…

A rainha Isabel II e o príncipe Filipe assistem a uma parada militar em Londres, Junho de 2015. Usar um chapéu daquele em pleno Verão é, seguramente, um suplício
Em Maio de 2020, a Flash! anunciava, sob o angustiante título Alarme na Coroa britânica! Kate Middleton está exausta e à beira do esgotamento, que a Duquesa de Cambridge, assoberbada pelo “confinamento, a responsabilidade de cuidar dos três filhos e o aumento do trabalho provocado pelo abandono dos duques de Sussex” estava perto do “limite”.
A reputada jornalista Tina Brown, que já esteve à frente de revistas como a Vanity Fair, The New Yorker, Newsweek e The Daily Beast e é uma especialista em coscuvilhices sobre a casa real britânica, apresentava há dias, numa entrevista (ver Os Sussex “são uma ferida aberta na Monarquia”), a princesa Diana como tendo conquistado a celebridade com trabalho árduo, carisma e sofrimento, reprovava a Duquesa de Sussex por se ter esquecido de “que durante 16 ou 17 anos Diana trabalhou como um cão dentro da família real a fazer muitas tarefas monótonas” e realçava como Diana tinha pegado no seu “sofrimento e tornou-o no seu trabalho extraordinário, que era real e importante”.
A difusão desta nova imagem da realeza produz efeitos “pedagógicos”: como podem os simples plebeus rebelar-se contra trabalhos penosos e monótonos se também as duquesas e princesas a eles estão condenados? E como pode um súbdito britânico opor-se ao previsto aumento, em 2028, da idade de reforma para os 67 anos, quando os príncipes trabalham até aos 95?
O trabalho e a vida dos cães
A expressão “trabalhar como um cão” (que tem equivalente em inglês, “work like a dog”. e em espanhol, “trabajar como un perro”), usada para exprimir a aplicação stakhanovista da princesa de Gales, merece reflexão. É difícil perceber a sua origem, já que, entre os animais que o homem domesticou, o cão está longe de ser aquele que teve de carregar o fardo mais pesado (tal primazia cabe a jumentos, mulas, cavalos, bois e camelos). A função mais frequente do cão, o de guarda, requeria apenas dormitar com uma orelha arrebitada e somente os cães de trenó, os cães pastores e os cães de caça tinham uma “agenda” preenchida (sobretudo os primeiros). Ao longo do século XX, ao mesmo tempo que a população de cães domésticos crescia astronomicamente, os usos acima mencionados foram declinando e a função dominante do cão passou a ser a de fazer companhia ao dono (ou “tutor”, como agora se diz) e é provável que as pressões dos grupos e partidos animalistas acabem por interditar a “exploração laboral” de cães no pastoreio e na caça (já tentam, activamente, fazê-lo nos trenós).
A presente condição da esmagadora maioria dos cães no mundo desenvolvido poderá ser assim caracterizada: bem alimentados (melhor do que muitos humanos nos países menos desenvolvidos); a salvo de predadores; protegidos das intempéries, supimpamente instalados (os catálogos de mobiliário canino são deslumbrantes) e, se necessário, agasalhados (a fashion canina conhece tempos gloriosos); meticulosamente desparasitados e higienizados; proibidos de consumar instintos procriadores (a esterilização tornou-se prática corrente); confinados durante a maior parte do dia a espaços fechados desprovidos de estímulos; sujeitos a regras arbitrárias e, para eles, incompreensíveis (não ladrar, não roer chinelos, não despedaçar almofadas e sofás, não morder as visitas, não fazer necessidades quando e onde lhes aprouver); os breves momentos ao ar livre são controlados com trela curta e mais regras arbitrárias (não perseguir gatos, não fossar no lixo, não investigar os irresistíveis dejectos dos seus semelhantes). Em resumo: vidas confortáveis, seguras, esvaziadas de propósito e sentido e preenchidas por um tédio infinito. Esta experiência existencial não poderia estar mais longe da expressão “trabalhar como um cão”, mas poderá ser reconhecida por quem desempenha “trabalhos de treta” – pelo menos por aqueles que não estão tão entorpecidos e acomodados que não se dão conta da sua triste condição.
O ancestral pacto entre homens e lobos renegados parece ter sido benéfico para os segundos no que respeita à sua perpetuação: 15.000 anos depois, na maioria dos países desenvolvidos, os outrora numerosos lobos estão hoje reduzidos a escassas dezenas ou centenas de exemplares ou desapareceram completamente (é o que acontece em boa parte da Europa), enquanto os lobos renegados que trocaram a liberdade pela comida a horas fornecida por um amo são hoje 900 milhões (ver Há animais mais iguais do que outros?).
E o que leva tantas pessoas a sujeitar-se aos “trabalho de treta? Geralmente a resposta é “porque precisa dele para pagar as contas e não encontra alternativas melhores”, mas Graeber adianta outras razões para explicar que não se despeçam: “algumas pessoas odeiam as suas famílias ou acham a vida doméstica tão stressante que agradecem qualquer desculpa para evitá-la. Outros simplesmente gostam dos seus colegas de trabalho e da camaradagem”. Por outro lado, “a maioria da classe média [passa] tanto tempo no trabalho que mantém poucos laços sociais fora dele”, pelo que a vida do escritório assume um papel central no seu mapa emocional.
A ideia de que há pessoas que levam, fora do horário de trabalho, vidas tão pobres e insatisfatórias do ponto de vista emocional e intelectual que o “trabalho de treta” até não se lhes afigura assim tão insuportável é ainda mais deprimente do que o próprio facto de os “trabalhos de treta” estarem a alastrar.
Uma barganha faustiana: autonomia por dinheiro
Graeber não aborda directamente no livro a questão da autonomia no trabalho, embora se compreenda que 300 páginas sejam insuficientes para cobrir todas as facetas de um tema tão vasto e complexo. Vários estudos têm demonstrado que o facto de o trabalhador possuir autonomia e capacidade de decisão sobre o modo e o ritmo como executa o seu trabalho torna este mais gratificante (ou, pelo menos, menos detestável), mas esse “privilégio” tem vindo a ser retirado a quem trabalha por conta de outrem e a maior parte dos grandes empregadores – nomeadamente o Estado – parecem empenhados, em nome da produtividade, da meritocracia, de “um campo de jogo perfeitamente nivelado” e da prevenção de conflitos potenciais, em reduzir o trabalhador a uma peça na engrenagem, privado de iniciativa, reduzido a executar sem discutir o que determinam os seus superiores hierárquicos e a cumprir horários rígidos e regras obtusas e arbitrárias. O que é trágico é que, nalguns casos, esta situação resultou não só da pressão dos empregadores como da anuência dos trabalhadores e sindicatos na assinatura de sucessivos pactos que alienaram a sua autonomia, o seu livre-arbítrio e até a sua dignidade em troca de melhores remunerações (dinheiro) e condições de progressão na carreira (mais dinheiro).
Em Portugal, nenhuma outra profissão atesta melhor este calamitoso “trade-off” do que a de professor, que, em tempos, foi uma profissão com prestígio social, apreciável grau de autonomia e com a componente gratificante de contribuir para converter crianças em cidadãos – alguns do que a abraçavam, viam-na menos como um ganha-pão do que como uma nobre missão. Hoje está convertida num emprego burocrático, mecânico, esvaziado de poder disciplinar efectivo, cerceado por uma infinidade de regras, balizas e “objectivos”, atascado em reuniões e formulários, sujeito a constantes interferências de pedagogos com vocação experimentadora e de encarregados de educação impertinentes, que alimentam expectativas irrealistas quanto ao desempenho escolar dos seus rebentos e estão convictos de que eles rebentos têm sempre razão. Sem surpresa, a profissão deixou de ser valorizada pela sociedade e, para cúmulo, a sua remuneração, que em tempos foi relativamente generosa (para os padrões portugueses), foi lentamente erodida e está hoje longe de pagar as arrelias e canseiras associadas ao mister (no caso de professores deslocados e a quem foi atribuído horário parcial fica mesmo abaixo do nível de subsistência), de forma que não é de espantar que muito poucos jovens manifestem interesse em tornar-se professores do ensino básico e secundário e o espectro da escassez de professores tenha passado a ensombrar os debates sobre ensino (ver “Exigimos respeito”, em “A eutanásia mata” e outros 9 slogans letais). Um estudo sobre saúde psicológica e bem-estar no ensino básico e secundário, encomendado pelo Ministério da Educação e divulgado em Maio de 2022, revelou que “entre os professores, cerca de metade apresenta sinais de sofrimento psicológico a exigir atenção”, com cerca de 1/3 a queixar-se de que, pelo menos uma vez por semana, experimentam “tristeza”, “irritação ou mau humor”, “nervosismo” e “dificuldade em adormecer”, e 13% a sentir “uma tristeza tão grande que parece que não se aguenta” (o mero facto de esta opção ter sido incluída no inquérito é sintomática da atmosfera vivida nas escolas portuguesas).
Como se chegou a este estado de coisas? Por um lado, resultou da pressão de um Ministério da Educação cujo objectivo primordial é fazer boa figura nas avaliações internacionais e cuja obsessão com centralização, controlo e padronização só deve ter rival na Coreia do Norte, mas contou com a colaboração da própria classe e seus representantes sindicais, para quem os assuntos “remunerações” e “carreiras” sempre foram (e continuam a ser) o alfa e o ómega das reivindicações.
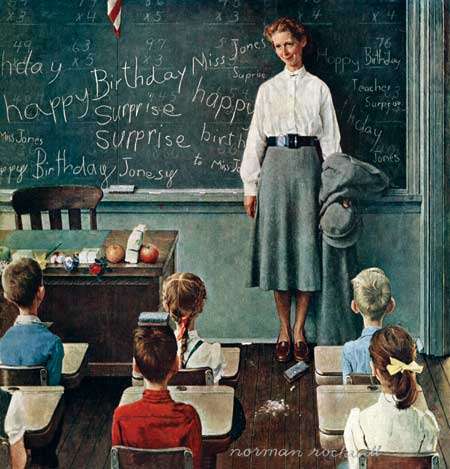
“Happy birthday, Miss Jones”, ilustração de Norman Rockwell para a Saturday Evening Post de 17 de Março de 1956, inspirada numa professora marcante na juventude de Rockwell
Mas, se há muitos professores e enfermeiros cujo trabalho os deixa à beira da exaustão psicológica, também há na função pública, sobretudo nos departamentos ou divisões que não tenham de lidar directamente com o público ou que não providenciem serviços essenciais, remansos de ociosidade e torpor, em que o momento mais excitante do ano é a marcação do mapa de férias. É nestas águas paradas que florescem os “trabalhos de treta”, que os acomodados encaram como uma bênção, mas que são frustrantes para os que têm espírito mais crítico e inquisitivo – estes último são fáceis de reconhecer, pois o seu tema de conversa favorito é relatar, com minúcia burocrática, quão improdutiva, estúpida, arbitrária, debilitante e destituída de sentido é a sua jornada laboral.
Todavia, mesmo os segundos raramente consideram a possibilidade de sair da função pública – o “emprego para a vida” e a ADSE oferecidos pela função pública são preciosos num país de economia débil e volátil e em que as listas de espera no Serviço Nacional de Saúde são intermináveis – ou pedir transferência para outro departamento ou instituição – dada a disseminação dos “trabalhos de treta” na “máquina do Estado”, corre-se o risco de saltar da frigideira para cair no fogo – e quando chega a altura de fazer reivindicações ou greves não se ouvirá nenhum deles clamar por “mais autonomia”, apenas repetirão a exigência de “melhores salários”. Também eles, à sua maneira, estão condenados a vegetar no fundo de um poço (um poço seco e higiénico, amiúde com ar condicionado e cadeiras ergonómicas) onde se deixaram encurralar e que, nalguns casos, eles mesmos ajudaram a escavar. Passados 150 anos, permanece válido este trecho de Eça de Queirós, em As Farpas, de Janeiro de 1872: “O País [emprega-se] nas secretarias. São salas onde homens tristes escrevem em papel almaço ‘Il.mo e Ex.mo Sr.’ – para poderem jantar”; a diferença é que, entretanto, as “secretarias” se abriram às mulheres.
Cabe ainda referir que é frequente que estes poços se convertam em poços de serpentes: a conjugação de tempo livre, frustração e a garantia de “emprego para a vida” é favorável ao desenvolvimento de uma atmosfera de intriga, azedume, inveja e rancor no interior de organismos ou departamentos dominados por “trabalhos de treta”. Há quem entenda que, uma quezília interminável, mesquinha e inconclusiva é preferível ao tédio mortal de um “trabalho de treta” e, bem vistas as coisas, ninguém alguma vez foi expulso da função pública por infernizar quotidianamente a vida de colegas e subordinados.
“Trabalhos de treta” e redes sociais
Graeber atribui ao número crescente de “trabalhadores de treta” a “principal razão para a ascensão das redes sociais”: estando fechados em escritórios, providos de computadores e acesso à Internet, sem tarefas exigentes ou prementes para executar, mas necessitando de manter a aparência de estar a trabalhar, houve milhões de pessoas que ter ao descoberto um escape nas redes (ditas) sociais.
A argumentação é plausível e os “trabalhadores de treta” poderão ter contribuído, numa fase inicial, para popularizar as redes (ditas) sociais – por volta de 2010, a percepção de que, nalguns organismos públicos portugueses, haveria um apreciável número de funcionários a gastar nelas parte da jornada laboral (nomeadamente no FarmVille, um jogo associado ao Facebook) levou alguns dirigentes (sobretudo presidentes de autarquias) a solicitar aos técnicos de informática o bloqueio do acesso dos funcionários a estas plataformas. Porém, as redes (ditas) sociais rapidamente se alargaram aos mais variados estratos etários, laborais e sociais e tornaram-se algo bem mais absorvente e central na vida das pessoas do que um expediente para matar o tempo num emprego chato; e com o advento dos smartphones e a possibilidade de, com eles, se navegar na Internet tal como num computador, dissolveu-se o (eventual) vínculo entre redes (ditas) sociais e “trabalhos de treta” postulado por Graeber.
Num livro cujo assunto é o trabalho, ficou por destacar uma genial inovação trazida pelas redes (ditas) sociais: o fluido vital destas redes, os conteúdos, são da exclusiva responsabilidade dos próprios utilizadores, que acumulam os papéis de “produtores” e “consumidores”, deixando os rendimentos (publicidade e venda de dados pessoais para fins comerciais e políticos) integralmente para as entidades que detêm as redes. Não é de estranhar que o valor de mercado das redes (ditas) sociais tenha sido estimado, em 2019, em 193.000 milhões de dólares (muito perto do PIB de Portugal) e que a taxa anual de crescimento estimada para os próximos anos seja de 25%, o que fará com que em 2026 o seu valor de mercado atinja 940.000 milhões de dólares.
Ciência de treta
Graeber dedica alguma atenção à proliferação de “trabalhos de treta” no ensino superior, especificamente no caso dos EUA. As universidades americanas viram os seus quadros de pessoal dilatar-se entre 1985 e 2005, mas enquanto o crescimento do corpo docente (50%) se limitou a acompanhar o crescimento do número de alunos (56%), o aumento do número de administradores e de pessoal administrativo foi, respectivamente, de 85% e 240%, e foi maior nas universidades privadas do que nas públicas, contrariando o estereótipo “sector público perdulário vs. sector privado eficiente”. Graeber explica esta disparidade entre universidades privadas e públicas por as primeiras serem “criaturas do mundo empresarial”, copiando deste a tendência para criar “trabalhos de treta”. A inundação do meio universitário pelo “trabalho de treta” foi tão avassaladora, que a multiplicação do pessoal administrativo e dos administradores não é suficiente para lhe dar vazão, de forma que os professores também viram o seu trabalho “tetrificado” e gastam hoje muito do tempo que deveriam consagrar ao ensino e à investigação a preencher formulários.

Universidade americana, décadas de 1930-40
Apoiando-se no livro The fall of the faculty, de Benjamin Ginsberg, Graeber defende que as universidades conseguiram, durante séculos, manter um elevado grau de autonomia, baseado no princípio medieval das guildas, de que “só os envolvidos numa certa forma de produção – fosse ela alvenaria, luvas em couro ou equações matemáticas – tinham o direito de organizar o seu próprio trabalho”. Porém, na década de 1980, os administradores “tiraram o controlo ao corpo docente e orientaram a própria instituição para fins inteiramente distintos. Nas maiores universidades, é agora prática comum publicarem-se ‘documentos de visão estratégica’ que poucas referências fazem ao trabalho académico ou ao ensino, mas que se alongam em considerações em torno da ‘experiência do estudante’, a ‘investigação de excelência’ (obtenção de bolsas), a colaboração com o mundo dos negócios ou o governo, e por aí adiante”.
Graeber deixa de fora a possibilidade de a proliferação do “trabalho de treta” na academia não se circunscrever aos administradores e pessoal administrativo: será que uma parte apreciável da actividade de investigação não é também classificável como “treta”? Em O que os números escondem, Tim Harford dá exemplos de meta-estudos – estudos que analisam um grande número de estudos científicos sobre um mesmo tema, de forma a avaliar o pendor geral das conclusões e o grau de divergência entre elas – que sugerem que boa parte da investigação não serve para nada. Num deles, Brian Nosek, tomando como ponto de partida uma centena de estudos de psicologia, concluiu que em apenas 39 produziram resultados que foram replicados por estudos subsequentes, o que significa que os restantes não resistiram ao escrutínio e as suas conclusões não têm, portanto, valor. Harford tece várias considerações – que seria extemporâneo reproduzir aqui – sobre as razões para esta fraquíssima taxa de sucesso e conclui que ela resulta de várias pressões: “os jovens investigadores têm de ‘publicar ou perecer’, porque muitas universidades utilizam os registos de publicação como uma base objectiva para decidir quem deve ser promovido ou receber bolsas de investigação […][Já] os grandes investigadores têm tendência para publicar muitas investigações que são amplamente citadas por outros. Mas assim que os investigadores são recompensados pela quantidade e proeminência da respectiva investigação, começam a procurar maneiras de maximizar as duas coisas. Os incentivos perversos assumem preponderância. Se temos um resultado que parece passível de publicação, mas padece de fragilidade, a lógica da ciência diz-nos que devemos tentar refutá-lo. Mas a lógica das bolsas académicas e das promoções diz-nos que devemos publicar de imediato”. Graeber comunga da perspectiva de que a competição por financiamento é um entrave ao progresso: “uma das razões principais para a estagnação tecnológica das últimas décadas é o facto de os cientistas passarem ainda muito do seu tempo a lutar uns com os outros para convencer potenciais financiadores de que já sabem o que vão descobrir”. Resta saber se, no lugar de “ainda”, não seria mais próximo da realidade escrever “cada vez mais”…

Capa da revista Science & Invention, Novembro de 1928
A mais célebre denúncia da fraca qualidade de boa parte da investigação científica (é, pelo menos, o texto mais acedida na plataforma PLOS/Public Library of Science, com mais de 3 milhões de visualizações) seja o artigo “Why most published research findings are false?” (“Porque a maioria das descobertas de investigação publicadas são falsas?”), publicado em 2005 pelo meta-investigador John Ioannidis; o artigo aborda o problema da baixa taxa de replicabilidade em estudos médicos – que calculou como sendo de cerca de 50% – e identifica os erros que mais contribuem para resultados falsos.
Note-se que “falso” não significa, neste contexto, que os procedimentos e medições foram deliberada e flagrantemente manipulados de forma a obter um resultado conveniente (para a carreira do investigador ou para uma empresa interessada na certificação e comercialização de um dado fármaco), apenas que houve uma falta de rigor, um desleixo, uma acumulação de pequenos enviesamentos que produz um resultado sem validade – estamos mais no domínio da sonsice, da frouxidão intelectual e do “deixa andar” do que da fraude propriamente dita.
A ser verdade que 39 ou 50% dos estudos não produzem resultados replicáveis já estaríamos perante um panorama desconsolador, mas a realidade é bem mais lúgubre: nada nos garante que os estudos que produziram resultados válidos do ponto de vista do cumprimento das regras do método científico e da estatística, sejam um contributo válido para o conhecimento científico e para a sociedade. Não se trata aqui de pôr em causa a investigação básica (ou pura ou fundamental) por contraposição à investigação aplicada (a que visa desenvolver soluções para problemas concretos), apenas de realçar que muita investigação acaba por não ser nem “pura” nem “aplicada”, é um dispêndio de tempo e recursos que carece de propósito e sensatez e compraz-se com ninharias e bizarrias que espelham as limitações intelectuais de quem a pratica e apenas servem para “fazer curriculum”. Todos os anos temos uma amostra desta “investigação de treta” por ocasião da atribuição dos Prémio IgNobel, mas há que considerar que os premiados são apenas uma minúscula fracção (a mais colorida, folclórica, grotesca e risível) de uma vasta massa de estudos absolutamente cinzentos, baços e improdutivos que enxameiam as publicações científicas (sobretudo as mais obscuras e com critérios de selecção mais frouxos). Estes “estudos de treta” produzem num leitor analítico e atento uma reacção do tipo “Muito bem, o seu estudo encontrou uma correlação entre o índice de obesidade da classe política de um país e o nível de corrupção desse país. E depois?” ou “Vejo que apuraram que o orgasmo pode ser tão eficaz como um descongestionante nasal na facilitação da respiração. Têm recomendações concretas a fazer a quem costuma ter o nariz entupido?” (nota: ambos os exemplos são reais e foram distinguidos em 2021 com o Prémio IgNobel, nas áreas da Economia e da Medicina, respectivamente).
Será que estes estudos falsos ou inúteis podem ser considerados “trabalhos de treta”? Se nos cingirmos estritamente à definição de Graeber, não, uma vez que será raríssimo que, no meio académico, alguém admita que as suas investigações são inconclusivas, enganadoras, insubstanciais, inconsequentes ou falsas. É um mundo de feroz rivalidade, onde não há falta de egos insuflados, em que ninguém dá parte de fraco e mesmo quem não tenha produzido um estudo replicável em toda a carreira se pavoneia como se fosse uma luminária da Ciência, um potencial candidato a um Prémio Nobel. A competição por bolsas e promoções na carreira é cerrada e tende a afastar os tíbios, os que cultivam a auto-irrisão e os que, simplesmente, não sabem “promover-se”. E como também os magníficos reitores, vice-reitores e pro-reitores e administradores das universidades sabem que a posição nos rankings internacionais, o prestígio e o financiamento da sua instituição dependem, não dos contributos efectivos para o progresso científico, mas dos indicadores “n.º de estudos publicados” e “n.º de citações obtidas por cada estudo”, acabam por nada fazer para tentar melhorar a qualidade da investigação e incentivam a que se aumente a cadência de produção de estudos, pressão que tem o inevitável resultado de fazer baixar ainda mais a sua qualidade ou utilidade.
Artes de treta
As artes e, mais especificamente, as “indústrias criativas” também não escapam à proliferação de “trabalhos de treta”. Graeber dá o exemplo das artes visuais, onde ganhou protagonismo “uma classe completamente nova de gestores intermédios chamados curadores, cuja função de instalação do trabalho dos artistas é agora considerada como tendo valor e importância idênticos à própria arte”. Esta mudança nada tem de surpreendente, já que o mundo das artes visuais há muito que está convertido numa ramificação do capitalismo especulativo, só que o bem transaccionado não são acções e títulos da dívida pública mas quadros, esculturas e instalações.
No cinema & televisão, que, desde a origem, foi o sector criativo mais contaminado pela lógica capitalista (dados os muitos recursos necessários para produzir um filme ou um programa televisivo), registou-se nas últimas décadas uma “sub-enfeudação administrativa, que engendrou um conjunto assustador de produtores, sub-produtores, produtores executivos, consultores e similares” – processo que coincidiu, aproximadamente, com a entrada em vigor do conceito de “indústria de conteúdos”. A densa teia de tontos com cargos providos de títulos pomposos que intervêm hoje no processo de criação de um filme acaba por distorcer e desvirtuar qualquer conteúdo válido que pudesse existir na ideia original e Graeber sugere que “uma razão para a mediocridade deslavada ou até a pura incoerência de tantos guiões do cinema [comercial] contemporâneo reside no facto de cada um destes supra-numerários teimar geralmente em alterar uma linha ou duas, apenas para poder dizer que teve alguma influência no resultado final” – acontece que “a maioria [destes intervenientes] está armada com um MBA em Marketing e Finanças, mas não sabe praticamente nada sobre a história e aspectos técnicos do cinema ou da televisão”. Foi assim que a “indústria criativa” entrou em crise de criatividade e “desembocou num jogo labiríntico de auto-promoção em que podem passar anos até que um projecto seja finalmente aprovado”. Uma vez que, na estrutura hierárquica da indústria ninguém faz ideia do que pretende, excepto que o novo projecto seja um sucesso comercial (devendo o “novo” ser interpretado no sentido de “uma nova Guerra dos Tronos”, ou “uma nova Casa de papel” – isto é: a replicação de uma fórmula) e há demasiada gente ociosa e ignorante que acha que precisa de deixar a sua marca no “produto” para justificar o seu salário e o seu estatuto, é frequente que guionistas e realizadores sejam constantemente bombardeados com instruções contraditórias e incongruentes. O resultado costuma ser (filmicamente) indigente, mas desde que os filmes tenham actores famosos, explosões espectaculares, agitação frenética, perseguições a velocidade vertiginosa e efeitos especiais mirabolantes, o público nem se apercebe e as receitas de bilheteira e as audiências continuam a ser robustas.

“A roda do tempo”, uma tentativa de capitalizar o sucesso de “A guerra dos tronos” e um exemplo da “mediocridade deslavada” que domina a produção audio-visual de massas
Como nota final, cabe referir que é muito pouco provável que a maioria dos “supra-numerários” se vejam a si mesmos como os zangões da indústria de conteúdos – pelo contrário, alguns até estarão convencidos de que o seu contributo para o “produto final” é tão importante quanto o dos guionistas ou do realizador – o que invalidaria a sua arrumação nos “trabalhos de treta”, se seguirmos à risca a definição de Graeber.
O trabalho na era do machine learning e dos algoritmos
Os futurólogos – de obscuros escritores de ficção científica a reputados economistas – passaram o século XX a prometer ao cidadão comum uma vida de ócio e prosperidade, em boa parte graças à crescente robotização dos processos produtivos e das tarefas domésticas. Chegados ao século XXI, temos robots e inteligência artificial por todo o lado, temos electrodomésticos inteligentes e casas inteligentes, que comunicam entre si e connosco através da Internet das Coisas, assistentes virtuais que nos recordam de uma consulta no dentista e regulam a temperatura ambiente à ordem de um comando de voz, gadgets que nem os escritores de ficção científica foram capazes de antever e uma panóplia de apps no nosso telemóvel para todos os propósitos imagináveis. Todavia não se vêem no horizonte sinais da semana de trabalho de 15 horas prevista por John Maynard Keynes em 1930, e menos ainda a de 12 horas prevista por Alvin Toffler na década de 1970; os Governos dos países desenvolvidos têm vindo a empurrar para a frente a idade de reforma; os “trabalhos de merda” não desapareceram e continuam a ser mal pagos; e os “trabalhos da treta”, que são mais bem remunerados mas são espiritualmente corrosivos, vão multiplicando-se.
Os robots e a inteligência artificial suprimiram muitos emprego industriais monótonos e de baixa qualificação e irão suprimir muitos mais, mas também muitos empregos qualificados que, em tempos, exigiam discernimento e mãos humanas, irão ser engolidos pelas máquinas. Governantes e abalizados comentadores e futurólogos aconselham os jovens a tirar mestrados e doutoramentos, mas, ironicamente, as áreas em que as máquinas não têm dado mostras de conseguir (para já) substituir os humanos são nas tarefas “pouco qualificadas”, penosas e, por vezes, sujas, que a sociedade se recusa a remunerar condignamente: jardinagem, a maior parte dos trabalhos agrícolas e florestais, limpeza de casas, escritórios e espaços públicos, preparação de comida em cantinas e restaurantes, enfermagem, cuidar de crianças, idosos e incapacitados. É mais fácil criar máquinas capazes de fazer pesquisa de mercados, de identificar malformações cardiovasculares e indícios de pneumonia em exames de raios-X ou de operar cataratas, do que de manter um canteiro de crisântemos, colher framboesas, limpar uma casa de banho ou mudar uma fralda (ver Que fazer com toda esta gente supérflua?).
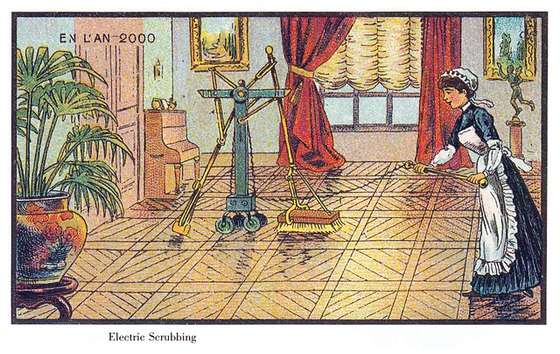
Em 1899, era assim que se imaginava como seria a automação da limpeza doméstica no ano 2000. Ilustração por Jean-Marc Côté
Nos anos mais recentes, o tipo de trabalho que teve crescimento mais rápido não foram os “trabalhos de treta” nem os “trabalhos de merda” tradicionais, mas sim os “trabalhos de plataforma digital”. Estes trabalhadores, que o mundo anglo-saxónico designa por “gig workers” (biscateiros) e o mundo francófono por “travailleurs de plateforme”, prestam serviços através de uma plataforma digital que serve de interface com os clientes. Os serviços que até agora têm dominado este novo sector de actividade são o transporte de pessoas e as entregas de encomendas ou refeições e são estas áreas que concentram as plataformas mais conhecidas: a Uber (e a sua subsidiária Uber Eats), a Glovo, a DoorDash, a Lyft, a Deliveroo, ou a Grubhub, mas também há plataformas especializadas na prestação de cuidados de saúde, limpeza e outras tarefas domésticas, serviços jurídicos, programação, formação e educação, babysitting – no limite, não existem serviços que não possam ser providenciados através deste tipo de interface (talvez na DarkNet também existam plataformas para contratar assassinos profissionais ou para promover campanhas de difamação sobre o/a ex-cônjuge ou namorado/a).
Embora o estatuto dos “trabalhadores de plataforma” possa assumir diversas formas, a maior parte são trabalhadores por conta própria, remunerados estritamente em função das tarefas que executam, sem férias pagas e sem direito a baixa por doença, acidente ou gravidez ou outras formas de protecção social correntes nos trabalhos por conta de outrem.

Entregador ao serviço da Glovo, empresa fundada em Barcelona em 2015
O nome de uma destas empresas, Amazon Flex (uma plataforma de entregas criada pela Prime Now, uma subsidiária da Amazon), revela o principal aliciante com que este tipo de empresas acena ao trabalhador: flexibilidade. Numa situação típica, o “trabalhador de plataforma” examina a proposta de tarefa apresentada pela plataforma digital e escolhe aceitá-la ou não, consoante a remuneração, a distância a percorrer, os riscos e despesas envolvidas, a restante agenda de entregas, os seus compromissos pessoais, o seu nível de energia física e mental e a sua necessidade de dinheiro. Sob a aparente oferta de flexibilidade e liberdade ao trabalhador, esta invenção do hiper-capitalismo cibernético permite à empresa que criou e opera a plataforma eximir-se completamente de responsabilidades laborais e até furtar-se a alguma obrigações fiscais: ela apenas criou um sistema de algoritmos e uma app que coloca clientes e prestadores de serviços em contacto. Todavia, alguns países (e estados dentro de países) têm vindo a impor (ou a tentar impor) às empresas que gerem estas plataformas a assumpção de algumas responsabilidades para com os “trabalhadores de plataforma”, ou até mesmo a reconhecê-los formalmente como trabalhadores assalariados, com os encargos daí decorrentes.
Intrigantemente, Graeber não dá atenção aos “trabalhos de plataforma digital”, ainda que estes se tenham tornado num dos mais relevantes fenómenos no presente mundo laboral, envolvendo cerca de 10% (a maioria a tempo parcial) da população activa dos países desenvolvidos e até 36% nos EUA (dados de 2020). O volume de negócios a nível global foi de 204.000 milhões de dólares em 2018 e estima-se que atinja 455.000 milhões de dólares em 2023.
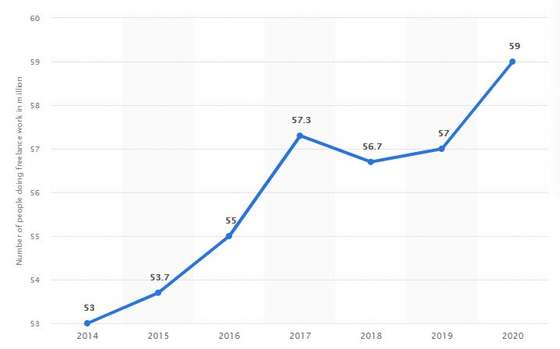
Evolução do número de pessoas (em milhões) que executam trabalhos freelance nos EUA, 2014-20
Podem ser vistos como um ramo digital dos “trabalhos de merda”, uma vez que tendem a ser penosos, mal pagos, precários e com poucas ou nenhumas regalias, mas úteis à sociedade. Há quem veja os “trabalhadores de plataforma digital” como uma nova estirpe de proletários, mas a muitos deles nem sequer assenta bem tal designação, já que a palavra “proletário” tem origem no latim “proletarius”, que designava a classe mais baixa da sociedade da Roma antiga, que estava isenta de impostos, por não possuir bens ou propriedades, e tinha como único contributo para com a sociedade a produção de filhos (prole). Ora, muitos dos “trabalhadores de plataforma digital” têm remuneração tão parca e incerta que ter filhos dificilmente pode fazer parte das suas opções de vida.
Além disso, os “trabalhos de plataforma digital” diferem da maioria dos “trabalhos de merda” tradicionais num aspecto essencial: nos “trabalhos de plataforma digital” o capitalismo está dispensado de fazer estalar o chicote, pois o próprio trabalhador se encarrega dessa tarefa com zelo. Como escreveu o filósofo Han Byung-Chul, em A sociedade do cansaço (Müdigkeitgesellschaft), em 2010, muito antes de se falar em “uberização da economia”: “Hoje, cada um de nós é um trabalhador auto-explorado na sua própria empresa. As pessoas são agora amo e escravo num só. Até a luta de classes se converteu numa luta de cada um de nós contra si mesmo”.

Cartaz apelando à união dos trabalhadores dos sectores público e privado, EUA, 2011: “Unidos, negociamos; divididos, pedimos esmola” (o cartaz é uma adaptação de um cartaz do tempo da II Guerra Mundial, apelando ao empenho dos trabalhadores no esforço de guerra)
Quem defende os trabalhadores?
E já que se fala em luta de classes, como estão a reagir os trabalhadores a estas mudanças profundas, velozes e imprevisíveis no mercado laboral e na estrutura da economia? Os “trabalhadores de merda” estão em geral demasiado cansados para poder consagrar-se ao activismo e o estatuto precário em que são mantidos permite aos empregadores substituí-los facilmente caso se tornem reivindicativos. Nos “trabalhadores de treta” poucos corresponderão ao perfil auto-consciente e contestário dos que deixam testemunho no livro de Graeber: uns estão satisfeitos com a sua condição improdutiva e ociosa e os que sentem frustrados e infelizes nem sequer conseguem identificar as raízes do seu mal-estar e esgotam a sua pouca energia na lamúria – nem da acomodação dos primeiros, nem da depressão e auto-comiseração dos segundos poderá brotar um sentimento de revolta. Os “trabalhadores de plataforma” andam tão cansados quanto os “trabalhadores de merda”, têm ténue identidade de classe, já que a sua actividade se caracteriza pela deslocalização e pela pulverização (estão conectados à mesma plataforma, mas não estão conectados entre si) e nem sequer têm um “patrão” a quem endereçar as suas reivindicações (“A nossa empresa não contratou ninguém para prestar esses serviços, apenas criámos uma interface entre prestadores de serviços e clientes, quem descarrega a app fá-lo inteiramente por sua conta e risco”).
Se os indivíduos isolados pouca iniciativa e poder têm, o que fazem as organizações cuja vocação é a defesa dos direitos dos trabalhadores? O papel dos sindicatos no século XXI é um assunto que Graeber não aborda, mas que merece reflexão.
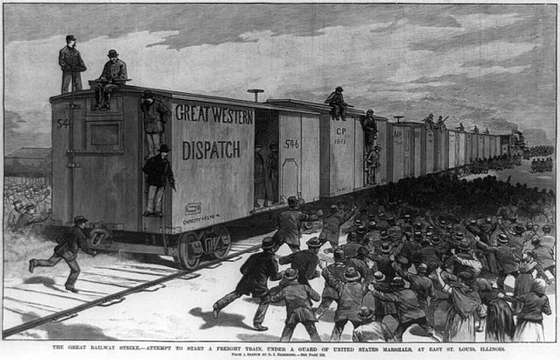
East St. Louis: Trabalhadores ferroviários tentam opor-se à partida de um comboio sob controlo de autoridades policiais, durante a Grande Greve Ferroviária do Sudoeste, de 1866, que abrangeu cinco estados dos EUA, envolveu 200.000 trabalhadores e resultou em dez mortes. Ilustração publicada no Frank Leslie’s Illustrated Newspaper
Os “trabalhadores de plataforma digital”, por serem, maioritariamente, freelancers e por não terem um vínculo laboral claro com as plataformas, não serão dos mais propensos a sindicalizar-se, mas, ainda assim, em Maio de 2021, no Reino Unido, a Uber reconheceu, pela primeira vez, um sindicato dos seus trabalhadores – este reconhecimento veio no seguimento de uma decisão do Supremo Tribunal do Reino Unido, em Março de 2021, que estipulou que os condutores da Uber eram assalariados e não trabalhadores por conta própria. Todavia, esta decisão não abrangeu os trabalhadores da Uber Eats, nem os trabalhadores da Uber fora do Reino Unido, pelo que não é previsível que os “trabalhadores de plataforma digital” tão cedo ganhem reconhecimento e poder negocial pelo mundo fora. Na verdade, a Nova Economia Digital e a Indústria 4.0 têm-se mostrado, em geral, hostis à sindicalização, sendo exemplos paradigmáticos as intimidações e represálias que Elon Musk, na Tesla, e Jeff Bezos, na Amazon, têm empregado para dissuadir os seus trabalhadores de tal ideia, por vezes recorrendo a métodos que estão na fronteira da legalidade e são eticamente reprováveis.
Hoje, mesmo entre os trabalhadores dos sectores de actividade “clássicos”, o sindicalismo não goza, em geral, de grande saúde, embora se registem grandes variações nas taxas de sindicalização entre países: vão de 11% em França e na Coreia do Sul e 12% nos EUA, a 89% na Islândia, 81% na Suécia, 74% na Finlândia e Dinamarca, 56% na Bélgica e 53% na Noruega (sim, há aqui um padrão geográfico-cultural). Na OCDE, além dos países atrás mencionados, nenhum ultrapassa 50% de taxa de sindicalização e Portugal, com 16%, e Espanha, com 17%, estão perto do fundo da tabela. Em Portugal, a sindicalização não só é baixa como está concentrada nalguns sectores de actividade: função pública e sector empresarial do Estado. Sem surpresa, as greves mais relevantes e frequentes concentram-se nas empresas de transportes públicos nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, nos trabalhadores da CP, nos professores e nos enfermeiros. São das poucas profissões cujos sindicatos dispõem de capacidade de mobilização e de algum poder negocial.

Evolução da percentagem de trabalhadores sindicalizados nos EUA, entre 1960 e 2020
A deslocalização da indústria para o Sudeste Asiático e a automação têm vindo não só a reduzir o número de trabalhadores industriais nos países desenvolvidos como a retirar-lhes poder negocial, o que tem permitido ao capital apropriar-se de uma fatia cada vez maior do rendimento nacional, sobretudo a partir da década de 1970 – o que está relacionado com a já mencionada desacoplagem entre aumento da produtividade e aumento dos salários.

Evolução da remuneração do trabalho como percentagem do valor agregado para as economias “avançadas”, entre 1980 e 2014
Nos EUA, a remuneração do trabalho registou alguma recuperação no final da década de 1990, mas teve uma queda acentuada na primeira década do século XXI, reflectindo, provavelmente, o efeito combinado da entrada na Organização Mundial de Comércio da China (cuja concorrência foi fatal para muitas indústrias americanas e cuja mão-de-obra barata obrigou os trabalhadores industriais americanos a ajustar os seus salários) e do crescimento explosivo na Nova Economia Digital (alguma da qual é capaz de gerar receitas fabulosas com um número reduzido de trabalhadores).

Evolução da remuneração do trabalho nos EUA, entre 1948 e 2016, tomando como ano de referência (100) 1948
E enquanto o capital tem vindo a inovar a um ritmo frenético em todos os domínios e a impor as suas regras, os sindicatos persistem nas formas de luta “tradicionais” e repetem cartilhas do tempo da Revolução Industrial. Para mais, pelo menos no caso português, dir-se-ia que o único tema que acham relevante nas relações laborais é a remuneração. Sendo Portugal um país de salário médio baixo – e cada vez mais próximo do salário mínimo – e em que ter um emprego estável está muito longe de ser garantia de uma vida minimamente desafogada (11% dos trabalhadores portugueses estão em situação de pobreza: ver Um quinto da população portuguesa é pobre. Um em cada três pobres tem emprego estável), compreende-se a ênfase na remuneração, mas não que esta quase monopolize a discussão sobre relações laborais, até mesmo nos escalões da sociedade com salários bem acima da média – lutar por aumentos salariais e vínculos laborais mais sólidos não impede que se discutam também o propósito e sentido do trabalho.
No início de Maio, a “Agenda do Trabalho Digno” regressou à discussão na Concertação Social, resultando na aprovação pelo Governo, a 2 de Junho, de 70 medidas, mas quer estas quer a esmagadora maioria das intervenções dos líderes políticos, sindicais e patronais sobre o assunto incidiram sobre remunerações (salário-base, pagamento de horas extra, subsídios, valores de reformas e contagem de anos para efeitos de reforma), vinculação laboral (contratação colectiva, contratos sem termo certo, etc.) e regimes de trabalho (horários, tele-trabalho, semana de trabalho de 4 dias) e nem uma palavra foi dita sobre dignidade.
Uns dias antes, no 1.º de Maio, houve os usuais festejos, que serviram, como sempre, para pôr em destaque a impotência, o desfasamento da realidade, o anquilosamento e a perspectiva estritamente materialista do sindicalismo do século XXI. Numa tirada sintomática, o novo secretário-geral da UGT realçou que “há ainda um caminho a fazer relativamente àquilo que a troika tirou [aos trabalhadores]”. O mundo do trabalho e a economia estão a passar por mudanças sísmicas, há boas probabilidades de muitos postos de trabalho e até profissões inteiras desaparecerem ou serem tornadas obsoletas no horizonte de uma década, há um desfasamento cada vez mais evidente entre as competências dos jovens diplomados pelo sistema de ensino português e as necessidades de mão-de-obra da economia portuguesa, e o líder de uma das principais sindicais do país tem a atenção focada em acertos de contas relativos a um período que terminou há oito anos e que dizem respeito apenas a trabalhadores da função pública e do sector empresarial do Estado.
Do lado da outra central sindical, a paragem no tempo é ainda mais evidente: nos festejos do 1.º de Maio do ano passado, o então líder da CGTP, Arménio Carlos, escolheu concluir o seu discurso com uma frase canónica da cartilha marxista, “A história da sociedade até aos nossos dias é a história da luta de classes”. Mesmo que tal asserção fosse verdadeira (o que é muito discutível), só o seria “até aos nossos dias” e acontece que os “dias” em questão eram os de 1848, quando Karl Marx e Friedrich Engels publicaram o panfleto que ficou conhecido como O manifesto comunista, em cujo prefácio figura essa famosa frase, que continua a ser repetida quase dois séculos depois, como se fosse uma Verdade Eterna.
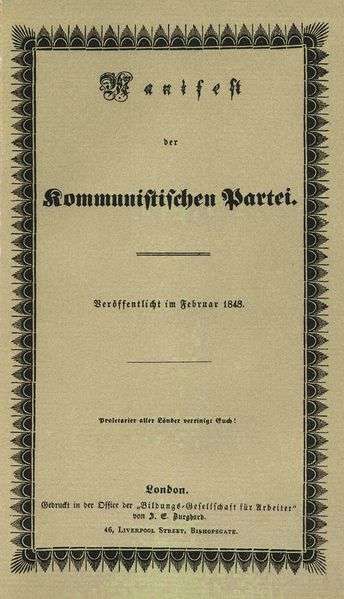
Rosto da edição original de O manifesto comunista (Manifest der Kommunistischen Partei), um panfleto de 23 páginas publicado em Londres em Fevereiro de 1848
Ora, Marx e Engels tinham biblioteca e talvez percebessem alguma coisa de finanças, mas as suas teorias e elucubrações sobre trabalho, economia e sociedade aplicam-se apenas ao seu tempo e contexto (se é que estavam correctas – afinal, Marx nunca pôs pé numa fábrica, o que justifica dúvidas sobre o seu conhecimento do assunto). No século XXI continuam a existir minas de carvão, fiações, mineiros e operários têxteis explorados e patrões ávidos de acumular capital, mas, devido a formidáveis progressos tecnológicos e profundas mudanças na sociedade, essa realidade ganhou contexto e significado completamente diferentes – quem seria capaz de adivinhar em 1848, por exemplo, que todos os sectores industriais que então faziam a fortuna e o poder da Grã-Bretanha estariam hoje extintos ou agonizantes, ou que todas as minas de carvão estariam, no século XXI, sob forte pressão para serem definitivamente encerradas, a fim de tentar combater as alterações climáticas? Mas não só a realidade que Marx e Engels conheciam sofreu mudanças avassaladoras, como a ela se sobrepuseram sucessivas camadas de realidade inimagináveis em 1848 – ainda existem descendentes das lojas de moda londrinas onde Jenny von Westphalen, a Sr.ª Marx, comprou vestidos para as filhas, mas enfrentam hoje a concorrência de um bizarro procedimento que consiste em deslizar o indicador sobre uma superfície vidrada de uma pequena e fina placa rectangular, escolher entre as imagens de milhões de produtos diferentes e, passados escassos dias, receber em casa uma caixa de cartão com as peças seleccionadas, fabricadas, por preço irrisório, no outro lado do mundo, por operários têxteis tão miseravelmente pagos como eram os seus equivalentes britânicos de 1848 (esta é a parte que não mudou). Para perceber o mundo laboral, económico e social do século XXI, será mais produtivo recorrer ao já referido A sociedade do cansaço, de Han Byung-Chul: “Quando a produção é imaterial, todos são donos dos meios de produção. O sistema neo-liberal já não é um sistema de classes no verdadeiro sentido. Não consiste em classes que se enfrentam num antagonismo mútuo. E é isto que faz com que o sistema seja estável”.
Todavia, a CGTP continua a organizar as suas missas laicas e a recitar as suas Sagradas Escrituras, com a mesma obstinação e alheamento da realidade com que o partido político de que é o “braço sindical” se recusa a aceitar que Stalingrad deixou de ter esse nome há 61 anos.
A inoperância dos sindicatos não provém apenas do apego a uma realidade que já não existe (ou que nunca existiu como a imaginaram), resulta também de aceitarem (ou, pior, nem se darem conta) que a discussão das relações laborais se faça em termos meramente contabilísticos e de acordo com os termos do capitalismo – ou seja, assumindo que o dinheiro é a medida de tudo, que todos os valores são convertíveis em dinheiro e que este tudo pode comprar –, o que, em si mesmo, já é uma derrota (mesmo que os sindicatos, eventualmente, consigam obter alguns dos aumentos que reclamam).
Pôr travão à proliferação de “trabalhos de treta” não passa, muito provavelmente, por manifestações com logística impecável, coreografia bem estudada, grandes bandeiras vermelhas ondulando no vento e palavras de ordem caducas. Será mais produtivo – e revolucionário – tomar como ponto de partida a pergunta – válida para todos os tempos e contextos – lançada pelo poeta espanhol Luis Cernuda: “O que adianta ao homem ganhar a vida enquanto perde a alma?”.
A expiação do consumismo
Regressemos a uma questão candente, já formulada no início do capítulo “O trabalho na era do machine learning e dos algoritmos”: qual a razão de os prodigiosos avanços tecnológicos e organizacionais que se sucederam desde a Revolução Industrial não terem levado a aliviar significativamente o fardo do trabalho? Se a automação dos processos de fabrico em massa e os desenvolvimentos na logística e no retalho permitiram a redução do custo unitário dos produtos (em termos de número de horas de trabalho necessárias para os adquirir), como se explica que não estejamos a gozar de mais horas de lazer ou a trabalhar apenas em ocupações menos bem remuneradas mas que nos dão prazer e nos realizam?
Graeber sugere que “o elemento sado-masoquista do trabalho […] tornou-se, na verdade, um elemento central na validação do trabalho. O sofrimento tornou-se num emblema de cidadania económica. […] Sem ele, não se tem o direito de reivindicar o que quer que seja”. E, no mundo de hoje, a contrapartida que é oferecida pela penosidade do trabalho é o consumismo: “inventámos uma dialéctica sado-masoquista bizarra através da qual sentimos que o sofrimento no local de trabalho é a única justificação para os nossos prazeres de consumo ocultos, e, ao mesmo tempo, o facto de os nossos trabalhos acabarem […] por consumir cada vez mais da nossa existência diária implica que não podemos dar-nos ao luxo de ter uma vida”. Este “consumismo compensatório”, de carácter intermitente e fragmentário, que pode “ser realizado naqueles intervalos de tempo restritos e previsíveis que restam entre enxurradas de trabalho ou enquanto se recupera delas […] são o tipo de coisas que podemos fazer para compensar o facto de não termos grande vida, ou mesmo nenhuma”.

O frenesi do consumo: Abertura de loja, Black Friday, 2011, EUA
Esta argumentação de Graeber enferma de duas falhas:
1) Após passar o livro a identificar a proliferação de “trabalhos de treta”, em que não há muito para fazer, como um dos grandes problemas do nosso tempo, agora retrata os trabalhadores como estando assoberbados por “enxurradas de trabalho”. Em que ficamos?
2) Tal como antes presumiu que todas as pessoas em “trabalhos de treta” vivem angustiadas e deprimidas por não terem muito que fazer e sentirem que não estão a ser úteis à sociedade, embora sejam bem pagas (quando, na verdade, boa parte delas está encantada com a sua sorte), agora Graeber assume que todas as pessoas se sentem obrigadas a executar trabalhos que lhes são desagradáveis como forma de validar moralmente o “pecado” do consumismo. Porém, a grande maioria das pessoas parece não sentir necessidade alguma de justificar ou expiar os seus apetites consumistas – a confirmá-lo está o sonho com que as lotarias e os esquemas dúbios de investimento financeiro acenam: dinheiro caído do céu, sem esforço, para consumo extravagante e ócio ilimitado, sem sombra de remorso ou necessidade de “dialécticas sado-masoquistas bizarras”.

O sonho das férias eternas: Anúncio à Lotería Nacional espanhola, 2015
Para onde foge o tempo?
Vale a pena averiguar a solidez da ideia de “os nossos trabalhos acabarem […] por consumir cada vez mais da nossa existência diária”. É verdade que muitas pessoas estão sobrecarregadas de trabalho, umas, no fundo da pirâmide, por serem tão mal pagas que têm de trabalhar horas suplementares ou de acumular empregos e biscates para poder assegurar um nível mínimo de subsistência; outras, no topo da pirâmide, por sobraçarem demasiadas responsabilidades e estarem comprometidas com metas de produtividade e ambições pessoais irrealistas; outras porque gastam três ou quatro horas por dia a deslocar-se entre a casa e o emprego; outras porque têm de conciliar o emprego fora de casa com múltiplas obrigações familiares, sobretudo para com os seus membros mais jovens e mais idosos (obrigações que continuam, apesar de tudo, a recair preferencialmente sobre as mulheres e que não são remuneradas).
Mas também é um facto indesmentível que, em termo médios, o trabalhador médio ganhou efectivamente horas de lazer: na Europa Ocidental da Revolução Industrial a semana de trabalho tinha em média 65-75 horas, hoje ronda as 35-39 horas.
Por outro lado, desde o início do século XX surgiu uma infinidade de aparelhos, gadgets e produtos que tornam as tarefas domésticas mais simples e expeditas e menos penosas: nos EUA, as horas requeridas para as lides domésticas, considerando uma família de duas pessoas e as tarefas-padrão de preparação de refeições, limpeza e tratar da roupa, caíram de 58 horas por semana em 1900 para 15 horas e 24 minutos em 2015.
Porém, sob estes números que, aparentemente, celebram a libertação das tarefas domésticas, ocultam-se realidades menos agradáveis: a tarefa suplementar das lides domésticas continua a recair maioritariamente sobre as mulheres; a maior parte das mulheres que em 1900 tinham como única atribuição serem donas-de-casa, entraram no mercado de trabalho e têm de somar a maior parte das 15 horas e 24 minutos de lides domésticas às 35-39 horas do seu emprego fora de casa. E é também notório que o constante acréscimo da presença de electrodomésticos deixou de se traduzir em decréscimo significativo das horas de trabalho requeridas para cuidar do lar.
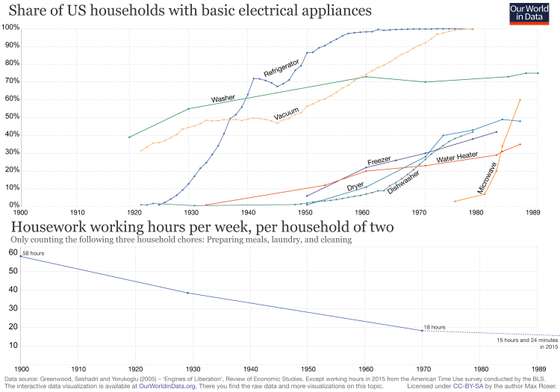
Gráfico de cima: Evolução da percentagem de lares americanos com um determinado tipo de electrodoméstico, entre 1900 e 1989; Gráfico de baixo: Evolução da percentagem de horas requeridas semanalmente para as lides domésticas num lar americano, considerando uma família de duas pessoas
A partir de um nível básico de equipamento electrodoméstico, é legítimo perguntar-se se as horas de trabalho necessárias para obter dinheiro para adquirir mais electrodomésticos (e a electricidade para os fazer funcionar) compensam as horas de lazer adicional que eles, teoricamente, proporcionam…
A questão torna-se ainda mais pertinente quando os tecno-profetas do Futuro Radioso nos vêm anunciar o advento da Casa Inteligente e da Internet das Coisas, que projectará o cidadão de classe média para um patamar inédito de conforto e conveniência (no sentido do termo inglês “convenience”). O problema é que a Casa Inteligente é cara de construir (requer materiais não-ortodoxos e técnicas de construção inovadoras, bem como uma panóplia de maquinarias e gadgets) e de manter, o que obrigará o seu “afortunado” proprietário a uma jornada de trabalho similar à praticada em 1870 – e assim se desfazem em fumo as conquistas do Progresso.
Mas mesmo quem não se deixe cair neste tipo de armadilha, dificilmente escapará a outra: a de ver o seu tempo de lazer, arduamente conquistado, ser integralmente absorvido pela constelação de actividades proporcionadas pelas Ciber-Indústrias de Distracção e, em particular, pelas redes (ditas) sociais. A média do tempo gasto diariamente nestas redes pelos utilizadores da Internet (os “info-excluídos” não entram no cálculo da média) passou de 90 minutos em 2012 para 147 minutos em 2022. Estes números, que são uma média global, escondem grandes variações em termos de países e estratos etários: os jovens holandeses (14-24 anos) gastaram em 2016, 6.03 horas por dia (360 minutos), os jovens portugueses, 5.67 horas (340 minutos). A outra grande componente das Ciber-Indústrias de Distracção são os vídeo-jogos: nos EUA, 50% dos lares têm um consola de jogos, 76% dos inquiridos declarou ter jogado pelo menos uma vez em 2021 e entre os que se assumem como jogadores regulares, o dispêndio de tempo foi, nesse ano, de 16.5 horas por semana, um aumento considerável face às 12.7 horas de 2019 e às 14.8 de 2020.
Se às 24 horas do dia subtrairmos os tempos de trabalho, de deslocações casa-trabalho, de repouso, de refeições, da lide doméstica e da higiene e cuidados pessoais, e se depois subtrairmos as horas despendidas nas Ciber-Indústrias de Distracção, na televisão “tradicional” (reality-shows, jogos de futebol, concursos de culinária), e no “binge-watching” de séries de TV nas plataformas de streaming, conclui-se que, com efeito, sobra pouco tempo para viver. Mas será descabido imputar integralmente tal situação ao patronato explorador, à ganância do Grande Capital, ou, como faz Graeber, à “gestão de estilo feudal da economia”, e deixar de fora o contributo do exercício do livre-arbítrio pelas massas.
Uma vida digna para todos
A desigualdade na distribuição dos rendimentos e a relação penosa da maior parte dos trabalhadores com o trabalho são, sem dúvida, dois dos maiores problemas do nosso tempo, mas Graeber crê que poderíamos “facilmente reorganizar as coisas de uma maneira que permitiria a toda a gente na Terra viver vidas de relativa facilidade e conforto” (Graeber). O mecanismo que, ao mesmo tempo, permite atenuar a desigualdade e pôr termo à relação malsã com o trabalho é, segundo Graeber, o Rendimento Básico Incondicional (RBI, também designado como Rendimento Básico Universal), ou seja, o pagamento regular pelo Estado a todos os cidadãos, independentemente do seu nível de rendimentos e riqueza, de exercerem ou não alguma actividade e do seu registo histórico de contribuições para a Segurança Social (daí o “universal”), de uma “pensão” igual para todos, não vinculada a qualquer contrapartida ou obrigação (daí o “incondicional”) e cujo valor cobre os requisitos mínimos para uma vida digna (daí o “básico”).
É uma medida que, em Portugal, é defendida pelo Livre e pelo PAN, partidos que gostam de atirar para cima da mesa propostas modernaças e “fracturantes” sem as fundamentar com estudos e sem se preocupar com a sua exequibilidade. Nem estes partidos nem David Graeber se dão sequer ao trabalho de esboçar uma resposta para a pergunta de 100 biliões de dólares: de onde virá o dinheiro para pagar o RBI?
Haverá quem creia que é só uma questão de racionalizar, emagrecer e reformar a máquina do Estado, como se, por todo o mundo, aquela não se visse, cada vez mais, em apuros para pagar as prestações sociais usuais e manter os serviços públicos a funcionar, sobretudo nos países ocidentais, em que a população envelhece rapidamente (ver capítulo “Quem paga o rendimento básico universal?” em O que devemos ensinar aos nossos filhos? Há um guru que mostra o caminho e capítulo “O oráculo vesgo de Silicon Valley” em O futuro aos algoritmos pertence).
Haverá quem se incline para seguir a sugestão – um verdadeiro “ovo de Colombo” – do Bloco de Esquerda: “a primeira coisa que temos de fazer é perder a vergonha de ir buscar dinheiro a quem está a acumular dinheiro”. Acontece que os ricos do nosso tempo não só são muito mais ricos do que os da Revolução Industrial como são muito mais astutos e dissimulados e é fácil perder o rasto à sua riqueza acumulado, engenhosamente oculta em holdings e “fundações”, arranjadas umas dentro das outras como bonecas russas e enterradas na areia branca de ilhas tropicais remotas ou num discreto escritório no Liechtenstein. Em 2019, as seis empresas tecnológicas de topo conhecidas como “Silicon Six” – Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft e Netflix – conseguiram furtar-se ao pagamento de 100.000 milhões de dólares de impostos, recorrendo a lacunas e ambiguidades na legislação – não serão certamente estes dragões avarentos que irão abrir mão do ouro que têm vindo a amealhar e contribuir para pagar o RBI.

O dragão Fafner guarda o seu tesouro, que fora roubado pelos deuses ao anão Alberich e entregue a Fafner e ao seu irmão Fasolt (quando tinham a forma de gigantes), como pagamento pela construção do sumptuosa residência dos deuses, Valhalla. Ilustração de Arthur Rackham para a tetralogia operática O anel do Nibelungo, de Wagner, 1911
Não só o Capitalismo Digital do século XXI é muito mais insidioso do que o da viragem dos séculos XIX/XX, como as massas estão mais anestesiadas e iludidas. Enquanto os proletários de antanho ao menos sabiam quem eram os seus “inimigos de classe”, os deserdados do nosso tempo estão deslumbrados com os magnatas contemporâneos: com as bazófias adolescentes, as proclamações altissonantes, as picardias grosseiras e as respostas petulantes que eles debitam no Twitter; com a pompa bombástica e as piadas desajeitadas com que eles apresentam os seus novos gadgets e apps; com os seus fantasiosos planos para colonizar Marte, fundir corpos e máquinas e alcançar a Eternidade. Idolatram-nos, bebem as suas palavras e rotulam-nos de “visionários” – e é assim que Elon Musk tem 90 milhões de seguidores no Twitter e, em vez de ser visto como pertencendo à estirpe de John D. Rockefeller e J.P. Morgan, é aclamado como uma genial síntese de Nikola Tesla, Preston Tucker e Che Guevara.

John D. Rockefeller, numa caricatura da revista satírica Puck, 1901
Não serão as massas, desnorteadas, alheadas e volúveis, nem os governos, tíbios e constrangidos a pensar e agir num horizonte de quatro anos, que terão iniciativa e determinação para alterar o presente estado das coisas. O RBI ficar-se-á por experiências-piloto inconclusivas e nunca será implementado (quanto mais não seja porque não tem a mais remota sustentação financeira) e o trabalho continuará a ser penoso para quase todos, uns porque estão ajoujados sob um fardo excessivo, outros porque a falta de sentido das suas tarefas os frustra e deprime, outros porque foram convencidos de que liberdade e empreendedorismo é assumirem o papel de capatazes implacáveis de si mesmos.
Quando Deus expulsou Adão e Eva do Paraíso, onde viviam num dolce far niente, lançou sobre eles duas “maldições”, uma incidindo sobre o trabalho de parto – e dirigida a Eva: “em dor darás à luz filhos” – e outra incidindo sobre o trabalho propriamente dito – e dirigida a Adão: “maldita é a terra por tua causa; em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida […] Do suor do rosto comerás o teu pão”. A farmacologia e a medicina deram-nos a anestesia epidural, que veio aliviar a primeira “maldição”, mas os dois últimos séculos de formidáveis avanços tecnológicos não dão mostras de conseguir quebrar a segunda – é verdade que, nos nossos dias, nem todos são obrigados a pagar o pão com o suor do rosto, mas, em contrapartida, exige-se-lhes a aniquilação do espírito.
Notas finais
Trabalhos de merda é um livro com alguns problemas no plano formal. O mais exasperante são as notas de rodapé, que são numerosas (241 em 316 páginas de texto) e extensas (há páginas em que o número de caracteres correspondente a notas rivaliza com o número de caracteres do texto propriamente dito) e dificultam seriamente a progressão da leitura, pois, em certos trechos é como se existissem vários discursos em paralelo. Esta profusão de notas é sintoma de um pensamento indisciplinado e de fraca capacidade (ou paciência) para estruturar o discurso e os editores que recebem livros neste estado deveriam devolvê-los ao autor com indicação para integrar no texto as ideias e informações contidas nas notas ou suprimi-las, deixando apenas as que remetam para referências bibliográficas ou outras fontes, ou que se limitem a elucidar, sinteticamente, um detalhe.
A estrutura débil e o pensamento indisciplinado manifestam-se, sob outra forma, nos capítulos 3 e 4, que fazem desfilar testemunhos de quem se viu encurralado num “trabalho de treta”. Não só a veracidade, objectividade e representatividade dos testemunhos não foi sujeita a controlo algum – são desabafos espontâneos enviados ao autor por e-mail – como as queixas acabam por repetir-se e tudo isto resulta numa leitura enfadonha. O que vale é que, uma vez superado o capítulo 4, “Como é ter um trabalho de treta?” – uma massa de testemunhos desgarrados – o livro ganha interesse e os dois últimos capítulos (6 e 7), em particular, abundam em ideias pertinentes (mesmo que se discorde delas ou se lhes encontrem falhas).
É um dos livros mais desafiadores publicados este ano em Portugal e mereceria algum tempo de reflexão e debate pela parte de líderes políticos, empresariais e sindicais – pelo menos uma pequena fracção do tempo que será consagrado a discutir mais ou menos uma décima de ponto percentual no aumento dos salários dos trabalhadores, ou se o Orçamento de Estado de 2022 pode ser classificado como “de austeridade”.

















