Alentejo Prometido (da coleção Retratos da Fundação, editada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos) é uma viagem familiar. Henrique Raposo conta-nos uma história do Alentejo através de histórias familiares e memórias pessoais. O cenário é a região do Alentejo Litoral, sobretudo o concelho de Santiago de Cacém. Entre cidades e aldeias, este “road movie” lá vai descobrindo segredos familiares enquanto tenta lançar uma nova e implacável luz sobre uma região que se afoga há décadas em lugares-comuns. A ligar todos os quilómetros desta viagem, encontramos três temas: as mulheres, o suicídio e o complexo do desenraizado que acompanha sempre os filhos das migrações. O Observador faz a pré-publicação do capítulo dedicado ao suicídio.
“O Norte de Portugal, que representa 35% da população, sofreu 43 suicídios em 2009, 48 em 2010 e 38 em 2011. O Alentejo, que conta apenas com 7% da população, sofreu 144 suicídios em 2009, 113 em 2010 e 105 em 2011. A diferença é avassaladora, e torna-se demencial quando isolamos o meu Alentejo. Se o Alentejo litoral fosse um país independente, seria a nação com a taxa de suicídio mais alta do mundo, superando até os países eslavos. Na Lituânia, líder mundial, a taxa é de 42 suicídios por 100 mil habitantes. No Alentejo de Odemira e Santiago, os números podem chegar com facilidade aos 45, 50 ou mesmo 60 suicídios por 100 mil habitantes. Há Jacintinhos por todo o lado. Nestas viagens e nas posteriores entrevistas que fiz a alentejanos a viver em Lisboa nunca encontrei uma pessoa sem uma história de suicídio na família. É o fenómeno mais transversal e um factor que reforça a típica tensão alentejana. Sempre considerei um exagero poético aquela ideia dos mortos a assombrar os vivos, mas no caso do suicida há mesmo uma assombração. Familiares e amigos ficam para sempre presos na pergunta mais incómoda: “e se?” E se eu tivesse falado com ele naquele dia? E se eu tivesse falado mais vezes com ele? E se não me tivesse zangado com ele tantas vezes? Estas perguntas ficam a pairar sobre os vivos como abutres em círculo.
Mas porque é que os alentejanos se matam com tanta facilidade? Quando se faz esta pergunta, a maioria dos alentejanos (repito: alentejanos) invoca três respostas: solidão, pobreza e o duo paisagem/calor. Eu estava disponível para aceitar a validade das três hipóteses, mas nenhuma sobrevive à realidade. Não, a causa não é a solidão. As pessoas não se matam só porque estão sozinhas. Até há estudos que indicam que o suicídio aumenta nos períodos de maior contacto humano (meses de verão). O reencontro das famílias pode ser um fenómeno penoso. Neste caso, o reencontro traumático ocorre quando regressam à aldeia os irmãos que migraram para Lisboa; os irmãos que ficaram olham para os irmãos lisboetas e sentem que também podiam ter tido aquela roupa fina e aquela mulher decotada. A ascensão social pode ser dolorosa.
A causa não é a pobreza, porque muita gente bem na vida marca um encontro com a corda, a caçadeira, o veneno (605 forte) ou o poço. O tio Jacintinho, o grande detonador deste livro, vivia bem, era seareiro; no dia em que andei por Fornalhas e Vale de Santiago, matou-se um homem nos Foros da Casa Nova que tinha andado na escola com a minha mãe – vivia bem, fazia arroz. Devo ainda salientar que o mapa da distribuição da riqueza não bate certo com o mapa do suicídio. Trás-os-Montes e as Beiras interiores são tão ou mais pobres do que o Alentejo, mas este norte interior tem taxas de suicídio reduzidas. Além do mais, o desemprego e a crise não explicam a maioria dos suicídios. Sines chegou a ter em 2012 uma taxa de desemprego de 18,6%, sendo o concelho onde a taxa de desemprego mais subiu entre 2010 e 2012 (+143,9%). Contudo, o número de suicídios não se alterou, foi sempre o mesmo: cinco por ano. Ao lado, Santiago não conheceu esse pico de desemprego, mas o número de suicídios foi sempre superior. Entre 2009 e 2012, ocorreram 54 casos em Santiago; mais três do que em Odemira.
A causa também não é a paisagem. Percebo a tese que invoca um encantamento da planície sobre o espírito dos homens; é tentador pensar que aquela geometria permite um acesso mais rápido ao absurdo existencialista. Sucede que as regiões espanholas que prolongam a paisagem alentejana, Extremadura e Andaluzia, têm taxas de suicídio baixas. A explicação do suicídio não é paisagística, é cultural. Andaluzia e Alentejo partilham a paisagem e o clima mas são duas culturas opostas. Se o Alentejo é a lamúria do Cante negro, a Andaluzia é o Flamenco vermelho; se o alentejano tem pouca vida comunitária e religiosa, Sevilha é a terra das procissões e das tapas na rua. Para complicar ainda mais as contas da tese geográfica, o suicídio em Espanha está associado à Galiza, o prolongamento do Minho. Lugo é Santiago de Cacém dos espanhóis.
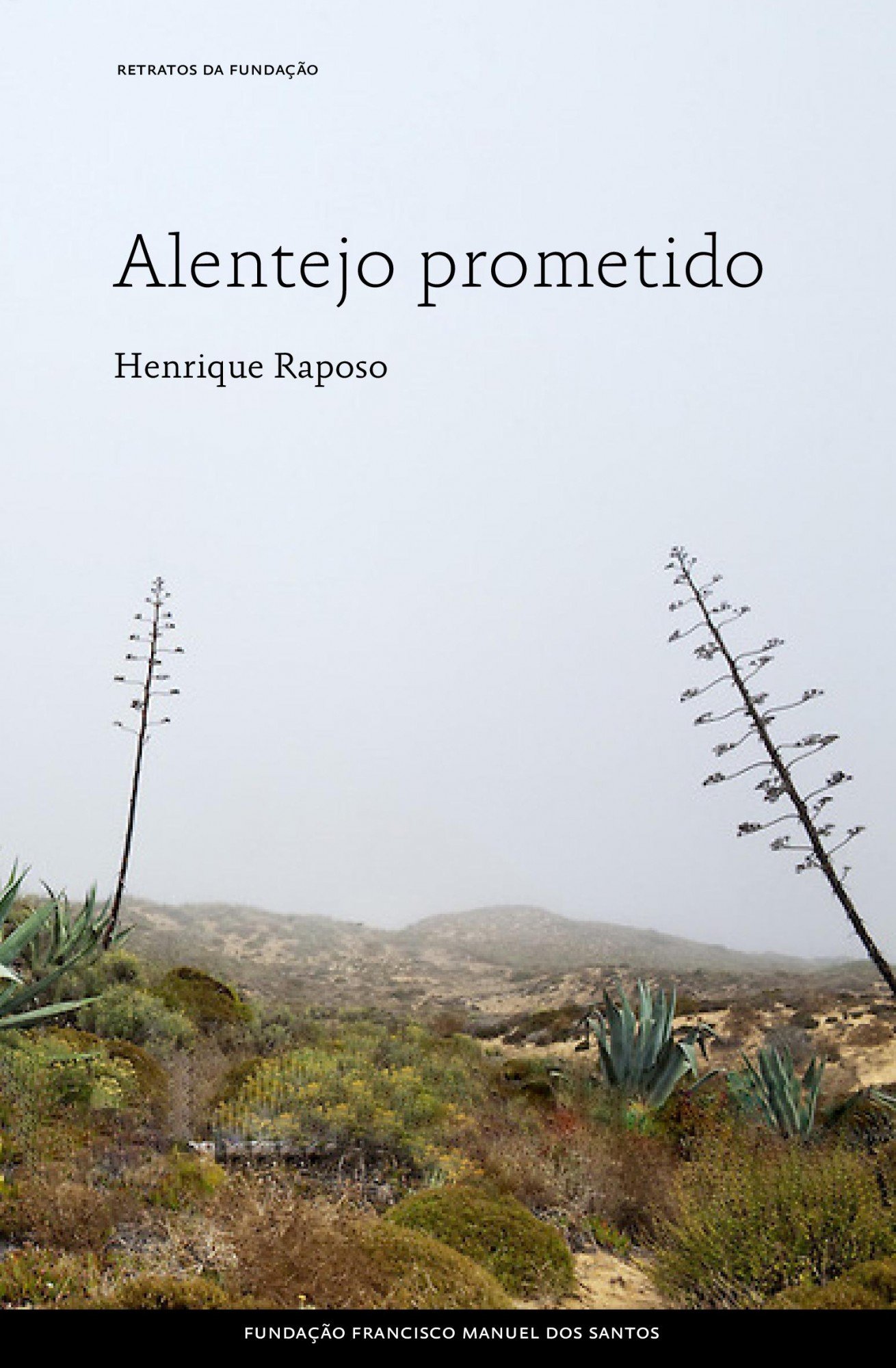
Há quem diga que a causa do suicídio é a genética. O ADN dos alentejanos, dizem, é propício à depressão. Não ponho isso em causa, mas a genética tem limites. Devido a uma série de factores (endogamia, por exemplo), os genes até poderão explicar porque é que alguns alentejanos cometem suicídio, mas não explicam porque é que a maioria dos alentejanos não critica o suicídio; a genética até poderá explicar o comportamento dos mortos, mas não explica a atitude dos vivos, isto é, não explica porque é que a sociedade alentejana criou uma cultura que legitima o suicídio. A cultura não é uma construção da natureza, é uma construção humana, não é feita de genes, é feita de metáforas, de noções de bem e mal, de linguagens, de palavras, que podem ser tão ou mais poderosas do que os genes.
Ao contrário do que muitos pensam, as palavras não são só palavras. Os materialistas pensam que as palavras são irrelevâncias de amanuenses, porque tudo o que interessa são os factos. Não percebem que nós vemos os factos através das palavras; são as palavras que constroem as lentes objetivas que nos permitem ver (ou não) a realidade empírica. No extremo oposto, os pós-modernos pensam que as palavras são meros jogos florais sem implicações na realidade humana, é como se os textos vivessem num mundo paralelo meramente estético. Não percebem que nós vemos a moral e a legitimidade através das palavras; são as palavras que constroem as lentes subjetivas que nos permitem detetar os dilemas morais que são a essência da condição humana. Ora, o que distingue o Alentejo não é a pobreza, a paisagem, o calor, a solidão ou a genética, mas sim a arrumação do suicídio na prateleira amoral, no ângulo morto da moral. O alentejano não vê o suicídio, ou melhor, não o encara enquanto fenómeno ilegítimo ou passível de criar dilemas. E isto sucede porque a cultura alentejana não tem as palavras que permitem a contestação moral do suicida. Tal como eu não tinha a palavra certa (pobreza) para descrever a casa dos meus avós, tal como a tia Albertina não tinha a palavra necessária (malária) para sentir piedade por quem fervia em febres tropicais, tal como a minha avó não tinha os conceitos morais necessários (escolher, livre arbítrio) para compreender o meu desejo pela leitura, tal como os meus avôs não tinham o conceito moral (criança) capaz de gerar carinho pelos filhos, tal como os alentejanos do passado que não tinham a palavra certa para diabolizarem os filhos ilegítimos (bastardo) e tal como as alentejanas que não possuíam o termo certo (violação) para condenarem os abusos que sofriam, os alentejanos de hoje ainda não têm a linguagem adequada para condenarem o suicídio. Em todos os dias desta aventura, quer nas cidades quer nas aldeias, ouvi sempre variações das seguintes frases: “antes que dê trabalho, mato-me” e “então não se havera de matar!”. Ouve-se isto a qualquer hora e em qualquer lugar, no café, na tasca, no supermercado, na rua, em casa de conhecidos ou familiares. São frases bordão que aparecem com enorme espontaneidade. O alentejano, aliás, só é espontâneo para dizer “mato-me”. E quando ouve vezes sem contas frases espontâneas como “eu também me matava se me tivesse acontecido aquilo”, uma pessoa habitua-se, o indizível passa a ser dizível e a porta abre-se (os tabus não existem por acaso). Quando percebe que ninguém da sua lidação contesta o argumento “é um grande homem porque se matou”, uma pessoa começa a pensar que aquilo que era ilegítimo é, na verdade, um imperativo categórico. No Alentejo, a eutanásia não é um debate, é um modo de vida; o suicídio alentejano não é um ato individual, é uma prática colectiva.
A normalidade do suicídio começa no omnipresente estado da natureza. A maioria da população alentejana encara o suicídio como um fenómeno natural, tão natural como o vento a passar nos sobreiros. O laço da corda no pescoço é visto como um acontecimento da história natural e não da história humana; é um ato amoral da natureza e não uma escolha moral do homem. Certa vez, quando tentava abrir a porta de um restaurante, uma senhora que passava avisou-me: “’tá fechado, ele matou-se. Tá vendo aquele ajuntamento além? É o funeral”. Ela proferiu estas palavras com uma naturalidade desapiedada, como se estivesse a comentar o tempo, a forma das nuvens ou o canito da vizinha; o tom da voz não se alterou, ficou plano como a planície; era como se o senhor tivesse ido trocar uma nota na loja ao lado. Qual é o grande problema desta visão naturalista? Torna impossível contestar o fenómeno. Como é que se contesta um desastre natural? Ele simplesmente ocorre. Um terramoto não tem agência moral, não quer fazer mal ou bem, apenas acontece. A partir do momento em que encara o suicídio como um pequeno terramoto interior, o alentejano fica fora do alcance de qualquer argumentação moral, fica fora do alcance das palavras. Na mente alentejana, discutir se o suicídio é moral ou imoral é uma contradição em termos, da mesma forma que é uma contradição em termos discutir a moralidade de um maremoto ou tempestade. Tragicamente, o olhar do suicida também tem algo de natural ou animal. Quando se tenta argumentar com uma pessoa prestes a cometer suicídio, ela responde com os olhos baços e desapiedados do tubarão que aparece no BBC Vida Selvagem.
Claro que esta visão naturalista denota a ausência da linguagem católica. Não é novidade para ninguém que a fraca religiosidade é uma alavanca suicida. No norte, a cultura católica sempre viu no suicídio o pecado da soberba, o pecado de Judas que se matou porque pensava que era especial, porque era orgulhoso ao ponto de considerar que não tinha perdão. Pedro também traiu Cristo, mas foi o primeiro Papa. Longe da visão católica, o Alentejo aproximou-se de Judas e afastou-se de Pedro. Em conversa com o padre de Santiago, fiquei a saber que nos últimos anos apenas uma católica se tentou matar no concelho inteiro. Não é um dado de somenos importância. Este é um concelho fustigado pelo suicídio, que, por vezes, assume a forma de epidemia familiar: o pai mata-se, o filho mais velho mata-se, o filho mais novo mata-se. A explicação religiosa porém não chega. A distância em relação à Igreja e à fé é apenas uma das parcelas do estado da natureza que tem moldado a cultura alentejana. Como já tentei mostrar, o estado da natureza normaliza ou naturaliza todas as formas de violência humana (suicídio incluído) e cria uma distância entre o alentejano e a comunidade e – acima de tudo – entre o alentejano e a própria família. Esta desconfiança ou falta de à-vontade com os próprios familiares revela-se, por exemplo, na viuvez dos homens. Quando ficam viúvos, os alentejanos entram num infernal mundo novo, descobrem que não conseguem fazer nada sozinhos, nem cozer um ovo, e descobrem sobretudo que não confiam em ninguém no que toca à higiene pessoal, o maior melindre das pessoas idosas. Nem confiam nos filhos ou filhas para essa tarefa. Ainda hoje é fácil encontrar no Alentejo (e na família) homens que revelam esta absurda incoerência: enquanto são adultos autónomos exigem que as filhas façam tudo em casa, porque homem-que-é-homem não deve cozinhar, pôr e levantar a mesa, lavar e passar roupa, fazer e desfazer a cama, fazer compras; mais tarde, quando perdem a autonomia devido à velhice, recusam a ajuda das filhas. É um absurdo quase cómico: forçaram as filhas a fazer aquilo que eles deviam ter feito enquanto estiveram bem de saúde e depois são incapazes de aceitar a bondade alheia quando perdem a independência. Os alentejanos encaram a caridade como uma ofensa, recusam depender da bondade de estranhos mesmo quando os estranhos são os filhos.
Este orgulho transforma qualquer viúvo alentejano num suicida em potência. A GNR isolou 39 mil idosos em Portugal que acumulam duas características: vivem com enormes debilidades motoras mas recusam deixar a sua casa. Apesar da baixa densidade populacional, Beja é o distrito com mais casos: 3914, logo seguido por Viseu com 3755; Leiria apresenta o número mais baixo, 822. Mas o problema aqui não é a quantidade mas a qualidade. Se Beja e Leiria trocassem de números, os 822 alentejanos provocariam mais suicídios do que os 3914 idosos da zona oeste. Há idosos orgulhosos e ciosos da sua independência em qualquer parte do país, mas é no Alentejo que existe uma cultura que autoriza de imediato o salto para a solução mais rápida. Fiéis ao velho porte alentejano, muitos homens preferem o fim abrupto na corda do que um fim prolongado e acarinhado pelas filhas e filhos. “A mim ninguém lava o cu, mato-me logo”, costuma dizer um familiar.
Durante o almoço no café de São Domingos, tornou-se evidente que era necessária uma segunda volta na conversa com a Ti Cidália. Este segundo take teve lugar na casa da nossa anfitriã, que é a típica casa alentejana: fresca e asseada como nenhuma outra. Mendiguei uma segunda ronda, porque restava um novelo por explorar. Durante o almoço, quando falou de passagem no “Jacintinho”, Cidália deu uma entoação sarcástica ao inho e de seguida disse: “essa peste de que me livrei”. Disse isto no pressuposto de que eu sabia. Mas é claro que não sabia. No estrito respeito pelo omertà sulista, a minha mãe nunca se sentiu confortável para me contar que Cidália foi a primeira mulher de Jacintinho; Ti Cidália foi a tia Cidália. Aturou-o durante alguns anos, mas acabou por fugir para Lisboa via Grândola, deixando para trás os filhos. “As mulheres sofriam muito nesse tempo, meu menino”, disse em jeito de justificação. Não a censuro. Se tivesse ficado, teria sido ela a receber a picareta de Jacintinho na jugular, teria sido o sangue dela a colorir a parede tarantinesca que me despertou há vinte e cinco anos. E, com ou sem picareta, a verdade é que as mulheres alentejanas sofriam mesmo muito. As minhas avós não foram excepção. Embalada pelo ato de contrição, Cidália foi buscar ao armário fotos antigas do meu pai sem bigode ou barba, sentou-se na poltrona e desbobinou o passado da minha avó materna.
Perto do final da vida, já com filhos casados, o avô Manel casou com a sua mulher de sempre para que ela tivesse direito à pensão de viuvez criada por Marcello Caetano. A noiva, a minha avó Joaquina, era filha de uma mulher idêntica a Maria Francisca. Ou seja, a minha bisavó materna, de seu nome Maria Genoveva, era um clone da minha bisavó paterna: também teve vários filhos de três homens diferentes — a avó Joaquina (filha de outro pai incógnito), Emílio (filho do segundo homem), Etelvina, Conceição e o fundamental Jacintinho (filhos do terceiro e derradeiro companheiro). Com todo o rigor genealógico, posso então adiantar que tenho na família os quatro tipos de mãe alentejana inventariados pela antropóloga Isabel Marçano; entre avós e bisavós, tenho a mãe solteira, a mãe solteira que casa posteriormente com um homem que não o pai da criança, a mãe em união de facto com pai da criança, a mãe solteira que casa com o pai da criança. Não, não tenho uma árvore genealógica, tenho uma floresta genealógica composta por uma interminável rede de meios-tios, meios-tios avôs, meios-primos.

▲ A maioria da população alentejana encara o suicídio como um fenómeno natural, tão natural como o vento
Manuel Moura/LUSA
Além de ter sofrido com a ausência do pai, Joaquina sofreu com o esmero alcoólatra do marido. Manel era alto, bonito, bêbado e imprestável. Dos Foros do Sobralinho até São Domingos eram duas horas a pé por três caminhos alternativos: Corgo Fundo, Aldraba, Vale Dioguinho. Fosse qual fosse o caminho, o cenário era sempre o mesmo: a minha avó levava um filho pela mão, outro ao colo e ainda equilibrava um cesto na cabeça; ele ia atrás leve como uma pena. Protótipo do pai biológico, Manel nem sequer tocava na prole. A minha mãe lembra-se do dia em que recebeu o primeiro e último carinho do pai: por mero caso afagou-lhe o rosto enquanto vestia uma saia nova. Manel tinha ainda o hábito de levar lá para casa os camaradas da taberna que comiam a comida reservada para a minha mãe e tios. Este hábito até atingiu um pico cinematográfico: certo dia, acolheu um maltês que havia fugido da prisão. À tardinha, o homem chegou ao monte e entrou de imediato na galhofa com Manel, que deu ordens à mulher, “mata uma galinha para o jantar”. Mordendo a boca de raiva, Joaquina lá fez o jantar com a preciosa galinha enquanto Manel aprendia a atirar com o revólver do bandido, sem nunca se aperceber do medo estampado no rosto dos filhos. O maltês manjou a galinha com o revólver pousado na mesa, dormiu no casão, acordou, comeu outro manjar raro ao pequeno-almoço (ovos e linguiça frita), saiu e foi roubar um rebanho de ovelhas numa herdade vizinha. Era assim a vida com o avô Manel. O meu outro avô, apesar de nunca ter propiciado estes momentos de thriller, também não era santo. Havia dias em que forçava a avó Diamantina a levar-lhe a comida à venda; passava dias fora de casa de baile em baile, um hábito que se manteve já na velhice. Ia com o meu pai, mãe, tios e tias aos bailes nos Foros da Casa Nova, Bicos ou Fornalhas. A avó ficava em casa comigo e com os meus primos e nem considerava a situação como uma humilhação.
Ao ouvir estas histórias de irresponsabilidade e violência dos meus avôs e demais homens alentejanos, lembrei-me das histórias das ONGs que trabalham hoje em dia em África. Melinda Gates, por exemplo, tem uma regra de ouro: o dinheiro da ajuda internacional deve ser dado às mães e não aos pais; dar dinheiro aos homens é o mesmo que dar dinheiro à taberna, à sala de jogo, ao bordel; dar dinheiro às mulheres significa apostar na alimentação, saúde e educação das crianças. O Alentejo dos meus avôs era assim. Não os censuro mais uma vez. Naquele contexto, eu teria sido o maior pândego. No entanto, se não os censuro, também não posso evitar uma óbvia aritmética sentimental: quer no lado materno quer do lado paterno, devo tudo às minhas avós. Posso respeitar os avôs, mas só posso acarinhar as avós. Devemos-lhes tudo. Basta olhar para os factos. Em meados do século XX, a taxa de mortalidade infantil de Portugal era a mais alta da Europa. Em 1960, ainda era de 83 bebés mortos em 1000. Nem a Roménia era pior. O que isto tem de relevante? As minhas duas avós tiveram dezasseis partos e nenhum bebé ficou para trás, todos sobreviveram. Não foi milagre ou sorte. Houve, isso sim, um esmero maternal que tinha o seu quê de revolucionário. No seu clássico antropológico do início do século XX, Através dos Campos, Silva Picão afirmou que, apesar do infanticídio directo já não ser frequente, ainda se praticava infanticídio indirecto no Alentejo. Os casais pobres com quatro ou mais filhos rezavam para que Deus levasse dois ou três; nem sequer se preocupavam em alimentá-los ou acudi-los na doença; os moços andavam semi-nus pelos campos com as próprias mães a apelidá-los de “filhos da curta”; eram criados como crias de uma ninhada e só ganhavam o respeito dos pais quando começavam a trabalhar aos sete anos. Esta educação darwinista, digamos assim, começou a ser contestada pela geração das minhas avós, que faziam trinta por uma linha para, por exemplo, comprarem cabras para que não faltasse leite aos bebés e crianças. A história um dia fará justiça a esta geração de mulheres que criou o conceito de criança entre o fim da roda dos expostos (final século XIX) e o advento da pílula. E o que é mais espantoso é que elas iniciaram esta revolução mental contra a miséria, contra os elementos e, sobretudo, contra a cultura marialva dos maridos.
Poderíamos supor que uma sociedade progressista na hora do casamento só pode ser uma sociedade progressista na hora do divórcio ou separação, mas essa suposição estaria errada. No campo dos costumes, o Alentejo era progressista e reaccionário ao mesmo tempo. O progressismo alentejano terminava quando rapaz e rapariga se juntavam. A partir desse momento, ela era dele. Até aos anos 90, o Alentejo foi tão ou mais tradicionalista do que o norte no tema do divórcio/separação. Até corria na Igreja um adágio que dizia “no Minho há sacramentos sem mandamentos, no Alentejo há mandamentos sem sacramentos”. Ainda me recordo de mães que deixaram de falar às filhas que pediram o divórcio e de mães que até tomaram o partido do ex-genro.
Como se vê, a cultura machista do sul é idêntica à cultura machista do norte. Neste sentido, poderíamos supor de novo que a violência doméstica no Alentejo só pode ter números similares aos do norte. Mais uma vez, a suposição lógica estaria errada. A esmagadora maioria dos homicídios da violência doméstica – feminicídios – ocorre na Grande Lisboa e no norte; os Manuéis Palitos fazem parte da paisagem humana do norte, não do Alentejo. Quando confrontado com a traição (real ou imaginada), o nortenho mata a mulher em nome da honra; quando confrontado com a possibilidade de ser corno, o alentejano salva a honra masculina de outra forma: mata-se. Os números disponibilizados pela UMAR (União de Mulheres Alternativa e Resposta) confirmam este abismo cultural entre o homem do norte e o homem do sul. Os números do feminicídio nos distritos de Beja, Évora e Portalegre são baixíssimos; no distrito de Setúbal os números são elevados devido à Margem Sul. Em todo o distrito de Évora apenas quatro mulheres foram assassinadas entre 2004 e 2014 em contexto de violência doméstica; ocorreram nove feminicídios em Beja e seis em Portalegre. Quando afinamos a recolha por concelho, esta curiosidade torna-se ainda mais visível: durante uma década (2004-2014), Odemira, Santiago do Cacém e Sines nunca aparecem nos registos de feminicídio; ocorreram feminicídios em apenas quatro concelhos alentejanos (Évora, Elvas, Beja e Castro Verde). Quando reorientamos a pesquisa para as tentativas falhadas de feminicídio, as diferenças acentuam-se de novo. No distrito de Beja, entre 2004 e 2010, ocorreram duas tentativas falhadas, em Aveiro registaram-se trinta e quatro. Claro que o distrito de Aveiro (735 mil habitantes) tem mais população do que o distrito de Beja (150 mil), mas essa diferença populacional não é dois para trinta e quatro.
Estes números não significam que o alentejano é mais decente do que o nortenho. O machismo do sul é tão virulento como o machismo do norte, a diferença está na canalização da violência; lá em cima a violência marialva provoca uma explosão, cá em baixo provoca uma implosão, o suicídio. No Alentejo, o divórcio ou a mera possibilidade do divórcio ainda representa a morte social, sobretudo na subcultura da taberna e do Cante. Antecipando o massacre de perguntas e insinuações do grupo de petiscos e das cantorias (“então, a tua ex-mulher anda com outro!”), muitos alentejanos preferem a morte física à morte social. Deste modo, a par da viuvez, o divórcio ou a ameaça de divórcio é a grande causa cultural do suicídio dos homens alentejanos. À semelhança da viuvez na velhice, a separação conjugal na meia-idade provoca uma crise no ideal masculino que é resolvida com o suicídio. Embora elas tenham mais razões de queixa, são eles que se revelam mais frágeis.
Quando saímos da casa da Ti Cidália, o meu pai foi à procura de um homem que tinha “sementes das boas”. Já um pouco cansado deste quixotismo agrícola, tentei explicar-lhe que as sementes são todas iguais, que não há pureza na semente alentejana por oposição à semente que encontra em qualquer loja da Grande Lisboa, mas ele não quis saber. Estava a encher o carro de sementes com os “sabores antigos” e não havia nada que o demovesse: “se tu estás a encher esse caderno de memória, eu estou a encher a bagageira de sementes”. Não encontrámos porém o tal mago das sementes, e voltámos para o carro. No caminho de regresso, passámos mesmo junto à igreja onde são realizados os funerais da família. Sem dizer nada, o meu pai sentou-se, calado e soturno, no banco exterior da casa mortuária onde há quatro anos passou 24 horas de agonia durante o velório do irmão mais velho, o tio Francisco. É outro estranho paradoxo: poderíamos assumir que o povo que aceita o suicídio com normalidade só pode ser um povo que não sofre com a morte (natural) dos outros. Novo erro. Não há momento mais doloroso do que um funeral alentejano. Ir a um enterro em São Domingos, Alvalade, Bicos ou Santiago é entrar numa rara experiência de desespero. Para começar, ninguém abandona o corpo durante a noite do velório. Na primeira vez em que assisti a um funeral no norte (Sepins), fiquei surpreendido quando por volta das oito da noite toda a gente foi para casa, deixando o corpo sozinho na sala mortuária. Nunca tinha visto semelhante coisa. Nos nossos funerais (no Alentejo e em Lisboa), os familiares nunca abandonam o corpo durante a noite. Só as crianças podem fazer gazeta. Como não se acredita em Deus e na eternidade da alma, resta este derradeiro respeito presencial pelo corpo. Ficar ali ao estilo de uma guarda de honra é a nossa maneira de rezar. A raiz histórica do fenómeno é fácil de explicar: hoje em dia, os padres demoram quarenta e cinco minutos a chegar às aldeias; antigamente estavam a meio dia de distância; o ritual do velório ficava assim a cargo das pessoas, que, sem acesso às senhas litúrgicas, só podiam prestar respeito ao corpo.
Há nesta guarda de honra uma evidente nobreza de carácter, é uma espécie de ética militar que não deixa ninguém para trás. Contudo, é uma nobreza de faroeste, é uma grandeza que esconde o lado abrasivo da morte no Alentejo. No dia seguinte, quando o corpo se prepara para beijar a terra, rebenta um enorme descontrolo emocional. Em comparação com o norte, há mais gritos e desmaios. Há desespero — sinal de uma cultura que não acredita na transcendência e que, em consequência, vê no funeral um final absoluto e não um ponto de passagem. Por outro lado, a ausência do ritual religioso impede a criação de um filtro para o desespero, cada um sofre para seu lado porque não há uma ritualização coletiva da morte. É o exato oposto do que se passa no norte. Nem de propósito, o sogro da Marta morreu durante estes dias, forçando-me a um triste e inesperado reencontro com a religiosidade nortenha.
Nas igrejas de Santiago, São Domingos ou Alvalade, o choro da viúva é um som isolado que faz eco nas paredes nuas e que nunca é acompanhado por um coro; o choro alentejano é um diálogo sem direito a banda sonora de fundo, choramos sozinhos. Na aldeia do Vasco, encontrei um choro diferente, um choro que nunca está sozinho, porque há dezenas de vizinhas a rezar o terço, marcando a atmosfera com a cadência ritmada do Pai Nosso Que Estás No Céu Santificado Seja O Vosso Nome Seja Feita A Vossa Vontade. Rezar o terço deve ser o ritual mais gozado da pós-modernidade, mas devíamos ter a humildade para abrir os ouvidos: dezenas de mulheres a rezar o terço criam uma cortina de som que protege a viúva, os filhos, os irmãos; aquele ritmo cadenciado comove-nos e ampara-nos, é a comunidade unida na dor, o funeral deixa de ser uma travessia individual, a morte torna-se menos desesperante. Se o tivesse aprendido a tempo e horas, eu teria rezado o terço ali naquela aldeia junto à fonte do Mondego.”


















