O segundo volume das “Obras de Mário Soares” será centrado n’A História Contada a Maria João Avillez, que incluirá a republicação de dois livros. No Tomo I, «A História Contada com Maria João Avillez – Ditadura e Revolução e, no Tomo II «A História Contada com Maria João Avillez Democracia. O Presidente.»
O primeiro tomo, “Ditadura e Revolução”, resulta de uma longa conversa de Maria João Avillez com Mário Soares que abarca os primeiros cinquenta anos de vida do líder socialista durante o Estado Novo e o 25 de Abril;
O Observador pré-publica um excerto desse tomo, onde Mário Soares conta a sua versão do 25 de Novembro e dos momentos que o antecederam.
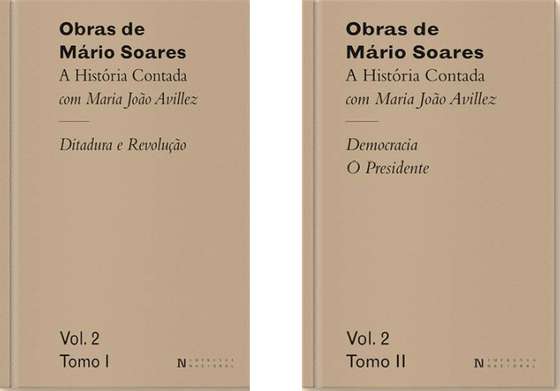
As capas dos dois tomos do Volume 2 das “Obras de Mário Soares”
Voltemos a Portugal. 6 de novembro foi também uma data que ficou célebre. A seguir ao jantar, Mário Soares e Álvaro Cunhal ocuparam o ecrã da televisão. Durante quase quatro horas, o País assistirá ao primeiro grande debate político da história da democracia portuguesa. No dia seguinte, ninguém teve dúvidas: Mário Soares ganhara o confronto. Como se preparou para ele?
É verdade que esse debate assinalou uma viragem. Até aí, Álvaro Cunhal infundia aos jornalistas, e julgo que à grande maioria dos portugueses, uma espécie de temor reverencial. E, nesse dia, pela primeira vez desde o 25 de Abril, chegou a casa de todos os portugueses a imagem de um político que interpelava Cunhal com à‑vontade e segurança, enfrentando‑o, dizendo‑lhe, inclusivamente, o que pensava dele e, simultaneamente, denunciando, com argumentos tão claros quanto pesados, a estratégia comunista. Preocupei‑me muito com esse debate. Era decisivo. Pensei longamente na maneira como o abordar. Mas preparei‑o sozinho, debatendo comigo próprio a melhor forma de agir, tanto no plano formal como político. Recordo que a minha primeira linha de ataque se baseou no conhecimento que tinha da personalidade de Cunhal: um militante habituado aos chavões ideológicos, frio, ultracontrolado, racionalista, incapaz de se deixar arrastar pelos humores de momento ou pelas emoções que acaso tentasse provocar‑lhe. Sabia que ele estava ali para despejar a cassette — os pontos da mensagem que tinha preparado —, com uma compostura que era a que tinha programada e que, portanto, não responderia às minhas «provocações» ou aos meus desafios, fossem eles quais fossem. Por isso resolvi atacá‑lo sem contemplações, dizendo‑lhe cara a cara, frontalmente, tudo o que eu próprio — e também os portugueses seus adversários — pensavam, sentiam e tinham para lhe dizer. Foi assim que, nessa noite, ganhei e tive ao meu lado, ativamente, toda a população portuguesa não comunista ou simpatizante. Definida a estratégia, fiquei à vontade. A situação do País era crítica. Conhecia bem os receios, as angústias e as preocupações das pessoas simples — dos jovens, dos idosos, dos trabalhadores, dos empresários, dos intelectuais, dos funcionários, mulheres e homens. Bastou‑me deixar falar a inteligência e o coração, dizendo alto e bom som aquilo que uma boa maioria já pensava, mas não ousava ainda dizer. Sabia que Cunhal nunca diria nada sem antes pesar e medir as consequências. Não lhe deixei tempo para isso: limitou‑se, pois, a repetir os slogans que trazia preparados… Enquanto ele foi, para mim, um adversário totalmente previsível, eu fui, para ele, um adversário imprevisível. Nunca esperou que o atacasse de uma forma tão direta, pondo os pontos nos ii e chamando os bois pelo nome. Por isso reagiu na defensiva: «Olhe que não, olhe que não», «Está a deturpar as posições do meu partido», «Não é bem assim, não é essa a nossa ideia»… Não passou disto, numa forma contida e cordata, como tinha seguramente programado. Durante esse dia, estive toda a manhã ocupado na sede do PS, com várias questões partidárias. Ao almoço, como o Victor Cunha Rego se mostrasse muito preocupado com o debate, convidei‑o a vir para minha casa, para fazermos uma espécie de sabatina. Dissuadiu‑me: «O melhor que você tem a fazer é ir para casa e dormir.» Assim fiz. Deitei‑me por volta das cinco horas. Dormi. E tomei depois, ao fim da tarde, um banho quente — coisa que faço rarissimamente! — e fui para a televisão, bem disposto e determinado.

No decurso do próprio debate, apercebeu‑se de que estava a ganhá‑lo?
Absolutamente. Álvaro Cunhal esteve sempre na defensiva; eu, sempre ao ataque. Mas, se tivesse dúvidas, tê‑las‑ia perdido: à saída do estúdio, havia uma imensa multidão, entusiasmadíssima, agitando bandeiras, que me obrigou, depois, a segui‑la até à sede do PS na Rua da Emenda.
Nessa noite houve outras razões de preocupação…
É exato. O ministro Almeida Santos foi sequestrado no Palácio Foz, sede do seu ministério, por uma manifestação de esquerdistas conduzidos por Isabel do Carmo e Carlos Antunes, empurrando Otelo Saraiva de Carvalho a «assumir as suas responsabilidades». Almeida Santos contou‑me isso com muita graça. Otelo estava hesitante e os manifestantes pretendiam conduzi‑lo para Belém, onde julgavam que seria fácil proclamar o advento do «poder popular». O Presidente Costa Gomes estava no estrangeiro e era seu substituto o almirante Pinheiro de Azevedo. Depois de muitas peripécias, abandonaram Almeida Santos à sua sorte e dirigiram‑se a Belém. Mas o «almirante sem medo», prevenido por telefone por Almeida Santos — este fora deixado sozinho no seu gabinete do Palácio do Foz rodeado por telefones! —, recebeu‑os com uma palavra vernácula e desarmou‑os, apresentando‑lhes as armas de São Francisco…
O almirante Rosa Coutinho — num plenário de trabalhadores da CUF — considerou verosímil compará‑lo a Hitler e a Mussolini.
Não sei se foi tão longe… Mas, por essa época, mimoseou‑me com algumas amabilidades desse tipo. Falei com ele várias vezes, quando o almirante dirigia um serviço instalado na Rua Castilho. Fui lá a seu pedido, por sua convocação, e manifestei‑lhe sempre a minha preocupação pelo que então ocorria em Angola e, claro, também em Portugal. Lembro‑me de que o Jorge Campinos me dizia sempre: «Este homem é muito inteligente e, por isso mesmo, é um adversário perigosíssimo.» Nunca achei que fosse assim tanto, mas, falando com ele, tomava um pouco o pulso à situação e procurava compreender melhor as intenções do poder militar, para lá das aparências. Rosa Coutinho tentava sempre persuadir‑me a que tivesse uma posição mais «revolucionária». Pretendia convencer‑me de que a posição do PS se devia aproximar mais da do PCP. No fundo, julgo, tentava amedrontar‑me, de modo a fazer‑me alterar a minha visão sobre os acontecimentos e a linha estratégica do PS. Nunca foram encontros fáceis. Guardo até a impressão de que ele se propunha proceder a investigações sobre o grau de «revolucionarismo» do PS e do meu próprio, usando por vezes de um tom entre o conselho e a ameaça velada, totalmente deslocado.
Falava com o almirante sobre Angola. Preocupava‑se agora mais? Afligiam‑no as condições em que iria ocorrer a independência prevista para breve?
Como já lhe disse, a minha primeira prioridade era evitar que se consumasse em Portugal a perversão totalitária da Revolução de Abril, que tornaria impossível a consolidação de uma democracia pluralista, à europeia. Mas, obviamente, a sorte de Angola sempre me interessou, embora reconhecendo que, nesse tempo, as possibilidades que eu tinha de poder intervir, de forma positiva, eram praticamente nulas.
É neste mesmo mês de novembro que o clima chega ao rubro. O Estado desintegrava‑se, Lisboa continuava palco de manifestações e contramanifestações — cito duas: a do Terreiro do Paço, a 9 de novembro, de apoio ao VI Governo, promovida pelo PS e pelo PPD; a da cintura industrial, de apoio ao «poder popular», realizada a 16 e apoiada por toda a extrema‑esquerda. O emissor da Rádio Renascença — ocupado por elementos radicais da extrema‑esquerda — havia sido destruído à bomba por ordem de Pinheiro de Azevedo; os SUV haviam já entrado em cena, embora escapando ao controlo e à vontade do PCP. E, a 12, dera‑se o sequestro dos deputados na Assembleia Constituinte, com o cerco ao Parlamento, bem como o sequestro do próprio primeiro‑ ‑ministro, em São Bento, realizado sob um mero pretexto salarial que não lhe passou, a si, despercebido. Num artigo escrito em 19 de novembro para o Portugal Socialista, Mário Soares interrogava: «Que se pretendia obter com a agitação desencadeada contra o VI Governo, a pretexto de um problema de tabelas salariais de trabalhadores da construção civil, senão aproveitar a energia reivindicativa dos trabalhadores para exercer uma chantagem sobre o Governo e o Conselho da Revolução?»
É exato, nessa época o poder estava em plena desagregação e era influenciado pelas manifestações de rua, de sinal contrário, que ocorriam, principalmente, em Lisboa e no Porto. O Norte estava em fúria contra a agitação comunista e o Alentejo — bem como a península de Setúbal — praticamente dominados pelo «poder comunista», que se manifestava pelas ocupações das herdades, a que se chamou «reforma agrária». Os SUV foram mais um degrau na escalada revolucionária e uma óbvia tentativa de sovietização do Exército, que precederia naturalmente a destruição da instituição militar, para sobre ela edificar um outro poder. O ambiente toldava‑se cada dia mais. Comecei a admitir que Lisboa pudesse ser igualmente dominada, embora sem nunca acreditar que o País, como um todo, pudesse vir a ser controlado pela aliança MFA/PCP. Nisso, nunca acreditei. Foi nessa altura que surgiu a ideia de reunir o Parlamento no Porto. Mas, antes disso, falemos do cerco a São Bento. Foi algo de insólito, que jamais esquecerei. Nesse dia pronunciei o meu primeiro discurso no hemiciclo de São Bento. Quando abandonei os governos provisórios — que até aí me haviam impedido de me sentar na bancada socialista —, tomei o meu lugar de deputado na Assembleia da República. Para esse dia, precisamente, estava agendado um discurso meu sobre Angola que, horas antes, celebrara a sua independência. Quando estava no uso da palavra, alguém me fez chegar um papelinho com umas palavras escritas pelo Jaime Gama: «Acabe o mais depressa possível, o Parlamento está quase cercado.» Inventei um fecho para o discurso e terminei. Porém, em vez de me dirigir ao meu lugar, fui à janela do salão nobre — com o Manuel Alegre e o Jaime Gama — e, como possuo uma larga experiência de manifestações, visto que desde os dezassete anos as organizo e tenho o hábito de fugir à polícia, compreendi que iam mesmo cercar o edifício. A única coisa a fazer era sair pelo jardim que dá para a residência do primeiro‑ministro. Com o Manuel Alegre, comecei a correr, atravessámos o jardim das traseiras, subimos à residência de São Bento e saímos pelo portão do palácio do primeiro‑ministro. Nesse momento, já os manifestantes se apressavam a dar a curva e a entrar na Rua da Imprensa à Estrela. Milagrosamente, surgiu um táxi que nos levou à sede do PS na Rua da Emenda. O Gama, com aquele sentido pachorrento, quando nos viu começar a correr, disse‑nos «para irmos andando». Acabou por já não sair! No PS, falei telefonicamente com o primeiro‑ministro. Pinheiro de Azevedo, aparentemente tranquilo, disse‑me ter chamado os fuzileiros que depois, como se verificou, não compareceram. Apelou a outras unidades: nenhuma respondeu. O nervosismo começou a crescer. Pinheiro de Azevedo, à medida que o tempo ia passando, começou a ficar muito inquieto, com vários ministros bloqueados na sua residência. Apelei a Costa Gomes, com quem contactei por diversas vezes. Manifestava‑se incapaz de agir. Dizia‑me que «não tinha forças suficientes». Jaime Neves, para intervir, pusera como condição autorizarem‑no a «limpar tudo». Na sua perspetiva, tratava‑se de «começar por São Bento e terminar na RTP e nas redações dos jornais», condição que nem o Presidente Costa Gomes, nem o Conselho da Revolução se dispunham a aceitar. Foi, finalmente, através de negociações complexas e com a cedência do primeiro‑ministro a algumas das reivindicações salariais, colocadas pelos manifestantes, que a ordem se repôs. A partir desta experiência traumática — e das imagens transmitidas, a que o País, atónito, assistiu — comecei a encarar, com seriedade, a ideia, que, entretanto, começara a germinar, da necessidade de a assembleia se deslocar para o Porto. Entendia‑se que era de lá que se poderia organizar uma resistência articulada e bem estruturada. Mas abandonar Lisboa, onde reinavam a agitação permanente, a desordem e o caos, era consagrar a divisão do País e caminhar a passos largos para uma confrontação violenta. De um lado, Lisboa, Setúbal e parte do Alentejo; do outro, o resto do País — com fronteira em Rio Maior —, o Algarve e as ilhas Atlânticas.
Diz‑me que começou a circular a ideia de separar politicamente o País em dois, com a transferência para a capital do Norte dos líderes partidários, do Parlamento e da maioria dos deputados. Mas fez‑se mais: as divisas do Banco de Portugal também viajaram para o Porto — repartidas entre notas e ouro —, por deliberação do seu Conselho de Administração e numa ação concertada com o major Eanes. No entanto, Mário Soares nunca terá estado totalmente convencido da bondade desta «divisão»…
É um facto. Era uma hipótese que só in extremis considerei. Nunca fui entusiasta de reunir a Assembleia no Norte. O gesto equivaleria a dividir o País em dois, também no plano político, excluindo a extrema‑esquerda e os comunistas do processo em curso. Os «bons» iriam para o Porto, os «maus» ficariam acantonados no Sul. Não! Se era necessário combater os comunistas e a extrema‑esquerda, para salvar a Revolução e evitar o caos, não desejava — nem concordava — que fossem metidos num beco sem saída ou excluídos do processo. Isso desencadearia uma dinâmica incontida da extrema‑direita de enorme gravidade. O que eu queria era vencer os comunistas num combate em que eles perdessem as veleidades de tomar o poder, mas nunca aproveitar este confronto para os empurrar de novo para a clandestinidade. Fazê‑lo, teria sido provocar uma crise da qual não se afigurava possível a sobrevivência da democracia pluralista em Portugal.
Mas quando, oito dias antes do dia 25 de Novembro, Lisboa se afogava nos rumores de que estaria iminente a instalação de uma «comuna», Mário Soares viajou para o Porto, o mesmo fazendo, de resto, os líderes do PPD e do CDS.
Fui ao Porto, por diversas vezes, nessa altura, efetuar múltiplos contactos políticos e mesmo com as autoridades militares da região Norte, cujo comandante era Pires Veloso, um amigo, bem determinado por sinal. Mas regressava sempre a Lisboa. Considerava que, enquanto não houvesse factos concretos, em absoluto impeditivos, não devia permanecer fora de Lisboa. Só fui para o Porto, preparado para tudo — e, portanto, também para ficar —, na própria noite do 25 de Novembro, onde cheguei cerca da uma da manhã de 26. Fui diretamente para o Quartel‑General da Região Militar Norte, onde se encontravam Pires Veloso e Lemos Ferreira. Este tinha trazido para Cortegaça todos os aviões disponíveis…
Essas diversas viagens, esses contactos, numa palavra, o que iam fazendo era sempre articulado com as direções do PPD e do CDS?
Não! Repito‑lhe que o PPD e o CDS contavam muito pouco, nessa época. O PS estava concertado com os militares e com alguns serviços estrangeiros que sabíamos que nos apoiariam em caso de necessidade, especialmente os serviços secretos britânicos. Como conta o professor Freitas do Amaral nas suas Memórias, quem preveniu o CDS para se deslocar para o Porto fui eu. O mesmo fiz com o PPD.
Pelo contrário, julgo saber que houve, nessa altura, alguns contactos entre Magalhães Mota, do PPD, e Edmundo Pedro, do PS, por exemplo. Como houve, também, entre Júlio Castro Caldas e Manuel Alegre.
É perfeitamente natural que isso tivesse acontecido. Ao nível da Assembleia Constituinte e mesmo entre os dirigentes partidários, os contactos eram múltiplos e, por assim dizer, diários. Mas propriamente na conspiração com os militares, que se opunham ao golpe esquerdista e comunista, não creio que elementos do PPD e do CDS, como tais, tenham participado.
Entre os primeiros boatos de que Lisboa iria ser cercada — no fim de semana de 16 de novembro — e o dia 25 de Novembro, Mário Soares esteve ainda na origem de uma decisão política inusitada: a greve do VI Governo. Que achava que iria lograr com este expediente? Forçar Costa Gomes a tomar, de uma vez por todas, a dianteira dos acontecimentos?
A ideia nasceu também no restaurante Chocalho, onde eu continuava a encontrar‑me com os oficiais do Grupo dos Nove. Desde que se haviam aproximado de nós, nunca deixei de os ver e de falar com eles. Dada a situação de total impasse político em que se encontrava o País, surgiu a ideia de que o Governo, como forma de protesto — e para alertar a opinião pública —, entrasse em greve. No final desse almoço, comprometi‑me a falar imediatamente aos ministros socialistas e alguns militares foram de imediato procurar Pinheiro de Azevedo. Dirigi‑me ao Ministério das Finanças. Recordo‑me que o Zenha ficou perplexo com a ideia! Disse‑me que a achava insólita e algo despropositada. Respondi‑lhe com o argumento de que me parecia excelente criar um choque na opinião pública. No seu gabinete do Ministério das Finanças, no Terreiro do Paço, reunimos os ministros socialistas e, depois, os outros — independentes e mesmo do PPD. Quando deles recebi o apoio necessário, dirigi‑me a São Bento e falei pessoalmente com Pinheiro de Azevedo, o qual, já ao corrente da nossa ideia, se mostrou totalmente disponível para a apoiar. Era natural: naquela fase, mostrava‑se pronto para tudo. Pinheiro de Azevedo, quando dias antes ficara sequestrado em São Bento, soltara o célebre desabafo de que «o chateava ser sequestrado!», mimoseando os manifestantes com a palavra de Cambronne…

Getty Images
Reportemo‑nos agora ao essencial, isto é, à contestação que entretanto começava a germinar à roda de Otelo Saraiva de Carvalho. Posto diretamente em causa pelas principais unidades da Região Militar de Lisboa, com o argumento de que fora incapaz de solucionar os sequestros ao Parlamento e ao primeiro‑ministro, originar‑se‑á outra crise no Conselho da Revolução e na própria Região Militar da capital. O PCP e a FUR reagem e nova manifestação unitária rumará a Belém. Quase em simultâneo, o Governo concretizava a sua referida greve. Politicamente, porém, essencial foi a troca de Otelo por Vasco Lourenço no comando da Região Militar de Lisboa: uma substituição no termo de três dias de tensas trocas de comunicados, de reuniões e ameaças disparadas entre a FUR e o Grupo dos Nove. Amparado e fortificado por esta vitória, o PS — e também o PPD — levará a cabo inúmeros comícios em quase todas as capitais de distrito, enfrentando diretamente Costa Gomes e exigindo‑lhe que cumprisse com as suas responsabilidades. Estes comícios «ocupam» de tal modo o País que, praticamente, passará despercebido o jura‑ mento de bandeira revolucionário ocorrido no RALIS, nesse mesmo fim de semana de 22 de novembro. E, entretanto, o COPCON distribuía milhares de armas a milhares de civis da FUR…
O juramento de bandeira, de punho cerrado no ar, não passou nada despercebido. Foi retransmitido pela televisão e impressionou o País inteiro. As pessoas compreenderam que estávamos à beira do irreparável. Mas o mais extraordinário foi que a cerimónia decorreu perante o olhar impassível do então chefe do Estado‑Maior do Exército, Carlos Fabião, sem qualquer reação conhecida do Presidente da República, Costa Gomes, então, igualmente, chefe do Estado‑Maior das Forças Armadas. Quanto à troca de Otelo por Vasco Lourenço, dir‑lhe‑ei que foi extremamente importante, se não mesmo decisiva.Vasco Lourenço, quanto a mim, no plano estritamente militar, era o mais determinado dos elementos do Grupo dos Nove.
Também nas vésperas do dia 25 de Novembro ocorreu um facto que ainda hoje permanece intrigante: em plena efervescência política e militar, Costa Gomes chamou de novo Mário Soares ao Palácio de Belém. Motivo: convencer Mário Soares e o PS a conversar com os dirigentes comunistas, com o objetivo de obter a solução da crise. E, segundo creio, Costa Gomes terá mesmo afirmado que «não haveria outra possibilidade senão um Governo PS/PC». Ao longo de três horas, Mário Soares disse a tudo que não. E pôs o PS nas ruas de todas as capitais de distrito em fortíssimas manifestações populares, que culminariam no Porto e em Lisboa, com a direção do partido desdobrando‑se em múltiplas intervenções. Que queria, de facto, Costa Gomes? Agiu, na sua opinião, a pedido do PCP? Sabe‑se que o PC, ao longo de todo o PREC, nunca quis opor‑se a Costa Gomes. A inversa era também verdadeira? Que pode Mário Soares acrescentar, hoje, àquele estranho pedido?
Não tenho por hábito mover processos de intenção a ninguém. Realmente, nessa fase, as posições de Costa Gomes foram demasiado ambíguas. Procuraria ganhar tempo? Terá sido excessivamente timorato perante o poder demonstrado pelo PC? Não lhe sei, em consciência, responder. Nessa fase, as relações entre o PS e Costa Gomes não eram nada boas. No País, havia uma desconfiança generalizada relativa‑ mente a Costa Gomes. Ele sabia, creio, que estávamos à beira da guerra civil e terá manobrado no sentido de a procurar evitar. Algumas das suas hesitações e mesmo tergiversações poderão, talvez, explicar‑se assim. É uma hipótese benigna e provável. Mas não estou absolutamente seguro que corresponda à realidade.
Chegamos ao dia. É conhecido o teor do Relatório Preliminar sobre o 25 de Novembro de 75. Posteriormente, a publicação de alguns livros jorrou mais alguma luz sobre esses acontecimentos. Resumamos, no entanto, o essencial dessas horas: Melo Antunes, numa entrevista a um semanário francês, avisara que «era tempo que o Grupo dos Nove retomasse a ofensiva política».Vasco Lourenço fora confirmado pelo Conselho da Revolução no cargo de comandante da Região Militar de Lisboa. Em Rio Maior, trinta mil agricultores, com o pretexto oportuno de uma reivindicação salarial, bloqueavam as estradas, cortando o acesso a Lisboa. E, já na madrugada de 24 para 25, os paraquedistas de Tancos ocupavam algumas bases aéreas — Montijo, Ota, Monte Real — fazendo prisioneiro o general Pinho Freire, em Monsanto, base da qual era comandante. Simultaneamente, o RALIS avançara sobre os acessos à autoestrada do Norte e ao aeroporto de Lisboa, enquanto a Escola Prática de Administração Militar ocupava os estádios da televisão, na capital.Tudo se precipitara. Qual é hoje, antes do mais, a história de Mário Soares? Que versão é a sua?
Não difere do que é conhecido e que coincide com os pressupostos da sua pergunta. Houve uma tentativa de golpe, animado pela esquerda militar e pelo PCP, e uma resposta, ou se quiser, contragolpe da parte do sector democrático, isto é, militares moderados, Grupo dos Nove e PS, liderando um amplo movimento da sociedade civil. Algures na madrugada de 25 para 26 de novembro, Álvaro Cunhal deu ordem para que o PC se retirasse de qualquer das movimentações que ocorriam desde a tarde da véspera. O PCP teve, nessas horas, três gestos tão fundamentais quanto reveladores das suas intenções: fez regressar os seus militantes que, na sua maior parte, se encontravam na cintura industrial de Lisboa em diversas unidades fabris — UTIC, Cabo Ruivo, Baptista Russo — perto do RALIS. Terá pensado que essa súbita ordem de desmobilização necessitava de um enquadramento e, por isso, os fez voltar aos Centros de Trabalho do partido. Em segundo lugar, mandou retirar as betoneiras da entrada dos Comandos da Amadora. E, finalmente, impediu — através do tenente José Miguel Judas — que os fuzileiros do Alfeite saíssem rumo a Lisboa. No terreno ficaram apenas os esquerdistas — abandonados pelo PC e também por Otelo, que passou todo esse dia 25 no Palácio de Belém —, que viriam a ser facilmente contidos pelo coronel Jaime Neves e pelo Regimento dos Comandos. No COPCON, as atuações foram confusas: Varela Gomes, que para lá se havia deslocado, teve dificuldade em fazer‑se obedecer pelos oficiais revolucionários que não obedeciam às suas ordens de comando. A ausência de Otelo fragilizou a vontade dos homens do COPCON e desmobilizou as movimentações previstas. Apesar disto, viveu‑se uma situação típica de golpe, com determinadas forças militares agindo concertadamente para forçar o Presidente Costa Gomes a entregar‑lhes o poder. Era preciso, a todo o custo, destruir — e, sobretudo, inverter — o que, entretanto, se conseguira pôr em marcha através do VI Governo e da clivagem operada nos militares. Era preciso cortar o processo democrático iniciado nas urnas e que iria culminar com a aprovação de uma nova Constituição.Tratou‑se de um golpe efetivo. Costa Gomes tinha, na Revolução, procurado pairar acima dos conflitos, tentando reduzir os estragos. Mantivera sempre uma postura hesitante e até ambígua naquele longo e tumultuoso jogo de contrários que se prolongou entre as eleições de abril de 1975 e o 25 de Novembro do mesmo ano. E, embora transigindo muitas vezes com o PC, contemporizava também, como podia, com o PS. Mas quando, finalmente, se apercebeu, ao longo desse dia, que se estava numa fuga para a frente que poderia ter consequências trágicas para o País e, em seguida, quando compreendeu que a balança pesava para o lado democrático, procurou evitar que tanto comunistas como esquerdistas avançassem. E deu ordens ao almirante Rosa Coutinho e ao comandante Martins Guerreiro que atuassem nesse sentido. Os comunistas obedeceram, os esquerdistas, apesar da ausência de Otelo, resistiram, insistindo nas suas posições, até à intervenção decisiva de Jaime Neves.
Sabe‑se que o PC nunca deixou de contactar o Grupo dos Nove: julgo saber que Álvaro Cunhal e Carlos Brito falavam com Melo Antunes; Carlos Costa procurava Vítor Alves; e Aboim Inglês dialogava com Vasco Lourenço. Estes contactos nunca abrandaram. A correlação de forças foi medida milimetricamente.
Não tenho conhecimento desses contactos. Não estou, portanto, em condições de afirmar quem falou com quem nesse período. Não creio que houvesse negociações explícitas, embora pudesse ter existido alguma margem para um certo entendimento tácito. Os comunistas jogaram também com bastante ambiguidade. Deitaram o barro à parede, a ver se pegava, mas não queriam, pura e simplesmente, ser varridos do processo. No dia 25 de Novembro, conseguiram o que era possível: ficarem dentro do processo e não fora. Devo acrescentar que, apesar de ter sido publicamente severo com o PC, logo a seguir ao 25 de Novembro, concordei com a tese de Melo Antunes na sua célebre ida à televisão, na própria noite dos acontecimentos, quando afirmou que os comunistas eram indispensáveis para que se cumprissem as regras do jogo democrático e de uma democracia entendida no sentido pluralista. Não fui previa‑ mente informado da sua intenção, nem do teor da sua intervenção. Nem sequer soube que ele iria nessa noite à RTP. Mas as suas palavras pareceram‑me sensatas: se se criasse na mente dos portugueses a ideia de promover uma caça às bruxas, contra os comunistas e a extrema‑esquerda, é evidente que a situação poderia vir a desembocar numa ditadura de direita. Era um grande risco que importava saber evitar!
Álvaro Cunhal sustenta, ainda hoje, que o 25 de Novembro foi um golpe e não um contragolpe. Isto é, que do lado dos comunistas não havia nem cadeia de comando, nem plano, nem organização, nem, sobretudo, poder — político, militar e popular — para avançar. Alega que a «direita» se serviu, com grande júbilo, do pretexto de algumas movimentações militares descoordenadas para agir. Sabemos hoje que, a partir da neutralização dos paraquedistas, o campo ficou aberto e propício a quem, no terreno, estivesse melhor preparado para o ocupar.
O Dr. Álvaro Cunhal dirá o que entender, mas a sua tese permanece hoje historicamente indefensável. Nós sabíamos que iria ser tentado um golpe militar, apenas não sabíamos quando. Se não tivesse havido uma reação tão pronta e bem estruturada, não era impossível que se tivesse vivido em Portugal uma situação semelhante à cubana. Era o que muitos comunistas tinham na cabeça!
Como viveu o seu dia 25 de Novembro?
Estive em Lisboa, na sede do PS, a receber e a trocar informações com os meus camaradas e recolhendo dos militares as precisões possíveis. Na Amadora, instalara‑se um posto de Comando Operacional, coordenado por Eanes — junto do qual estavam Tomé Pinto e outros oficiais que tinham vindo de Angola, após a inde‑ pendência, e que estavam, como nós, em absoluto decididos a combater um golpe comunista. No Palácio de Belém, montara‑se um posto de informações chefiado pelo tenente‑coronel Ferreira da Cunha. Diversas informações vindas daí chegaram até ao PS. Ao fim da tarde, já após ter sido decretado por Costa Gomes o «estado de emergência», mas quando a situação militar era muito confusa e Lisboa estava cercada, decidiu‑se, numa reunião da direção do partido, que alguns de nós iríamos para o Porto, conforme pudéssemos. Ainda reunimos — alguns de nós — numa casa que Victor Cunha Rego tinha no Estoril, onde se assentou no percurso a seguir para evitar a estrada do Norte, controlada pelas milícias populares. Recordo que Salgado Zenha ficou em Lisboa e que o Tito de Morais passou essa noite, sozinho, com a Maria Emília, sua mulher, a guardar a sede do PS, na Rua da Emenda. Era necessário prever uma situação em que se desse a divisão Norte‑Sul e estar preparado para ela. No Estoril, lembro‑me de ter visto, no ecrã da televisão, Duran Clemente ser abruptamente substituído pelo ator Danny Kay, e soube depois que, nessa providencial «substituição», João Soares Louro, que trabalhava então na RTP, e o grupo socialista da empresa tiveram um papel determinante: concertado com a gente do Porto, cortou a emissão em Lisboa e transferiu‑a para os estúdios do Norte. Segui para o Porto de automóvel — na companhia da minha mulher, do Manuel Alegre, do Jorge Campinos e do Cardia, julgo —, do Estoril para Sintra, indo sempre pela estrada da costa, até às Caldas da Rainha. Dali seguimos pela Nazaré e São Pedro de Moel até ao Porto, onde chegámos de madrugada. A meio do caminho, lembro‑me de que ouvimos um fado na rádio. Pareceu‑nos o sinal de que a situação mudara irreversivelmente. No Porto, deixámos a Maria de Jesus no Hotel Batalha — era o meu velho hotel do tempo da «clandestinidade» —, dirigindo‑nos para o quartel‑general do Norte, onde nos fomos pôr à disposição de Pires Veloso e Lemos Ferreira. Quando chegámos, estes dois militares ainda não se encontravam tranquilos, embora as informações recolhidas fossem positivas. Jaime Neves e os Comandos haviam já começado a atuar e os fuzileiros não haviam saído. Pouco tempo depois, tudo começou a regressar à normalidade…
Sabe‑se hoje que Mário Soares poderia, se necessário, contar com a colabaração dos serviços secretos britânicos. Como?
Talvez uma semana antes do 25 de Novembro, o então primeiro‑ministro James Callaghan enviara‑me um oficial do Intelligence Service que eu, através de Jorge Campinos, apresentei aos militares operacionais que, entretanto, tinham começado a gizar o seu plano militar — conforme Callaghan conta nas suas Memórias. A consumar‑se a divisão entre o Norte e o Sul do País, o Reino Unido não só nos apoiaria politicamente, como colaboraria ainda com Portugal através de apoios concretos. Prometeram‑nos fazer chegar rapidamente ao Porto combustível para os aviões e também armamento.
Só isso?
Mais nada, que eu tivesse conhecimento. Recordo‑lhe que não sou militar nem operacional: sou político. E os políticos não têm que entrar nesse tipo de detalhes. Neste caso, limitei‑me a estabelecer os laços políticos, decorrentes da Conferência de Estocolmo, uma reunião que já lhe referi, realizada pela Internacional Socialista, nesse mesmo verão de 75, para apoiar a democracia portuguesa. Houve uma oferta concreta, da parte de James Callaghan, então primeiro‑ministro de Sua Majestade. Quando cheguei a Lisboa, comuniquei‑a a quem de direito: os militares operacionais. Contactava, além disso, com diversos embaixadores, como o americano Carlucci. Os meus amigos europeus da Internacional Socialista, no governo em vários países, estavam ao corrente das minhas preocupações e da tensão que se vivia em Portugal. Entre todos os embaixadores acreditados em Lisboa com quem falava, na altura, aquele que via menos era o da França. Quando, nesse ano, falei com Giscard d’Estaing, numa deslocação a Paris, fiquei com a impressão de que, tal como Kissinger, ele considerava que Portugal era um caso perdido. O que faria sentido, na sua perspetiva, era ajudar Spínola e as forças que se encontravam já no exterior do País. Não acreditava muito na nossa capacidade de resistência…
Giscard d’Estaing ajudou o general Spínola?
Não sei se concretizou ou não essa ajuda. Retenho que me deu a entender que era, no estado a que as coisas tinham chegado, o que, na sua opinião, fazia sentido. Disse‑me claramente que via com extrema preocupação a conjuntura político‑militar que então se vivia em Portugal…
Entre os dias 26 e 27, Jaime Neves voltou a entrar em cena, tomando o Regimento da Polícia Militar; os paraquedistas de Tancos render‑se‑ão, o mesmo fará o RALIS, tendo porém Diniz de Almeida, major dessa unidade, apresentado a sua própria rendição, horas antes, no Palácio de Belém, confes‑ sando a sua implicação nos acontecimentos; Otelo demitiu‑se do COPCON e Carlos Fabião, de chefe do Estado‑Maior do Exército. A situação normaliza‑ va‑se. Mário Soares respirou fundo?
Regressei de imediato a Lisboa, depois de mais uma memorável manifestação, na Praça Humberto Delgado, a que assistiu Pires Veloso. Não era ainda claro, para mim, que a situação estivesse totalmente invertida a favor da democracia.Tinha a convicção de que uma batalha fora ganha, mas que a guerra ainda não terminara. Era vital dar outro fôlego ao VI Governo, proporcionar condições ao ministro das Finanças, Salgado Zenha, para resolver algumas questões financeiras prementes, com vista a estabilizar económica e socialmente a situação do País. As duas grandes batalhas políticas que se anunciavam eram cruciais: a aprovação da Constituição e as eleições legislativas e presidenciais. Considero, aliás, que houve cinco grandes datas marcantes na nossa Revolução: o próprio dia 25 de Abril; o dia 1 de Maio, com a ratificação popular da Revolução; as eleições para a Assembleia Constituinte, que legitimaram nas urnas, em 25 de abril de 1975, o processo político iniciado um ano antes; o dia 2 de abril de 76, com a aprovação da Constituição. A quinta data marcante teve a ver com as primeiras eleições legislativas, em 25 de abril de 1976, ganhas de novo pelo PS, que iniciaram um processo de normalização democrática, que decorreu durante todo o ano de 1976, com as eleições presidenciais, regionais e autárquicas. No meu horizonte estavam ainda duas grandes preocupações: a situação económico‑financeira do País, à beira da bancarrota, e a situação social nas empresas, de enorme instabilidade. Foi a época em que começaram a chegar, em força, os chamados «retornados» de África, para os quais foi necessário encontrar alojamento, trabalho e um mínimo — que se revelaria um máximo! — de solidariedade…
Considera que o 25 de Novembro foi o fim da Revolução?
Não. Foi, obviamente, um ponto de viragem, que marcou — como dizer‑lhe? — o fim da desfilada em que estávamos a correr para o abismo. Foi um recomeço; um regresso à pureza inicial do 25 de Abril; um rasgar de novos horizontes de esperança, com a consolidação da democracia pluralista, num ambiente político de convivência cívica, de alguma paz social e de concórdia nacional.

















