Em 1791, ainda Napoleão não tinha 22 anos, redigiu um ensaio destinado a um concurso literário da Académie de Lyon, subordinado ao tema “Quais são as mais importantes verdades e valores a aprender pelos homens para serem felizes?”. Nele fazia uma condenação da ambição e da soberba e reprovava a actuação de Alexandre III da Macedónia: “Que faz Alexandre, o Grande, quando se precipita de Tebas para a Pérsia e daí para a Índia? Sempre inquieto, perde o bom senso, vê-se a si mesmo como um deus”. A denúncia da excessiva ambição de Alexandre é recorrente nos livros e perorações sobre história, mas neste caso ganha uma ressonância irónica, já que a carreira subsequente de Napoleão se presta a crítica análoga. Na verdade, a censura a Alexandre por Napoleão já era hipócrita em 1791, dado que, como escreve Andrew Roberts, ainda no dealbar da adolescência, enquanto os seus colegas “faziam desporto lá fora, [Napoleão] lia tudo o que encontrava sobre os mais ambiciosos líderes do mundo antigo. Para Napoleão, o desejo de imitar Alexandre, o Grande, e Júlio César não era algo de estranho”, e tinha “a expectativa de que também ele, um dia, poderia perfilar-se ao lado dos gigantes do passado” (pg. 13).

Bonaparte quando estudante na Academia Militar de Brienne, c. 1780. Litografia por Job (pseudónimo de Jacques Onfroy de Bréville) incluída no livro Bonaparte (1908) por Georges Montorgueil
Napoleão viria a realizar esta aspiração juvenil e a tornar-se numa personagem “bigger than life”, e, ainda que não tenha conquistado a Pérsia e a Índia – intento que chegou a considerar – e a sua incursão no Egipto tenha tido inglório desfecho, conseguiu dominar boa parte da Europa e imprimir em muitos países que ocupou marcas profundas que perduram até aos nossos dias. O epíteto “o Grande”, que o historiador britânico Andrew Roberts (n.1963) escolheu para título da biografia que publicou em 2015, justifica-se plenamente. Na verdade, Napoleão foi suficientemente “grande” para conter dentro de si duas personagens, o general Bonaparte e o imperador Napoleão, tão contraditórias entre si que, se tivessem coexistido, é provável que o primeiro tivesse tentado derrubar o segundo.
Napoleão, o Grande chega a Portugal nove anos depois da edição original, com tradução de José Mendonça da Cruz e pela mão da D. Quixote. Assume a forma de um imponente tomo de 971 páginas, com qualidade de papel, impressão e encadernação acima da média e, embora não reproduza o índice remissivo detalhado da edição inglesa, ao menos oferece um índice onomástico simplificado, o que já não é mau para o panorama editorial nacional. Inclui ainda 29 mapas e uma árvore genealógica da família Bonaparte – peças indispensáveis para o leitor se orientar numa obra que envolve centenas de personagens e decorre em outros tantos cenários – e 86 ilustrações a cores (como extratexto).
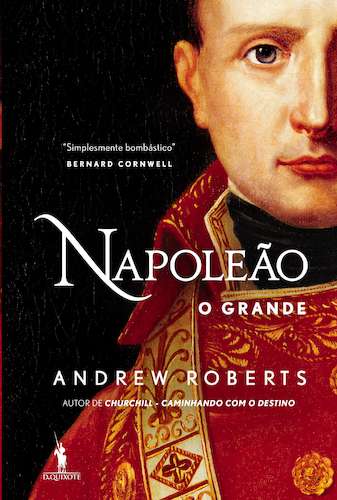
A capa do livro, uma edição D. Quixote
A extensão e densidade da obra não devem afastar os leitores menos treinados na “corrida de fundo”, pois Roberts consegue o prodígio de combinar rigor e minúcia com uma prosa fluida e clara e sabe equilibrar a visão panorâmica, que nos dá a ver o militar e o estadista de génio, com pequenas vinhetas íntimas – comoventes, cómicas, mesquinhas ou ridículas – que nos revelam o homem. Esta proeza não será inesperada para quem tenha lido A tempestade da guerra: Uma nova história da II Guerra Mundial (The storm of war: A new history of the II World War, 2009), publicado em Portugal pela Texto, e em que Roberts consegue entrelaçar as decisões tomadas na sala dos mapas dos estados-maiores com os dramas individuais dos soldados e civis arrastados no torvelinho gerado por essas decisões. Os dois livros têm outra particularidade em comum: apesar de o mercado estar saturado de histórias da II Guerra Mundial e de biografias de Napoleão, “A tempestade da guerra e Napoleão, o Grande impõem-se claramente como recomendações prioritárias nas respectivas categorias.
Dada a vastidão e natureza caleidoscópica de “Napoleão, o Grande”, o presente artigo apenas abordará algumas das facetas do colosso histórico. De fora, ficará aquela por que é mais celebrado, a de comandante militar, que Roberts trata com colorido, vivacidade e profundo conhecimento, que provém não só de livros, estudos e documentos históricos como do facto de se ter dado ao trabalho de visitar 53 dos 60 campos de batalha em que Napoleão combateu (diga-se de passagem que Roberts é vice-presidente da Guild of Battlefield Guides, uma associação de guias especializados em campos de batalha históricos). A quem se interesse pelo assunto, recomenda-se outro livro de Roberts também disponível em Portugal, Waterloo: 18 de Junho de 1815: A batalha pela Europa moderna (Waterloo: Napoleon’s last gamble, 2005), nas Edições 70, que é integralmente dedicado à derradeira batalha travada por Napoleão e que, para lá de ter os méritos da clareza e concisão, partilha outras virtudes elogiadas nesta biografia.
Napoleão, o Corso
Há muitos tipos de tiranos e Napoleão pouco tem a ver com Stalin em termos de personalidade, actuação e entendimento da política e do mundo. Todavia, têm em comum, para lá do cinismo, duas características biográficas objectivas: ambos nasceram numa região periférica e relativamente pouco desenvolvida – a Córsega e a Geórgia, respectivamente – do país de que viriam a tornar-se senhores absolutos, e, até ao fim das suas vidas, exprimiram-se na língua dos respectivos países com um sotaque que denunciava a sua origem.

Certidão de nascimento de Napoleone di Buonaparte, redigida, naturalmente, em italiano
O futuro “Imperador dos Franceses” foi baptizado como Napoleone di Buonaparte, como seria de esperar, já que a família era de origem italiana e a Córsega pertencera à República de Génova até ser conquistada por França em 1769 – o ano do nascimento de Bonaparte. O pai, Carlo Maria Buonaparte (1746-1785), que estudara Direito na universidade de Pisa, lutou por libertar a ilha do jugo genovês e, depois, contra os recém-chegados franceses, mas rapidamente se acomodou aos novos senhores e até foi nomeado representante da Córsega na corte de Luís XVI.
Em 1779, com nove anos, Napoleone di Buonaparte mudou-se para a França “continental”, para prosseguir os estudos, primeiro num curso intensivo de francês, com três meses de duração, em Autun, e depois na Escola Militar Real de Brienne-le-Château, onde o seu francês vacilante e com forte sotaque corso e o seu provincianismo eram alvo de troça pelos colegas (o que Roberts omite, preferindo realçar a sua rapidez de aprendizagem e a sua prodigiosa capacidade de memorização). Não é de estranhar que em 1785, com 15 anos, numa carta a um tio-avô, a propósito do falecimento, do seu pai, pouco antes, em Montpellier, Bonaparte lamentasse que o progenitor tivesse perecido num “país estrangeiro, indiferente à sua existência, longe de tudo o que lhe era precioso” (pg. 18).

Carlo Buonaparte, retratado c.1766-79 por Anton Raphael Mengs
Nesse mesmo ano de 1785, Bonaparte concluiu os estudos e foi colocado como segundo-tenente num regimento de artilharia – “um dos oficiais mais jovens (e o único corso) com um posto de artilharia no Exército francês” (pg. 20) – mas acabou por passar boa parte do tempo de licença na ilha natal, a tentar resolver assuntos relativos a negócios e propriedades da família. Estas estadias espicaçaram-lhe o sentimento nacionalista corso, levando-o a escrever um ensaio em que proclamava que “os corsos, em obediência a todas as leis da justiça, foram capazes de sacudir o jugo dos genoveses, e poderão fazer o mesmo com os franceses” (pg. 21). Em 1790, escreveu uma história da Córsega, “mas não conseguiu encontrar quem a publicasse” (pg. 31).
Porém, no final de 1792, quando regressou à Córsega, como tenente-coronel da Guarda Nacional Corsa, já estava “persuadido de que a melhor coisa que a Córsega poderia fazer era tornar-se uma província de França” (pg. 41), pelo que, na complexa situação política da Córsega, onde se digladiavam independentistas, monárquicos e republicanos, tomou o partido dos últimos. Resultou daqui que quando, em 1793, eclodiu uma revolta dos corsos contra os ocupantes franceses, a casa dos Buonaparte foi saqueada pelos independentistas e o Parlamento Corso baniu os Bonaparte, que foram obrigados a refugiarem-se na França “continental”. Bonaparte não mais regressaria à ilha natal, com excepção de uma breve escala, em 1799, quando fugia do Egipto, de regresso a França. Em 1796, deixou de usar o nome Napoleone di Buonaparte – a última vez foi nos documentos do seu casamento com Josefina – e passou a assinar como Napoléon Bonaparte.

Napoleão em 1792, quando tinha 23 anos e comandava o 2.º Batalhão de Voluntários Corsos, com o posto de tenente-coronel, num retrato de 1835 por Henri Félix Emmanuel Philippoteaux
Apesar de Bonaparte cedo se ter afastado das suas origens insulares e ter assimilado integralmente a identidade francesa, a propaganda britânica, pretendendo sugerir que ele era um “estrangeiro” sem legitimidade para conduzir os destinos de França, referia-se sistematicamente a ele como “General Corso”, “Ogre Corso”, “Demónio Corso” ou “Sesostris Corso” (numa alusão a um lendário e belicoso rei egípcio).
Napoleão, o Saqueador
Apesar de hoje se debater acrisoladamente a restituição de artefactos culturais expostos nos museus europeus que tenham sido obtidos mediante formas ilícitas ou pouco éticas – mais comummente, roubo ou pilhagem – nos países do “Sul Global” (expressão geograficamente incongruente mas que “pegou”), durante o período em que estes foram colonizados, ocupados ou intervencionados por potências europeias, não se dá a mesma atenção aos roubos e pilhagens de artefactos culturais associados aos conflitos entre países europeus (uma excepção são os “mármores de Lord Elgin”, que estão no British Museum e têm sido reiteradamente reclamados pela Grécia), apesar de o número de peças envolvidas nestes últimos ser, provavelmente, muito superior. E, neste segundo domínio, não houve saqueador mais voraz do que Napoleão – pelo menos até Hitler ter começado a assenhorear-se da Europa.

“Apossando-se das relíquias italianas”: gravura de George Cruishank no livro, de autor anónimo, The life of Napoleon: A hudibrastic poem in 15 cantos (1815)
Poderia alegar-se, em abono de Napoleão, que ele apenas continuara uma prática iniciada pela França Revolucionária, a pretexto de as obras de arte existentes nos outros países estarem “manchadas por uma longa história de escravatura”, sendo, portanto, legítimo “trazê-las para o berço das artes e do génio, da liberdade e da sacrossanta igualdade”, onde estariam acessíveis a todos. Mas se é certo que o Directório, quando, em 1796, colocou o jovem general Bonaparte a liderar a Campanha de Itália, o instruiu para “nada [deixar] em Itália que a nossa situação política o autorize a trazer consigo e que nos possa ser útil”, a verdade é que ele “assumiu entusiasticamente essa parte das incumbências” (pg. 89) e planeou meticulosamente a pilhagem, como se comprova, por exemplo, por uma carta enviada a Guillaume-Charles Faipoult, representante de França em Itália, em que solicita: “Envie-me uma lista de quadros, estátuas, cabinets e curiosidades em Milão, Parma, Piacenza, Modena e Bolonha”.

Bonaparte mostra, orgulhosamente, a um grupo de notáveis (possivelmente membros do Directório) a estátua “Apolo Belvedere” trazida do Palácio do Vaticano; gravura de 1797
Estes tesouros “estavam destinados a uma galeria de arte de Paris que teve o nome de Musée Central des Arts [em 1793-1893], depois foi chamado Musée Napoléon até 1815, e se chama até hoje Museu do Louvre”. “Napoleão desejava que aquilo que viria a ser o seu museu […] exibisse as maiores peças artísticas do mundo, mas também a maior colecção de manuscritos históricos”, declarando que queria “reunir em Paris num único corpo os arquivos do Império Germânico, os do Vaticano, de França e das Províncias Unidas [Holanda]” (pg. 90).
Em Fevereiro de 1797, após derrotar as tropas dos Estados Papais, o general Bonaparte forçou o representante do papa a assinar um tratado com condições leoninas, entre as quais se contava a obrigação de entregar “uma centena de quadros, vasos, bustos ou estátuas, tais que os comissários franceses determinem” (pg. 108). Numa carta ao Directório, Bonaparte deixava transparecer o regozijo com os resultados obtidos: “Vamos ter tudo o que é belo em Itália […] com excepção de um pequeno número de objectos de Turim e Nápoles” (pg. 134). Em Maio de 1797, após derrotar as tropas da República de Veneza, Bonaparte fez transferir para o (futuro) Louvre os quatro cavalos de bronze monumentais que adornavam a Basílica de S. Marcos e incluiu nos termos do tratado a obrigação dos venezianos de doar 20 telas e 500 manuscritos (pg. 146). Uma das telas confiscadas foi a monumental “As bodas de Canaan”, de Paolo Veronese, que se encontrava no mosteiro beneditino de San Giorgio, e que, por medir 7 x 10 metros, levou os soldados franceses a, muito expeditamente, cortá-la em fatias horizontais, de forma a facilitar o transporte para França.

Retirada dos cavalos de bronze da Basílica de S. Marcos, numa gravura de 1797 intitulada “Entrada dos franceses em Veneza” e realizada por Jean Duplessis-Bertaux a partir de pintura de Carle Vernet. Vale a pena notar que os “cavalos de bronze de S. Marcos” eram produto da pilhagem de Constantinopla pela IV Cruzada, em 1204 (e não são de bronze mas de cobre)
Este procedimento rapace foi repetido em todos os países que Napoleão invadiu e foi imitado pelos seus generais e soldados, à medida da audácia e das capacidades de cada um. As pilhagens a título individual nem sempre produziram proveito para os saqueadores como se depreende desta descrição, pelo conde de Langeron (Alexandre Louis Andrault, general francês ao serviço da Rússia), do cenário apocalíptico da travessia do Rio Berezina, em Novembro de 1812, quando da retirada da Grande Armée de Napoleão através da Rússia: abandonados na margem do rio ficaram “cálices sagrados das igrejas de Moscovo, a cruz dourada da Igreja de São João, o Grande, colecções de gravuras, numerosos livros das soberbas bibliotecas dos condes Buturlin e Razumovsky, pratos de prata e até mesmo serviços de porcelana” (pg. 656).

“Entrada triunfal dos monumentos das artes e ciências em França e respectivos festejos”: A gravura, impressa em 1802, representa a chegada, em Julho de 1798, ao Champs de Mars, em Paris, dos artefactos, documentos, colecções de fósseis e animais exóticos pilhados na Campanha de Itália. Os cavalos de S. Marcos surgem ao centro
Escreve Roberts que, após a derrota de Napoleão, os quadros que “reunira e colocara no Louvre foram retirados e devolvidos às potências europeias” (pg. 759), afirmação que sugere, erradamente, que assim ficou revertida a rapina napoleónica. Ora, por um lado, os repatriamentos apenas abrangeram as obras na posse do Estado francês, deixando de fora o que fora pilhado a título individual por militares e funcionários franceses, bem como o que, tendo sido apropriado em nome do Estado francês fora, entretanto, transferido para mãos privadas. Por outro lado, não havendo precedentes no domínio da política de restituições, as negociações foram conduzidas de forma errática e pouco rigorosa, deixando zonas cinzentas e espaço para arbitrariedades – que permitiram, por exemplo, ao czar Alexandre I comprar para o recém-criado Museu Hermitage obras pilhadas por Napoleão noutros países e doadas a Josefina, sua esposa. Para mais, a devolução deparou-se com divergências sobre quem suportaria os custos de transporte e, sobretudo, com a obstinada resistência dos funcionários dos museus franceses, nomeadamente de Vivant Denon, director do Louvre (na altura ainda Musée Napoléon). Por exemplo, “As bodas de Canaan”, de Veronese, ficaram retidas no museu porque Denon argumentou (falsamente) que o seu estado de conservação impedia que fosse transportado; hoje, o quadro continua exposto no Louvre e o Estado italiano e a sociedade civil italiana parecem estar completamente conformados com o facto, o que é difícil de perceber, dado que é quadro que vale bem dois ou três municípios como Olivença.

“As bodas de Canaan” (1562-63), de Paolo Veronese
Outra obra superlativa, “A coroação com espinhos” (1542-43), de Tiziano Vecellio (que o pintor alemão Fritz von Uhde qualificou como “o maior quadro alguma vez pintado”), foi levado pelos franceses da confraria de Santa Maria delle Grazie, em Milão, em 1797, e continua hoje no acervo do Louvre, por, no Congresso de Viena, a Áustria, que, à data era detentora do ducado de Milão, simplesmente não ter reclamado a sua devolução.
Resultou daqui que, no que respeita aos quadros provenientes de Itália, só 249 de um total de 506 foram restituídos; dos restantes, 248 ficaram (até aos nossos dias) em França e nove foram dados como perdidos, conforme inventário realizado pelo célebre escultor (e diplomata da Santa Sé) Antonio Canova.
Os cavalos da Basílica de S. Marcos, que chegaram a encimar o arco do triunfo da Place du Carrousel, em Paris (não confundir com o bem mais conhecido arco da Place de l’Étoile), foram devolvidos a Veneza, mas estima-se que cerca de metade dos artefactos e documentos arrebanhados por Napoleão pela Europa fora ficaram retidos em França e que muitos outros se perderam, sofreram danos irremediáveis no transporte ou acabaram nas mãos de outros proprietários que não os originais.

“A coroação com espinhos” (versão do Louvre, 1542-43), de Tiziano Vecellio; existe outra versão deste quadro, menos requintada, datada 1576, que se encontra na Alte Pinakothek de Munique
Napoleão, o Escritor
Napoleão não se limitou a ser tema de 60.000 livros – também nos legou milhares de páginas de sua lavra. Roberts considera que “Napoleão foi um escritor falhado, tendo redigido cerca de 60 ensaios, novelas, textos filosóficos, tratados, panfletos e cartas abertas até aos 26 anos” (pg. 21) e que a sua verve “literária” abrangeu finalidades assaz prosaicas – “o furor da escrita abrangia a redacção de normas para a messe dos seus oficiais, que arranjou maneira de transformar num documento de 4500 palavras” (pg. 26).
Os excertos, transcritos por Roberts, das investidas do jovem Bonaparte na ficção revelam enredos rocambolescos e um tom inflamado e melodramático – uma combinação que, à distância de mais de dois séculos, resulta nauseante. Em 1795, com 26 anos, quando já dera provas do seu talento militar no cerco de Toulon e fora promovido a general, foi colocado no Gabinete Topográfico, um departamento do Ministério da Guerra, e aproveitou o horário esdrúxulo e o ritmo de trabalho pouco premente desta entidade para escrever a novela Clisson et Eugénie. Esta inspirava-se em Os sofrimentos do jovem Werther (1774), de Goethe, um dos livros de maior sucesso na época (e que o jovem Bonaparte tinha lido sete vezes), mas também incorporava elementos autobiográficos – a personagem Clisson é, manifestamente, um alter ego de Bonaparte. Roberts apela a que se procure “ver Clisson et Eugénie com os olhos literários do século XVIII, mais do que como um romance de cordel actual” (pg. 64), mas o que o resumo e os excertos transcritos por Roberts revelam é algo que, em qualquer época, só pode ser classificado como uma pepineira.

Johann Wolfgang von Goethe, retratado em 1810 por Gerhard von Kügelgen. Dois anos antes, Napoleão visitara o seu ídolo literário na cidade de Erfurt e tiveram uma aprazível e erudita conversação
Clisson et Eugénie marcou o termo das incursões de Bonaparte na ficção – sem qualquer prejuízo para a história da literatura, a julgar pelas amostras – mas nem por sombras significou a extinção do “furor da escrita”. Se os afazeres de Napoleão como comandante militar e estadista contribuíram para que deixasse de ter tempo para engendrar novelas, por outro lado suscitaram uma torrencial produção de cartas, a que se juntam as muitas que escreveu a título particular, às esposas, à família e ao seu círculo de relações – o total das que chegaram até nós ronda o espantoso número de 33.000. A sua edição integral, iniciada em 2004 (as edições anteriores tinham deixado muitas cartas de fora e tinham reproduzidos outras de forma truncada), permitiu, segundo Roberts, “uma genuína reavaliação de Napoleão e serviu de alicerce ao [presente] livro” (pg. xxii).
No exílio em Santa Helena, Napoleão voltou a ter tempo para se dedicar à produção literária, tendo ditado “um livro de 238 páginas sobre Júlio César […] cheio de tonalidades autobiográficas” (pg. 825), que seria publicado apenas em 1836, com o título Précis des guerres de Jules César. Antes disso, empenhou-se (por vezes 12 horas por dia) a ditar as suas memórias, que seriam publicadas, em 1823, em quatro volumes, com o titulo Le mémorial de Sainte-Hélène.

Napoleão em Santa Helena, ditando as suas memórias ao conde de Las Cases, por William Quiller Orchardson, 1892
Nestas, “exagerava os feitos, menosprezava as derrotas e invocava um pan-europeísmo que nunca fora a sua política” e tecia considerações pouco abonatórias sobre todos os seus adversários e rivais – incluindo os de outras épocas históricas, como Alexandre, o Grande (“nunca fez belas manobras dignas de um general”). Roberts assume que Le mémorial de Sainte-Hélène foi efectivamente ditado por Napoleão, recorrendo a vários “secretários”, enquanto alguns historiadores defendem que a redacção e edição couberam integralmente a Emmanuel de Las Cases, com base nas longas conversações que manteve com Napoleão no exílio. Independentemente da parcela de crédito de Napoleão nesta obra, é irónico que, enquanto as numerosas tentativas do jovem Bonaparte para obter reconhecimento literário redundaram todas em fiasco, as suas memórias se tornaram no “maior campeão de vendas internacional do século XIX” (pg. 825).

Napoleão ditando as suas memórias aos generais Montholon e Gorgaud, na presença do marechal Bertrand e do conde de Las Cases. Quadro oitocentista por autor anónimo
Napoleão, o Misógino
Ao longo da vida, Napoleão foi emitindo opiniões sobre o sexo feminino que, mesmo para os padrões da sociedade patriarcal europeia da viragem dos séculos XVIII-XIX, são classificáveis como sexistas. Roberts atribui “o profundo cinismo que Napoleão viria a nutrir pelas mulheres e até pelo amor” (pg. 60) ao facto de ter sido rejeitado por Désirée Clary. Esta era irmã de Julie Clary, que se casara em 1794 com José Bonaparte, irmão de Napoleão, e Désirée (a quem Napoleão, bizarramente, tratava por “Eugénie”) e Napoleão ficaram noivos no ano seguinte. Porém, o interesse de Désirée por Napoleão arrefeceu rapidamente, deixando-o desconsolado e levando-o a escrever, numa carta a José, que “A vida é como um sonho vazio que se esfuma” e a tentar verter a desilusão e o amor-próprio magoado na novela autobiográfica Clisson et Eugénie.

Désirée Clary (1777-1860), retratada em 1807 por Robert Lefèvre
O acabrunhamento de Bonaparte durou menos de três meses, pois encontrou uma nova paixão em Josefina, que fora amante de Paul Barras (uma das principais figuras do Directório, responsável pela promoção de Bonaparte a general) e com quem se casou em 1797.
A vida de Désirée continuou a desenrolar-se na órbita dos Bonaparte, uma vez que era cunhada de José, e, após ser cortejada por um dos generais de Napoleão (Jean-Andoche Junot), acabou, em 1798, por casar-se com outro (Jean-Baptiste Bernadotte), o que, graças às reviravoltas no cenário político europeu desencadeadas por Napoleão, fez dela, em 1810, rainha da Suécia e da Noruega, quando Bernadotte subiu ao trono sueco como Carlos XIV (Karl III Johan).
Quanto a Josefina (Marie-Josèphe Rose Tascher, Joséphine de Beauharnais por casamento com Alexandre de Beauharnais), que tinha fama de arrivista e a quem um panfleto anónimo atribuía “uma avidez por dinheiro semelhante à de um usurário […] e um amor pelo luxo suficientemente grande para engolir as receitas de dez províncias” (in Josefina: Desejo, ambição, Napoleão (2013), de Kate Williams), encontrou em Napoleão alguém com meios para financiar o trem de vida com que sonhava. Todavia, no final de 1809, acabou por ser descartada (ainda que com generosos rendimentos), quando Napoleão concluiu que 1) Josefina não era capaz de dar-lhe um filho, e 2) Era conveniente, do ponto de vista geoestratégico, forjar uma aliança com o Império Austríaco, mediante casamento com a princesa Maria Luísa.

“O divórcio da imperatriz Josefina” (1843), por Henri Frédéric Schopin
Roberts oferece amostras representativas das convicções misóginas de Napoleão: “As mulheres não devem ser vistas como iguais dos homens. São, na verdade, apenas máquinas de fazer bebés” (pg. 288); “A educação pública quase sempre torna as mulheres inconstantes, coquettes e instáveis. Serem educadas […] é uma escola de corrupção para as mulheres. As mulheres são feitas para a reclusão da vida familiar e para viverem em casa” (pg. 291-92). Inclui, igualmente, amostras da sua visão cínica do amor: “[O amor é] a ocupação do homem ocioso, a distracção do guerreiro, a pedra em que tropeça o soberano”, “O amor não existe realmente, é um sentimento artificial nascido da sociedade” (pg. 60).
Napoleão, o Nepotista
Quando, em 1807, após colocar o seu irmão mais novo, Jerónimo (1784-1860), no trono da Vestefália, Napoleão escreveu-lhe uma carta em que o exortava a exercer “uma administração prudente e liberal” e a proporcionar ao seu povo “uma liberdade, uma igualdade, um bem-estar estranhos ao povo da Alemanha”, e fazia um elogio da meritocracia: “A população da Alemanha espera ansiosamente por esse momento em que aqueles que não são de nascimento nobre, mas que são talentosos, tenham igual direito de serem considerados para cargos” (pg. 481). Sendo Napoleão dotado de uma inteligência e de um conhecimento dos homens muito acima da média, este trecho só pode ser explicado por uma tremenda hipocrisia, já que a oferta do trono a Jerónimo era tudo menos meritocrática. Como escreve Roberts, Jerónimo (Jérôme-Napoléon Bonaparte) era “um rapaz que não tinha feito nada em 22 anos de vida, para além de se ter ausentado sem licença para a América [e] celebrado um casamento desaconselhável cuja anulação era apenas meio lícita” (g. 481). Aliás, dois anos antes, Napoleão escrevera ao irmão mais velho, José, uma carta em que se queixava de Jerónimo e anunciava que “a minha intenção muito firme é deixá-lo ir para a prisão por dívidas se a mensalidade não lhe basta […] É inconcebível que este jovem me prejudique por não causar senão inconveniências, e por ser inútil para o meu sistema” (pg. 413).

Jerónimo Bonaparte como rei da Vestefália, retratado em 1811 por François Gérard
Entre as muitas e clamorosas contradições de Napoleão, está o facto de, “ao arrepio do sistema meritocrático que perfilhara inicialmente, [ter colocado] irmãos claramente inadequados em posições-chave” (pg. 413). Além de ter feito de Jerónimo rei da Vestefália, fez de José (1768-1844) rei de Nápoles e, depois, rei de Espanha; de Luciano (1775-1840), príncipe de Canino; de Elisa (1777-1820), princesa de Lucca e Piombino e grã-duquesa da Toscânia; de Luís (1778-1846), rei da Holanda; de Paulina (1780-1825), duquesa de Guastalla e, por casamento, princesa de Sulmona e Rossano; indirectamente, fez de Carolina (1782-1839) grã-duquesa de Berg e rainha de Nápoles, por casamento com Joachim Murat, general a quem Napoleão ofereceu a suserania destes territórios.

José Bonaparte como rei de Espanha, retratado em 1808 por François Gérard
Além disso, fez do seu enteado, Eugénio (Eugène de Beauharnais, filho do primeiro casamento de Josefina), vice-rei da Itália (em 1805), e, quase de imediato, “a fim de cimentar a aliança da França com a Baviera”, arranjou o casamento de Eugénio com a princesa Augusta, a filha mais velha de Maximiliano I da Baviera, “apesar de ela estar noiva do príncipe Karl Ludwig de Baden, e de Eugénio estar apaixonado por outra mulher” (pg. 411); este matrimónio, celebrado em 1806, trouxe a Eugénio os títulos adicionais de duque de Leuchtenberg e de príncipe de Eichstätt.

Eugénio de Beauharnais como vice-rei da Itália, retratado c.1810-11 por François Gérard
Eugénio – que Napoleão adoptou formalmente como filho, em 1806 – revelou aptidões governativas e militares e lealdade, ao contrário dos irmãos de Napoleão, como este viria a reconhecer mais tarde: “Os meus irmãos causaram-me grande prejuízo”. Porém, só a ele tinha de censurar-se por tais escolhas, pois conhecia de antemão as limitações e fraquezas dos irmãos. Como realça Roberts, nos reinos e ducados onde Napoleão instalou os do seu sangue, “não faltavam reformistas locais pró-franceses a quem ele poderia ter entregado o poder […], que teriam feito muito maior trabalho do que a maioria dos franceses, quanto mais os membros da família Bonaparte, problemáticos, presunçosos, desleais e tantas vezes incompetentes” (pg. 414).
Segundo Roberts, estas nomeações resultaram de Napoleão “[ambicionar] imitar o engrandecimento dinástico dos Habsburgos, Romanov e Hanover” (pg. 415). Todavia, quase todas estas maquinações, envolvendo a atribuição de coroas e a imposição de casamentos de conveniência dos Bonaparte com a aristocracia europeia, se malograram. “Ironicamente, embora fosse com o propósito de arranjar um herdeiro imperial que Napoleão se divorciara de Josefina, viria a ser um neto dela, e não um descendente de Napoleão a tornar-se o próximo imperador de França”. Roberts refere-se a Charles-Louis Napoléon Bonaparte (1808-1873), filho de Luís Bonaparte, rei da Holanda, e de Hortense de Beauharnais, filha do primeiro casamento de Josefina, que reinaria em França como Napoleão III em 1852-70. E remata Roberts: “E são os descendentes directos de [Josefina] que hoje se sentam nos tronos da Bélgica, da Dinamarca, da Suécia, da Noruega e do Luxemburgo. Os dele não se sentam em nenhum” (pg. 562).

Napoleão III, retratado c.1865 por Alexandre Cabanel
Napoleão, o Contraditório
Quando trata da cerimónia de coroação de Napoleão, a 2 de Dezembro de 1804, Roberts, na sua formidável erudição e infalível sentido de oportunidade, evoca o ditador Manuel Mariano Melgarejo (que governou a Bolívia entre 1864 e 1871), que terá comparado “os méritos relativos de Bonaparte e Napoleão, que ele julgava serem duas pessoas distintas” (pg. 370). O equívoco é compreensível, por um lado porque Melgarejo era de origens muito humildes e quase não teve educação formal (aos 16 anos entrou para o exército como soldado raso e trepou, a pulso, até ao posto de general), por outro porque, com efeito, o general Bonaparte e o imperador Napoleão são pessoas diferentes – de tal modo que, reza a lenda, Beethoven terá, na Primavera de 1804, dedicado a sua Sinfonia n.º 3 a Bonaparte (então primeiro cônsul), mas, ao saber, pouco depois, que este se fizera proclamar imperador pelo Senado, terá, num acesso de fúria, rasurado o seu nome da página de título da partitura.
O jovem Bonaparte, diz-nos Roberts, “acolheu bem a Revolução [Francesa] […], abraçou o anticlericalismo e não se importou com o enfraquecimento da monarquia, pela qual não tinha particular respeito” (pg. 29). Porém, assim que foi nomeado primeiro cônsul, em Dezembro de 1799, iniciou uma deriva em direcção ao poder absoluto e às pompas monárquicas, de forma que o embaixador prussiano em Paris não tardou a notar que “tudo em redor do primeiro cônsul e sua mulher vai assumindo o carácter e etiqueta de Versalhes” (pg. 310).

Bonaparte como primeiro cônsul, retratado em 1803-04 por Jean-Auguste-Dominique Ingres
Um dos passos decisivos no processo de conversão do general Bonaparte no imperador Napoleão foi o plebiscito realizado a 10 de Maio de 1802, em que se perguntava “Deverá Napoleão Bonaparte ser cônsul vitalício?” e que se traduziu em 3.653.000 votos a favor e 8272 votos contra, permitindo a Bonaparte dar a ideia de “que era arrastado relutantemente para o poder vitalício” (pg. 322). Napoleão Bonaparte passou a assinar apenas com o primeiro nome, “como os monarcas faziam”, e introduziu sucessivas alterações na legislação e na estruturas executiva, consultiva e legislativa do Estado, de forma que “a nova constituição tinha […] uma aparência de participação política, mas o verdadeiro poder estava inteiramente em Napoleão” (pg. 324).
Em Fevereiro de 1804, enquanto tomava medidas para reprimir um golpe monárquico contra si e declarava “Procuram destruir a Revolução atacando a minha pessoa. Defendê-la-ei porque eu sou a Revolução”, ultimava os planos para romper definitivamente com o “republicanismo que a revolução proclamara”. Em Março, anunciou que, após ponderar a legitimidade da monarquia, concluíra que “só o príncipe hereditário podia evitar uma contra-revolução” (pg. 354) e, subservientemente, em Maio o Senado proclamou-o imperador. Napoleão consagrou-se, de imediato, à construção da sua imagem imperial: escolheu para símbolo do novo império, após considerar numerosas alternativas, uma águia de asas abertas, por esta afirmar “a dignidade imperial e recordar Carlos Magno”, e urdiu uma validação do seu novo estatuto mediante a convocação de um plebiscito sobre a instituição de um império hereditário, que produziu resultados tão ridículos como os do plebiscito de 1802, com 3.572.329 votos a favor e 2579 votos contra. É quase certo que, em ambos os casos, a resposta dos franceses foi um “sim” claro, mas Napoleão não resistiu a manipular as votações para poder ufanar-se de uma vitória esmagadora. O título oficial que adoptou após a sua proclamação como imperador – “Napoleão, pela graça de Deus e da Constituição da República, Imperador dos Franceses” – deixa à vista a incongruência da legitimidade que forjou para si mesmo.

“A coração de Napoleão” (1805-07), por Jacques-Louis David
Se a condição de “imperador” de uma “República” é dúbia, Napoleão não hesitou em assumir um trem de vida inequivocamente imperial: “No seu auge, a casa imperial de Napoleão abarcava 39 palácios, […] [e] tomando Luís XIV como exemplo, reintroduziu as missas campais, os banquetes e reuniões, as galas musicais e muitas outras pompas do Rei-Sol. […] Os palácios tinham um orçamento anual de 25 milhões de francos, constituindo a sexta maior parcela da despesa pública. […] Quando viajava por França seguia em 60 carruagens, num esforço voluntário para impressionar” (pg. 488).
Napoleão, o Microgestor
Poderia pensar-se que alguém que chegou a governar metade da Europa, participou em 17 campanhas militares e comandou tropas em 60 batalhas estivesse integralmente absorvido pelas grandes decisões da governação, da diplomacia e da movimentação de exércitos.

O Império Napoleónico na sua máxima extensão, em Setembro de 1812. Linha vermelha: O Império Francês e os seus satélites e aliados; violeta-escuro, França em 1804; violeta-claro, aquisições territoriais francesas após 1804; azul-cinza, estados-satélite; outras cores, estados aliados de França
Todavia, a sua mente irrequieta e a sua prodigiosa capacidade de trabalho permitiam-lhe, ao mesmo tempo, dar atenção a minúcias que, usualmente, estão vários patamares abaixo das preocupações de um imperador. Roberts polvilha o livro com dezenas de saborosas vinhetas que ilustram a irresistível propensão de Napoleão para a microgestão – eis uma pequena amostra:
Em 1804, quando preparava a invasão das Ilhas Britânicas (que nunca esteve sequer perto de se realizar), concebeu o uniforme para um corpo (nunca constituído) de “guias-intérpretes”, que incluiria “gibões de verde-dragão com forro vermelho, bainhas escarlates e botões brancos” (pg. 342). No âmbito dos mesmos preparativos, estipulou também o número máximo de criados que cada oficial da força invasora poderia levar consigo: quatro para os brigadeiros, dois para os coronéis (pg. 344). Estes afazeres não o impediram de, em simultâneo, instruir o ministro das Finanças para demitir a directora dos correios de Angers “por violação da confidencialidade da correspondência” (pg. 344).

“My ass in a bandbox”: Um cartoon por Robert Holborn escarnece dos preparativos de Napoleão para invadir as Ilhas Britânicas, em particular da qualidade das embarcações de transporte de tropas, que são comparadas a “bandboxes”, caixas de cartão usadas para guardar chapéus
Em 1805, escreveu “ao ministro dos Assuntos Religiosos ordenando-lhe que ‘comunique o meu descontentamento a M. Robert, padre de Bourges, que fez um sermão muito mau a 15 de Agosto’” (pg. 353), e ofereceu contributos para a interminável guerra de propaganda que opunha a França à Grã-Bretanha, idealizando cartoons antibritânicos e instruindo o ministro da Polícia para arranjar alguém que concretizasse as suas ideias: “Mande alguém desenhar caricaturas de um inglês, de bolsa na mão, a pedir a diferentes potências que fiquem com o seu dinheiro” (pg. 374). Em Agosto desse mesmo ano, enquanto preparava uma audaciosa e fulminante movimentação da Grande Armée, do litoral do Canal da Mancha para o Reno, para fazer face aos exércitos austríaco e russo, arranjou tempo para decretar “que a dança nas proximidades de uma igreja não fosse proibida, já que ‘dançar não é pecado’” (pg. 381) e para ordenar ao prefeito de Génova “que deixasse de levar a sua jovem amante, ‘uma rapariga romana que não passa uma prostituta’, ao teatro” (pg. 384).
A 16 de Julho de 1806, numa altura em que estava embrenhado em intensas e delicadas negociações para criar um novo equilíbrio geopolítico à escala europeia, escreveu a Joseph Fouché, ministro da Polícia: “Ontem, parece que um cocheiro causou um acidente que matou uma criancinha. Mande prendê-lo, seja ele quem for, e puni-lo severamente” (pg. 425).

Joseph Fouché, ministro da Polícia entre 1799 e 1815 e a quem Napoleão atribui, em 1808 o título (criado expressamente para ele) de duque de Otranto
É impossível não se ficar siderado perante tal capacidade de compartimentação mental e multitasking, mas, ao mesmo tempo, fica-se a matutar em quão cansativo e exasperante seria trabalhar directamente com alguém tão intrometido, frenético, incansável e, para mais, detentor de poder absoluto.
Napoleão, o Déspota Esclarecido
Argumenta Roberts que, apesar de ter governado como imperador, “Napoleão preservou e desenvolveu conscientemente os melhores aspectos da Revolução Francesa […] Durante os seus 16 anos de poder, muitas das melhores ideias que alicerçam e fortalecem os sistemas democráticos modernos (a meritocracia, a igualdade perante a lei, o direito de propriedade, a tolerância religiosa, a educação secular, as finanças públicas sãs, a eficácia da administração e assim por diante) foram resgatadas do furacão revolucionário e protegidas, codificadas e consolidadas” (pg. 844). E estes benefícios não ficaram restritos a França – estenderam-se, parcialmente, aos territórios do seu império: “Em 1810, já ia apontando a um império progressivo e unitário com legislação uniforme baseada no Código Napoleónico, secularismo iluminado e tolerância religiosa, igualdade perante a lei e uniformidade de pesos, medidas e moeda” (pg. 552).

Napoleão promulga a Constituição do Ducado de Varsóvia, em Dresden, a 22 de Julho de 1807. Quadro de 1811 por Marcello Bacciarelli
Para Roberts, “na sua fé no progresso racional e na possibilidade de uma ditadura benfazeja, Napoleão era o derradeiro dos absolutistas do Iluminismo” (pg. 551). Embora tivesse exercido um poder absoluto, defende Roberts que “Napoleão não foi um ditador totalitário, nem mostrava interesse em controlar todos os aspectos da vida dos seus súbditos” (pg. 844). Ora, se é verdade que a sua governação não foi totalitária, foi indubitavelmente autocrática – aspecto que Roberts não cobre com o mesmo entusiasmo e detalhe que usa para enaltecer as medidas progressistas de Napoleão. É bom recordar que ele instaurou a censura, fechou os jornais que veiculassem notícias e opiniões que lhe fossem desfavoráveis, tinha um entendimento da meritocracia que não incluía quem tivesse ideias diferentes das suas, manipulou, subjugou ou silenciou os outros órgãos de poder e minou a separação de poderes até se tornar no senhor absoluto de França. Veja-se, por exemplo, a forma como lidou com o Tribunat, uma das quatro assembleias que integravam o poder legislativo, tal como estabelecido pela Constituição do Ano VII (1799), e cuja função era avaliar e discutir a legislação antes de esta ser aprovada pelo Corps Législatif: começou por, mediante artifícios “de secretaria”, purgar o Tribunat de todos os membros que mostrassem ter pensamento independente e acabou por fazer com que o Senado (que também controlava) promulgasse um decreto a extingui-lo – a última sessão do Tribunat teve lugar a 18 de Setembro de 1807.

Napoleão visita o Tribunat, no Palais-Royal, a 19 de Agosto de 1807, num quadro por Merry-Joseph Blondel
É curioso que Roberts rejeite que Napoleão tivesse um excessivo “interesse em controlar todos os aspectos da vida dos seus súbditos”, uma vez que ele mesmo providencia ao longo do livro, abundantes exemplos de comportamentos dignos de um control freak. À data, ainda faltavam três décadas para a invenção do telégrafo e sete décadas para a invenção do telefone. Porém, na era da Internet, da localização por GPS, das câmaras de videovigilância, do reconhecimento facial e outro software biométrico, do smartphone, do recurso à triangulação para localização de chamadas de telemóvel, do spyware e da análise de Big Data, não seria improvável que um chefe de Estado que se dava ao trabalho de vigiar a qualidade dos sermões dos curas das cidadezinhas de província assumisse com gosto o papel de Big Brother orwelliano.
Roberts cita, aprovadoramente, um trecho do historiador H.A.L. Fisher que afirma que, pela Europa fora, Napoleão “estilhaçou a obstinada crosta de hábito e colocou largos ideais de combinação eficiente no lugar de um provincianismo estreito, desmazelado e letárgico” (pg. 551-52). Roberts enfatiza que “para grande número de pessoas em toda a Europa, Napoleão parecia representar as ideias de progresso, meritocracia e de um futuro nacional” (pg. 553), mas rejeita o mito de que “Napoleão fosse um crente no pan-europeísmo” e que o Império Napoleónico fora um precursor da União Europeia: “Em 1812, Napoleão propagandeou a ideia de que era defensor da civilização europeia e cristã, um barreira contra a barbárie das hordas asiáticas da Rússia, e que muito pesava no seu legado a ideia de unidade europeia, mas a verdade é que o seu Império foi sempre e primordialmente um projecto francês, e não europeu” (pg. 553).

Napoleão, erguendo a bandeira francesa, conduz as tropas através da ponte de Arcole (Itália), na batalha homónima, travada em Novembro de 1796, contra o exército austríaco. Quadro por Horace Vernet, 1826
Embora o Império Napoleónico tenha tido vida breve e, na maior parte dos países, as forças reaccionárias se tivessem empenhado na reposição da velha ordem, após libertarem-se do jugo francês, “foram muitas as reformas civis [de Napoleão] que vigoraram durante décadas, séculos até. O Código Napoleónico constitui a base da maior parte do Direito na Europa de hoje, e várias das suas figuras jurídicas foram adoptadas por 40 países de todos os continentes habitados” (pg. 845). Sendo inquestionável a relevância e méritos do Código Napoleónico (designado formalmente como “Code Civil des Français”), há que ressalvar (o que Roberts não faz) que 1) Napoleão não contribuiu directamente para a sua redacção; e 2) Não foi Napoleão quem iniciou o processo de unificação e modernização legislativa, pois desde 1793 que várias comissões tinham apresentado sucessivas propostas nesse sentido. Ainda assim, Napoleão foi quem, em 1800, nomeou a comissão, formada por quatro eminente juristas, responsável pela elaboração do “Code Civil des Français”, com a colaboração de vários outros juristas e estadistas e os contributos do Conselho de Estado e de numerosos magistrados; e, como não podia deixar de ser, Napoleão também presidiu a muitas das reuniões dessa comissão.

“Napoleão, coroado pelo Tempo, redige o Código Civil”, quadro de 1833 de Jean-Baptiste Mauzaisse, que contribui para consolidar a ideia de que foi Napoleão quem concebeu e redigiu o Código que ficou conhecido pelo seu nome
Napoleão, o Insaciável
Resta saber se os progressos que Napoleão trouxe a França e a parte da Europa compensaram a morte e destruição causadas pelas guerras em que esteve envolvido durante a parte mais substancial da sua vida adulta. O historiador britânico Max Hastings, no artigo “Everything is owed to glory” (The Wall Street Journal, 31.10.2014), faz um balanço francamente negativo e vê em Napoleão “um megalómano que causou mais miséria do que qualquer homem anterior a Hitler”.
Roberts tem uma visão muito mais positiva, mas, ainda assim, admite que “as Guerras Revolucionárias e Napoleónicas custaram um total de 3 milhões de baixas militares e 1 milhão de baixas civis, das quais 1.4 milhões foram francesas (916.000 do período do Império)”. Embora argumente que Napoleão herdou as guerras da Revolução Francesa, que, a partir de 1792, decidiu “exportar os valores e ideias da Revolução para o resto da Europa”, Roberts admite que “Napoleão tem, evidentemente, de ser responsabilizado por muitas dessas mortes” (pg. 845-46).

A retirada de Napoleão da Rússia, quadro por Adolph Norten, 1851. Dos 612.000 homens com que Napoleão entrou na Rússia, regressaram apenas 112.000; as baixas do lado russo terão sido de cerca de 400.000 homens
Muitas das ideias do Iluminismo e da Revolução Francesa que Napoleão difundiu pela Europa poderão ter sido benéficas e louváveis, como Roberts se afadiga a sublinhar, mas acontece que elas não foram inculcadas através do soft power, mas sim impostas pela ponta das baionetas. O próprio Roberts escreve que Napoleão “acreditava, como muitos franceses acreditavam, que as ideias modernas de governança poderiam ser disseminadas pela Europa mediante a intervenção da Grande Armée” (pg. 551). A ideia de Napoleão de que “tem de haver uma potência superior que domine todas as outras potências, com autoridade suficiente para as forçar a viver em paz umas com as outras – e a França é a mais bem colocada para esse propósito” (pg. 551) era de um insuportável chauvinismo e era receita garantida para um estado de conflito incessante com as outras potências.
Com efeito, foi isso que aconteceu até Napoleão ser remetido para o exílio em Santa Helena. Seguiram-se algumas décadas sem conflitos de grande dimensão entre potências europeias em território europeu, embora tenham existido atritos entre potências europeias em territórios ultramarinos, revoltas nos Balcãs contra o domínio otomano e a Guerra Russo-Turca de 1828-29 (a nona entre estes dois beligerantes). Só em 1853, quase 40 anos após a segunda abdicação de Napoleão, a França e a Grã-Bretanha se juntaram aos otomanos para combater a Rússia, na Guerra da Crimeia; o primeiro grande confronto bélico na Europa Ocidental, a Guerra Franco-Prussiana, só eclodiria em 1870.
Enquanto Napoleão esteve à frente dos destinos de França tentou sempre expandir a sua área de influência e, mesmo quando derrotado, resistiu energicamente à ideia de um tratado de paz que implicasse perdas territoriais para a França. E o que presidia a esta determinação, não era o desejo altruísta de difundir os valores do Iluminismo e da “Igualdade, Liberdade, Fraternidade”, mas a glória pessoal: “Devo tudo à glória. Se a sacrifico, deixo de existir. É da minha glória que me vêm todos os meus direitos […] Se trouxesse a esta nação, que está tão ansiosa de paz e cansada de guerra, uma paz em termos que me fizessem ruborizar pessoalmente, ela perderia toda a confiança em mim; veríeis o meu prestígio destruído e a minha ascendência perdida”, declarava Napoleão em 1813, perante sinais de que Prússia e Áustria se preparavam para se juntar a uma nova coligação (a sexta) contra a França (pg. 673). Retomaria o argumento pouco depois, numa carta ao imperador austríaco, seu sogro: “Concordo com uma paz geral e a convocação de um Congresso, mas, como todos os franceses de sangue quente, preferiria morrer de espada na mão a vergar-me, se tentarem impor-me condições” (pg. 681). Pela mesma altura, declarou que “se a arte da guerra fosse apenas a arte de não arriscar nada, a glória seria presa dos medíocres” (pg. 685).

“Napoleão atravessando os Alpes” (1801), por Jacques-Louis David. Deste quadro tem cinco versões (esta é a versão dita de “Malmaison”) e promove uma imagem idealizada de Napoleão como herói romântico e indómito; nas pedras no bordo inferior do quadro estão gravados os nomes de Bonaparte e, mais abaixo, os de Aníbal e Carlos Magno, dois grandes caudilhos que também tinham conduzido as suas tropas através dos Alpes e cuja glória Napoleão pretendia suplantar
No início de 1814, após ter sofrido uma sucessão de pesadas derrotas e com a Sexta Coligação nas fronteiras de França, admitia “que travei demasiadas guerras. Queria garantir à França o domínio do mundo” (pg. 722). Semanas depois, com os exércitos invasores a convergir sobre Paris e a Coligação a endurecer os termos para um tratado de paz (a ideia inicial, do regresso de França às “fronteiras naturais” dera lugar à exigência de um retorno às fronteiras de 1791, o que implicaria a perda da Bélgica), Napoleão obstinava-se: “Deverei violar a fé que tão confiadamente foi depositada em mim? Depois do sangue que foi derramado e das vitórias que foram ganhas, deverei eu deixar a França mais pequena do que a encontrei? Nunca! Poderia eu fazê-lo sem merecer que me chamassem traidor e cobarde?” (pg. 727)
Apesar desta intransigência, Napoleão acabaria por abdicar e aceitar os termos impostos pela Sexta Coligação e, em Abril de 1814, a caminho do primeiro exílio, na Ilha de Elba, adoptava um tom mais humilde e resignado: “Ter-me-ei enganado, talvez, nos meus planos. Causei dano com uma guerra. Mas é como se tudo fosse um sonho” (pg. 751).

Palácio de Fontainebleau, 4 de Abril de 1814: Napoleão cede à exigência de abdicação incondicional. Quadro por Paul Delaroche, 1845
Não é possível saber se este arrependimento era genuíno – seja como for, foi muito breve, pois em Março de 1815 já Napoleão estava de novo em solo francês para reivindicar o trono e prosseguir a guerra: “Franceses, no meu exílio ouvi vossas queixas e desejos […] Culpáveis-me por meu longo sono, acusáveis-me de sacrificar ao meu repouso os grandes interesses do Estado […] Por entre toda a sorte de perigos, vim perante vós reconquistar os meus direitos, que são os vossos” (pg. 765).
Mesmo os admiradores de Napoleão, que gostam de opor a sua formidável estatura, determinação e intrepidez às fracas, insípidas e pusilânimes figuras que dominam a paisagem política do presente, terão de reconhecer que esta proclamação, em que Napoleão traveste a sua insaciável sede de glória e poder e a sua irreprimível megalomania de gesto abnegado em prol do sofredor povo francês, é uma peça de demagogia digna dos mais hipócritas e oleosos politiqueiros do nosso tempo.

O 7.º Regimento, do coronel Charles de la Bédoyère, aclama Napoleão em Grenoble, a 7 de Março de 1815, poucos dias depois de ter desembarcado em França, vindo da ilha de Elba. Quadro por Charles de Steuben, 1818
Assim que reassumiu o poder, Napoleão enviou aos monarcas europeus uma carta, datada de 4 de Abril, em que tentava fazer tábua rasa do passado e se fingia tão inofensivo como um gatinho: “Depois de apresentar o espectáculo de grandes campanhas ao mundo, de agora em diante será mais agradável não conhecer outra rivalidade que não a dos benefícios da paz, de nenhuma outra refrega senão o sagrado conflito da felicidade dos povos” (pg. 779). Seria esta carta uma manobra de pura hipocrisia ou acreditaria Napoleão, genuinamente, que as potências que contra ele tinham lutado em seis coligações, entre 1792 e 1814, iriam dar crédito a um Napoleão renascido como “wellness & happiness coach” e aceitariam que continuasse a governar a França? Na segunda hipótese, Napoleão aproxima-se da posição dos próceres do III Reich que, em 1945, com o colapso da Alemanha por um fio, criam que os Aliados os aceitariam como interlocutores e que teriam um papel a desempenhar na governação do país no pós-guerra (ver Os homens e as mulheres que tornaram possível o III Reich: Monstros ou gente banal?).
Napoleão, o Pernóstico
No exílio em Santa Helena, Napoleão, ao remoer o seu passado, fantasiava que, após a derrota em Waterloo, se tivesse conseguido iludir a apertada vigilância da costa francesa pela Royal Navy, poderia ter “ido para a América e poderíamos ter fundado ali um Estado” (pg. 808)
É uma divagação que remete para a que teceu em relação à sua campanha no Egipto e na Síria: não só esta ficou longe de alcançar os seus ambiciosos objectivos, como, em Agosto de 1799, Napoleão, dando-se conta, após a derrota em Acre, do atoleiro em que estava metido, tratou de regressar (furtivamente) a França, abandonando a sua força expedicionária, que combateria ingloriamente durante mais um ano até ser forçada a render-se. Este fiasco obrigou Napoleão a renunciar a “todos os sonhos de tornar-se um novo Alexandre na Ásia” (pg. 204), mas nem por isso o seu desmedido ego deixou de fantasiar sobre os feitos que poderia ter logrado: “Teria fundado uma religião, via-me a mim próprio marchando para a Ásia, montando um elefante, de turbante na cabeça, e a minha mão num novo Corão que teria composto de acordo com as minhas necessidades” (pg. 204). Roberts vê alguma auto-ironia nesta divagação, mas a ilimitada presunção de que Napoleão deu mostras em múltiplas ocasiões também permite tomá-la pelo valor facial.

“Bonaparte e o seu estado-maior no Egipto” (1867), por Jean-Léon Gérôme: Napoleão não concretizou o sonho de invadir a Ásia montado num elefante, mas terá, ao menos, andado de dromedário no Egipto
A condenação ao desterro em Santa Helena é vista por muitos como uma pena demasiado cruel para tão cintilante talento. É certo que os cinco derradeiros anos de vida de Napoleão, em Santa Helena, foram lúgubres e cinzentos, sobretudo a partir do momento em que o mesquinho e bilioso general Hudson Lowe assumiu as funções de governador da ilha (ver Napoleão Bonaparte: O fim inglório do conquistador do mundo); por outro lado, mesmo que o seu “carcereiro” fosse mais humano e menos rígido, a pasmaceira que era Santa Helena pareceria sempre sufocante a alguém com a inteligência, verve, dinamismo e experiência de vida de Napoleão. Mas é compreensível que o Governo britânico não tenha querido correr riscos, após Napoleão ter faltado à palavra e ter fugido do bem mais aprazível exílio em Elba.

Esta gravura de “Napoleão em Santa Helena”, realizada a partir de desenho de Horace Vernet (1789-1863), dá-nos a ver uma figura prosaica, baça, espapaçada e abúlica, nos antípodas do Napoleão usual na iconografia. E, todavia, não é obra de um artista apostado em apoucar o retratado, já que Vernet era um fervoroso bonapartista e produziu numerosos quadros glorificando o seu herói
Por outro lado, apesar das suas indiscutíveis qualidades intelectuais – para Roberts, “em termos de pura capacidade intelectual e persistente aplicação dela na governação, não houve provavelmente nenhum outro governante que se lhe compare” (pg. 847) – Napoleão foi também uma manifestação extrema de um tipo de ser humano com que todos nos cruzamos na vida quotidiana: o macho-alfa egomaníaco e hiperconfiante, que julga perceber de tudo e ser melhor do que todos em todos os domínios e que passa o tempo a jactar-se dos feitos que cometeu, que poderá vir a cometer e que poderia ter cometido (já que, na sua mente revisionista, todos os seus fracassos estiveram à beira de ser retumbantes vitórias) – em suma, o tipo de pessoa que, após aturarmos a sua bazófia incontinente durante meia hora, desejamos ver atirada para uma ilha no canto mais remoto do Atlântico Sul.

“O túmulo de Napoleão, ou A apoteose de Napoleão”: cópia de um quadro, entretanto perdido, de Horace Vernet, pintado em Julho de 1821, assim que recebeu notícia do falecimento de Napoleão em Santa Helena, ocorrido dois meses antes
Breve nota sobre a tradução
A versão portuguesa faz jus à prosa desenvolta e transparente de Roberts, mas incorre em duas faltas que se justifica assinalar. A mais clamorosa é dar, sistematicamente, o nome de “Reno” a um rio que se percebe, pelo contexto, ser o Ródano (Rhône para os francófonos e anglófonos), o que é mais grave por o Reno (Rhin para os francófonos, Rhine para os anglófonos e Rhein para os germanófonos) ser também frequentemente mencionado ao longo do livro. Na pg. 552 surge uma frase ao arrepio da lógica, que resulta, possivelmente, de o tradutor ter sido vítima de uma das “esparrelas” mais disseminadas na tradução inglês-português: 1) assumir que a formulação inglesa “substitute A for B” significa “substituir A por B” e 2) não vacilar nesta convicção, mesmo quando o contexto deixa evidente (como é o caso) que significa o inverso (ou seja, “colocar A no lugar de B”).


















