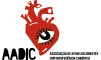“Saber o que fazer/com isto a acontecer/num caso como o meu”.
A canção dos Amor Electro ainda ecoa nos dias de Carlos Diogo, como se tivesse sido feita para ele, naquele verão de 2012, em que a “a máquina parou”. A máquina que ele era, afinal — num corrupio entre os noticiários da Rádio Felgueiras, as reuniões da direção da cooperativa a que presidia, os eventos que apresentava, a casa e a família — parou quando um AVC hemorrágico a obrigou a isso.
Era dia 29 de junho, dedicado a São Pedro, o padroeiro que naquele ano lhe voltou as costas, como costuma dizer. Na véspera, fora mais um dia cheio no âmbito das festas da cidade, com o concerto dos Amor Electro, a banda que ele próprio escolhera, na hora der dar o seu contributo à organização. Em permanente adrenalina — era assim a vida do jornalista Carlos Diogo. E foi assim que voltou para casa, depois do concerto, com a família, já de madrugada numa noite quente.
Deitou-se no sofá da sala e acabou por adormecer até de manhã. Quando tentou levantar-se, já não conseguiu. Passaram 12 anos e Carlos recuperou “alguma mobilidade”, mas a vida nunca mais foi a mesma. O lado esquerdo ficou irremediavelmente afetado, com sequelas que implicam o braço, a perna e o pé. Salvou-se a fala, instrumento de trabalho, afinal, e a visão. Hoje com 57 anos, Carlos passa muito do tempo que tem a dar o seu testemunho em palestras e conferências, às vezes vai às escolas também, falar da importância dos hábitos de vida saudáveis — que não tinha. De como é fundamental controlar os fatores de risco como a hipertensão, que tinha. Ele e a família aprenderam a conjugar o verbo “adaptar” de forma permanente.

Fátima Monteiro
“Sou a bengala humana do Carlos”
Quando tentou levantar-se, naquela manhã de feriado municipal em Felgueiras, Carlos caiu ao chão. Gritou pela mulher. Fátima apareceu primeiro, logo seguida do filho mais velho, que viria a ser peça fundamental na rede de apoio que entretanto se formaria. “O João percebeu logo que o pai não mexia o braço nem a perna. Eu pedia-lhe para ele me dar a mão, para o levantar, mas ele já não era capaz. Chamámos o 112, e os bombeiros, assim que o viram, disseram logo que era um AVC. Mas quando chegámos ao Hospital de Penafiel, a médica que o viu achou que também podia ser um aneurisma e por isso só quando fizessem a ressonância magnética é que teriam certezas”. O diagnóstico confirmou-se: um AVC hemorrágico, no lado direito, que lhe afetou o lado esquerdo.
Nos primeiros dias, Fátima ainda achava “que ele ia ficar uns tempos no hospital, mas que depois voltaria bem para casa”. Mas ainda em Penafiel, no Hospital Padre Américo — e, mais tarde, em Felgueiras, para onde foi transferido — percebeu que começava ali “uma aprendizagem, para o que mudaria na nossa vida”. “Quando o vi na cadeira de rodas… foi quando percebi”, diz a empresária de 58 anos. Ela e a irmã herdaram dos pais uma pequena fábrica têxtil. E foi essa autonomia que lhe permitiu acompanhar o marido em toda a recuperação.
Durante os quase três meses que durou o internamento entre hospitais, Fátima visitava-o duas vezes por dia. Ao mesmo tempo, em casa, uma vivenda com vista para a cidade, ia fazendo as alterações necessárias: montou um quarto no rés-do-chão, mandou fazer obras na casa de banho para a adaptar às necessidades do marido. Um dia, quando já se sabia que Carlos iria ter alta, perguntou frontalmente à neurologista que passava na visita médica se ele ainda ia melhorar mais do que aquilo. “O olhar dela disse tudo”. “Desde que ele entrou nas urgências, soubemos que era grave. Na altura os médicos advertiram que as 72 horas a seguir iriam ser cruciais, porque poderia ter outro AVC. Felizmente não teve, mas não deixava de ser muito grave.
A parte esquerda estava completamente paralisada”, recorda Fátima, que passou a ser o apoio do marido para tudo. “Ele diz-me muitas vezes que eu sou a bengala humana. Ainda assim, o Carlos recuperou muito. Eu acho que ele até recuperou muito bem. Quando ele veio para casa, tinha que o ajudar a fazer tudo. Depois passei a ajudá-lo e ele já conseguia tomar banho. Mas tinha que o ajudar a limpar, a pôr o creme, a vestir. De noite, se ele tinha que ir à casa de banho, eu tinha que o acompanhar”, recorda a mulher. Alguns anos e muita fisioterapia depois (que ainda hoje se mantém), o marido recuperou parte da autonomia. Mas nunca conseguiu voltar a apertar os cordões das sapatilhas, ou os botões da camisa.
Nos primeiros tempos, Fátima acompanhava-o também à fisioterapia. Era um trabalho de equipa, na verdade: o filho, João, então com 19 anos, já conduzia e levava-os onde fosse preciso. “Foi toda uma aprendizagem, como digo. Ainda no hospital, as enfermeiras e auxiliares ensinaram-me a ajudá-lo a sair da cama, a levantá-lo. Quando ele veio para casa, eu já estava mais conformada”. “Com o tempo, a gente vai se habituando. Hoje já é uma rotina. Depois fomos sabendo outras histórias, e percebemos que há quem fique muito pior. Uma pessoa vai-se adaptando. Foi mau para ele, que ficou assim, mas também foi complicado para nós. Os cuidadores também passam muito”, sublinha.

Beatriz Diogo
“O meu pai ainda é a pessoa que alegra o sítio”
Beatriz tem 19 anos, estuda Ciências Biomédicas na CESPU (Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário), em Famalicão. Tinha apenas oito anos quando o pai sofreu o AVC, e por isso já viveu mais tempo com ele nesta condição, do que noutra. Mas tem memória de (quase) tudo o que aconteceu naquela época. Dormia tão sossegada, no andar de cima, que nem deu pela presença dos bombeiros, do aparato de emergência médica na sala. Quando acordou e desceu, lembra-se de ver o irmão a chorar, junto à bancada da cozinha. “Ele disse-me: ‘o pai foi para o hospital, acho que teve um AVC’”. As palavras soaram-lhe estranho. “Nunca tinha ouvido falar nisso. Mas naquela altura eu pensava como a minha mãe: que o pai ia ser tratado no hospital e depois voltava bem para casa. Quando somos crianças temos uma noção muito diferente do tempo. Eu hoje sei que ele só esteve duas semanas em Penafiel, e a mim pareceu-me uma eternidade”. A mãe evitava levá-la “para aquele ambiente de hospital”.
Das poucas vezes que foi, não reconhecia o pai, ali deitado. “Não parecia ele, que andava sempre de um lado para o outro”. Também ela acreditava que “ia voltar tudo a normal”. A mãe foi-a preparando: “que o pai não viria exatamente igual, que ia ter dificuldades, e todos tínhamos de ajudar”.
À medida que os anos passaram e Beatriz cresceu, normalizou as sequelas do AVC. “O meu pai ainda é a pessoa que alegra o sítio. Tenho poucas memórias de como era antes”, admite, ela que afinal terá tido um papel importante na recuperação do pai, sobretudo a nível emocional. “Eu dizia-lhe ‘nós estamos aqui contigo e vai continuar a ser tudo igual e pronto’. Eu acho que isso ajudou muito. Na verdade, eu agora olho para ele e nem penso que teve uma coisa qualquer. Para mim ele faz tudo, como sempre fez. Agora já tenho carta de condução, mas antes disso, bastava ligar e ia-me buscar, sempre”.
O curso de Ciências Biomédicas não aconteceu por acaso. Beatriz, agora no 2º ano, sempre disse que “queria ser médica”, sobretudo a partir do AVC do pai. “Os três primeiros anos são os mesmos da medicina”. Sempre que nas aulas os temas tocam as doenças cérebro-cardiovasculares, é ela quem leva vantagem. Porque sabe, na prática, o que acontece com um sobrevivente de AVC.

João Diogo
“Vestia-lhe o pijama e cortava-lhe a comida. Fiz o que foi preciso”
Aos 31 anos, João Diogo é o protótipo do jovem português que se viu obrigado a emigrar para alcançar trabalho e remuneração compatível. Mora em Barcelona há três anos, e trabalha para uma aplicação de telemóvel, ligada aos investimentos e criptomoedas. Estudou História e Relações Internacionais, mas as oportunidades não lhe apareceram. Nem por cá, nem na área.
Voltamos a 2012 e ao curso na Universidade Lusófona para recordar como João foi importante na rede de Carlos. Naquele 29 de junho, Dia do Município, a vida do jovem de 19 anos também seria abalada. Ele que nem costumava assistir ao cortejo das flores (“ficava a dormir”) acordou estranhamente cedo, com os gritos do pai a chamar pela mãe. Guarda a imagem da mãe, no chão, a tentar levantar o pai, “sem perceber o que se estava a passar”. João terá sido o primeiro a dar conta do AVC. E foi precisamente o que disse ao telefone, quando lhe atenderam do 112. Lembrava-se de uma tia, irmã do pai, que também sofrera um. “Mas no caso dela, foi a conduzir para o hospital. Não foi tão grave”.
Viriam tempos complexos para a família. João, que até então ficava no Porto, em casa de uns tios, durante a semana, voltou a casa para ajudar “no que fosse preciso”. Era ele quem conduzia, a maioria das vezes. “Quando o meu pai veio para casa é que nos apercebemos mesmo de como ele iria ser agora”, recorda. Olhando para trás, e mesmo sabendo que “a responsabilidade recaiu muito mais sobre a minha mãe”, lembra-se de como aprendeu a ser cuidador. Durante anos, até emigrar. “O meu pai sempre foi uma pessoa muito ativa, e depois de recuperar, voltou a ser um pouco. Eu cheguei a esperar por ele, para lhe vestir o pijama. Ou então, a cortar-lhe a comida. Muitas vezes levava-o também a certos sítios, acompanhava-o, para ele não ir sozinho. E depois, mais tarde, quando ele foi fazer fisioterapia para o Porto, a minha mãe ia com ele, e eu passava manhãs inteiras a matar tempo, enquanto ele fazia os tratamentos”.
João Diogo admira a capacidade do pai “continuar sempre a lutar por melhorar um bocadinho mais, ou pelo menos para não estagnar, e não piorar”. “Houve um determinado momento em que ele percebeu que não iria melhorar mais do que aquilo. Mas, ainda assim, é uma questão de se manter ativo”. João faz o mesmo, até para contrariar “o historial na família”. Pratica desporto, procura fazer uma alimentação regrada. Lá no íntimo, ficou o receio. E a memória do pai “todos os dias com dor de cabeça, sem ligar a isso”.

Vânia Ferreira
“Ele quer sempre melhorar”
O destino trocou as voltas a Vânia Ferreira pouco antes de entrar na universidade. Ela que sempre quis ser professora de matemática, decidiu-se à ultima hora pela fisioterapia. Foi a irmã, enfermeira, dois anos mais velha, que a influenciou, porque lhe notava aptidão para isso. Em 2011, um ano antes do AVC de Carlos Diogo, Vânia saiu da faculdade, no Porto, com o diploma na mão e pronta a começar. Depois de uma primeira experiência no Futebol Clube de Felgueiras, acabou por dedicar-se ao setor privado, em Vizela e Guimarães. “Neste percurso, ainda trabalhei num gabinete em Felgueiras, e foi aí que conheci o Carlos”, recorda a fisioterapeuta que o tem acompanhado nos últimos nove anos.
Duas vezes por semana, durante uma hora, repetem exercícios que facilitam a mobilidade. “Ele é um doente que nunca desiste”, diz a fisioterapeuta, que se tornou amiga da família. “O Carlos quer sempre melhorar, luta muito por isso, esforça-se. Merece efetivamente a rede de apoio que tem, sem a qual não era este Carlos. São todos muito preocupados e interessados. Por outro lado, se o Carlos não fosse esta pessoa, também não teria esta gente toda à volta dele, até os profissionais de saúde.”
Ao longo dos últimos anos muitos foram os doentes de AVC com quem a fisioterapeuta já trabalhou. Percebe bem a diferença, a evolução, até, na forma como deixam o hospital, bem diferente daquele 2012 experimentado por Carlos Diogo. “E nós também vamos mudando. Por exemplo, ao princípio, quando comecei com o Carlos, parece que até tinha algum receio de tocar, de magoar, quase medo ‘de partir’. Hoje sei que não há que ter medo. Há que os por a trabalhar, dar-lhes confiança e motivação para eles também quererem trabalhar e não desistirem. Porque todas as doenças são muito difíceis e se nos deixamos ir abaixo, e não temos ninguém que nos traga para cima, ainda se tornam mais difíceis de combater, de lutar contra elas”. De resto, voltamos sempre à família: “Podemos fazer o melhor trabalho nos hospitais e nos centros, mas eles [os doentes] estão com a família o resto do dia. Se realmente a família não está interessada, não tem paciência, não quer saber, é muito difícil de recuperar”. O contrário do que sucede ali.
Apesar de fazer vários domicílios, Carlos Diogo é, para ela, o único doente com esta patologia, atualmente. “Os doentes neurológicos são o maior desafio.” No caso particular de Carlos, gosta de o contar a outros, até para perceberem “que é possível sobreviver a um AVC e com qualidade de vida”. Se dúvidas houvesse, ainda há quinze dias vibrou com a notícia de que ele participara num exercício de vela. Sem medos.

Carlos Diogo
“Voltar a trabalhar e conduzir devolveu-me autonomia e liberdade”
Há uma memória que perpassa na sala, entre sofás, quando Carlos recorda aquele 29 de junho de 2012: “Eu ia na ambulância e a dizer aos bombeiros que às 9 horas tinha de estar com o presidente da Câmara, para ir apresentar o cortejo das flores”. A família ri-se com o episódio. Mas nas horas que se seguiram ao AVC, o jornalista não tinha noção do que lhe acontecera, do estado em que estava. “Lembro-me de estar no chão, com aquela sensação de não saber o que se estava a passar comigo, porque não conseguia levantar-me. A minha mulher a pedir que lhe desse a mão, eu a achar que estava a dar, só que não. Já não a mexia”.
Os dias anteriores foram stressantes, como eram tantos na vida de Carlos, uma vida a trabalhar na rádio, primeiro na locução/animação, mais tarde como jornalista encartado. Tinha dores de cabeça constantes, e numa rara ida ao médico ficou a saber que era hipertenso, condição herdada da mãe.
“Não, não fazia controlo. Eu sentia-me bem, não me doía nada (à exceção da cabeça, por vezes), trabalhava normalmente. Quero dizer… trabalhava muito. Uns tempos antes, quando fui ao médico, ele receitou uma medicação, que hoje sabemos não ser a adequada. Lá no hospital, soube que a origem do meu AVC foi um pico de tensão durante a noite”.
Entre os cuidados intensivos, a enfermaria (no Hospital de Penafiel), o internamento e e uma unidade de cuidados continuados, passaram quase quatro meses e mais dois hospitais: Paços de Ferreira e Felgueiras, já perto de casa.
Mas passados poucos dias, Carlos percebeu que a vida mudara, irremediavelmente, para sempre. “Pensava muito no que é que ira ser a minha vida dali por diante.” E como foi esse regresso a casa? “Foi esquisito. Estava no meu espaço, mas eu não o dominava, não conseguia alcançá-lo. Eu, no início, não tive a noção das minhas limitações. E então sofri várias quedas. Inclusive, no hospital, tinha uma pulseira diferente dos outros doentes a indicar perigo de queda, por não ter a noção das limitações. Quando estava no hospital, pensava que ia ficar um vegetal, porque eu queria ir à casa de banho, que era logo ali ao lado, e não conseguia sozinho. Foi muito complicado”.
Depois passou por uma “curta fase de revolta”. Rapidamente decidiu investir na fisioterapia, à sua conta, juntando à que fazia no hospital – e que ainda hoje mantém, em acompanhamento. “Mas na fase que devia ter feito, que é a fase aguda, que é logo a seguir ao AVC, deveria ter tido uma intervenção maior. É aí que há mais ganhos”. Faltou-lhe, a ele a e a muitos, nesse tempo, o que hoje é contemplado em protocolo. Carlos sabe-o bem, à conta do seu envolvimento na Portugal AVC, União de Sobreviventes, Familiares e Amigos. “Conheço a realidade atual, agora as coisas são diferentes. O acompanhamento é muito melhor”, diz.
Uma vez por mês, é ele quem promove os encontros do grupo de apoio de Penafiel, na casa do pessoal do Hospital. Depois de sofrer o AVC, Carlos Diogo tentou de tudo para recuperar mobilidade, à sua conta. Exemplo disso foi o Instituto Cubano, no Porto, e uma clínica em Manchester, Inglaterra. “A dada altura a terapeuta disse-me que já tinha tentado tudo, e que não haveria mais progressão”, recorda. Ainda no Porto, no Instituto Luso-Cubano de Neurologia, experimentou a verdadeira equipa multidisciplinar [composta por profissionais de várias áreas da saúde]. “Eu chegava lá, tinha um neurologista à minha espera, que me dava atenção, conversava um bocado comigo, depois vinha um fisiatra, ainda tinha um psicoterapeuta e depois finalmente o fisioterapeuta, os terapeutas operacionais. Era muito bom. Muito caro, mas muito bom”.
Um ano e meio depois, Carlos voltou a trabalhar. Aliás, sublinha sempre que essa foi uma das duas alavancas para voltar a sentir-se autónomo. A outra foi conduzir. Recorda, a propósito, “a ajuda de toda a gente: colegas, família, profissionais de saúde”. Atualmente, trabalha apenas três horas por dia. Continua a fazer cobertura noticiosa, sobretudo da atualidade política do concelho, na rádio onde começou, há quase 40 anos. Foi nessa altura que conheceu Fátima. Casaram em 1991.
A voz é a mesma, o olhar sobre a região também, só a vida é outra, algumas rotações abaixo. Com o tempo, Carlos percebeu que conseguiria fazer quase tudo, como dantes. Viajar, por exemplo. “No primeiro ano a seguir ao AVC, nem queria ir de férias”. Então percebeu que os hotéis e demais alojamentos “também já estão preparados para pessoas como eu”. E tem corrido mundo, sempre em família, amparado por essa rede. Os filhos orgulham-se do pai: “Ele faz tudo connosco. Vamos andar de barco, às vezes é difícil descer ou subir as plataformas, mas há sempre alguém a ajudar. Por isso vamos a todo o lado”, acrescenta a filha.
Em casa, continua a cozinhar, como já era seu hábito. Fátima ou Beatriz picam previamente a cebola para os refogados, e Carlos faz magia em forma de almôndegas, por exemplo. “É um ótimo anti-stress, uma terapia”. As outras, em modo terapia ocupacional, são feitas no Hospital Agostinho Ribeiro, em Felgueiras, quatro vezes por semana.
De vez em quando ainda apresenta eventos. A máquina parou, mas não deixou de tocar.
Arterial é uma secção do Observador dedicada exclusivamente a temas relacionados com doenças cérebro-cardiovasculares. Resulta de uma parceria com a Novartis e tem a colaboração da Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca, da Fundação Portuguesa de Cardiologia, da Portugal AVC, da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral, da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose e da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. É um conteúdo editorial completamente independente.
Uma parceria com:

Com a colaboração de: