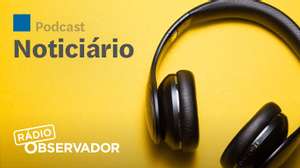O filósofo inglês Michael Oakeshott criou uma das metáforas visuais mais bonitas da história da filosofia quando imaginou os seres humanos como herdeiros “de uma conversação, iniciada nas florestas primitivas, alargada e tornada mais articulada no decorrer dos séculos”. Agarremos a sua imagem:
“De facto, não parece improvável que tenha sido o envolvimento nesta conversação (que nunca terá conclusão) que nos deu a nossa aparência atual: o homem descendendo de uma raça de símios que se sentaram a conversar durante tanto tempo e até tão tarde que desgastaram as suas caudas.”
Oakeshott pode, nesta medida, ser colocado na mesma tradição filosófica do alemão Hans-Georg Gadamer ou do norte-americano Richard Rorty, que enfatiza a dimensão dialógica da vivência humana. Nesta tradição, a filosofia surge mais como uma conversa do que como um modo de pensamento científico na procura por uma verdade final e radicaria na voz dos poetas, nomeadamente nos versos de Friedrich Hölderlin:
Muito experimentou o Homem.
Muitos celestes nomeou,
Desde que somos um diálogo
E podemos ouvir uns dos outros.
Ora, podemos usar este entendimento dialógico do homem e da sua história, da filosofia e da cultura para responder ao problema do “argumento da cultura ocidental” que o P. João Basto levantou há dias. Pertencer a uma determinada cultura significaria, então, fazer parte de uma conversa específica, que começou com certos elementos culturais e se foi desenvolvendo, como acontece nas conversas humanas, de diferentes modos, com diferentes visões e diferentes argumentos, mas sempre remetendo para um passado comum. Neste sentido, as culturas não contêm contradições, mas são o resultado de uma conversa repleta de visões plurais e que se vai tornando mais complexa com o passar do tempo. Simultaneamente, as diferentes manifestações da cultura humana dão origem a diferentes conversas, que fazem uso de termos, tradições, histórias e estórias que não são os mesmos. O homem pode ser uma categoria universal, mas as suas culturas, e as suas conversas, não são.
É porque estamos irremediavelmente inseridos numa conversação específica que devemos reconhecer os termos em que ela se desenvolve e, em particular, as condições para participarmos nela. Não se trata de uma conversa fechada, mas antes de um processo que se desenvolve continuamente com a introdução de novidades, reinterpretações e dissidências. Podemos inserir contributos de outras culturas e reinterpretar esses elementos aos nossos olhos; podemos recuperar termos antigos e mostrar que duzentos anos depois voltam a fazer sentido; e podemos até recordar aos nossos pares que há princípios e verdades fundamentais das quais nos estamos a afastar.
Mas participar nesta ampla conversa implica respeitar certas condições, que valem, na verdade, para todos os tipos de conversa. Em primeiro lugar, devemos saber o que está a ser discutido e conhecer o que foi dito antes de nós – é por essa razão que é tão importante ter uma mente curiosa, ler os clássicos e conhecer a história. Em segundo lugar, temos de saber ouvir os outros e reconhecer que não podemos monopolizar a conversa e impor os nossos termos – é por isso que é tão importante o conhecimento teórico, sobretudo filosófico, mas acima de tudo a prática social de convivência e diálogo, como nos ensinou Aristóteles. Por último, é necessário humildade e abertura intelectual para reconhecer que o nosso contributo pode ter erros, pode não ser tão bom como pensamos e que devemos estar dispostos a ceder perante argumentos e ideias melhores, mesmo que isso signifique, a maior das tragédias, mudar de ideias – e aqui devemos muito ao método científico.
Será que esta é apenas uma forma ocidental de percecionar o que deve ser uma conversação cultural? É possível. Afinal, somos herdeiros de um poema mítico e inicial em que Aquiles desafia Agamémnon, o mesmo é dizer, no qual as fontes de autoridade são constantemente desafiadas a mostrar o seu valor, a mostrar que resistem à dúvida, ao questionamento, ao desafio. E é essa, na verdade, a essência do debate tipicamente ocidental, como é exemplificado pelo confronto entre Boris Johnson e Mary Beard sobre qual será a melhor civilização clássica: a grega ou a romana? Boris e Mary levam a cabo esta discussão de forma divertida e informada, mas o seu valor maior não está nos bons argumentos ou nas estratégias sedutoras que usam para nos convencer de que têm razão: está no facto de, na nossa tradição, acreditarmos que todos os assuntos devem ser sujeitos a apreciação crítica e discussão, que do confronto de argumentos não resulta inimizade mas esclarecimento e prazer intelectual e que, no final, até podemos mudar de ideias. No fundo, que o pior dos mundos é aquele em que as partes se recusam a conversar.
É por esta razão que a longa conversação ocidental tem incorporado sempre críticas, contra-argumentos e tentativas de reinterpretar, resignificar ou redescrever os termos anteriores. Tudo isto é natural e desejável. O perigo encontra-se quando se entra na conversa não para a aprofundar, mas para a fechar e não se está disposto a participar na longa tradição do debate e da argumentação que termina com um sorriso, apesar da derrota, e um sincero aperto de mãos, apesar da vitória.