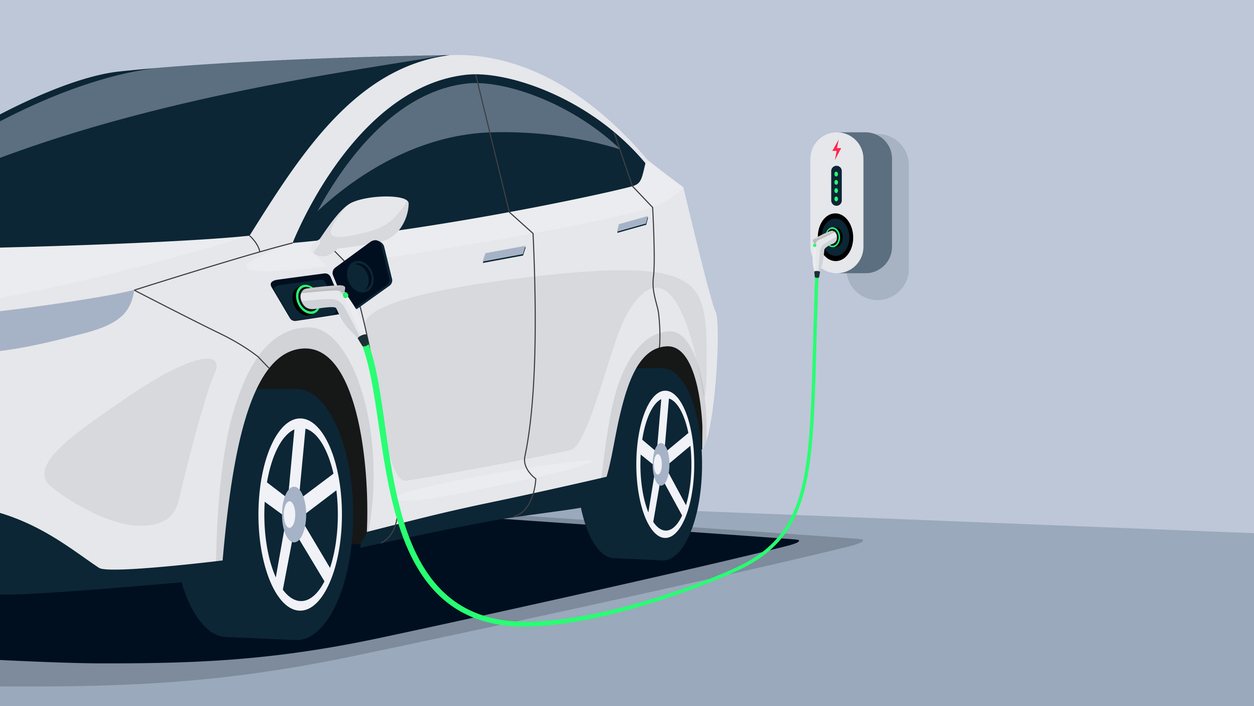No fim do século XVIII os médicos não eram bem vistos e nada, excepto o pedantismo, os distinguia dos vulgares curandeiros e mezinheiros que enchiam a Europa. Os físicos, como então se chamavam, orgulhavam-se dos seus cursos feitos em Paris, Bolonha, Coimbra ou Salamanca, mas o que lá aprendiam não diferia, em substância, do que aprendiam os estudantes do século XI. A inutilidade de tudo aquilo era evidente e a imagem que a população tinha dos médicos é bem descrita por Molière no “Doente Imaginário”: fátuos, arrogantes e vazios.
No fim do século XVIII a medicina estava exactamente no mesmo ponto em que a deixara Hipócrates, dois mil e quinhentos anos antes: a avaliar desequilíbrios de humores e a aconselhar bons ares. As grandes teorias fisiopatológicas da época hesitavam em atribuir a causa primeira das doenças a um distúrbio nervoso, a uma alteração do sangue ou aos eflúvios miasmáticos da decomposição da matéria orgânica, vegetal ou animal.
A grande mudança chegaria, não com a Revolução Francesa mas com a reacção à revolução. A Revolução Francesa (como todas as revoluções) fez questão de proclamar que cidadãos livres estavam, necessariamente, livres de doenças, pelo que não precisavam de medicina; e assim mandou encerrar as escolas médicas e os hospitais. Não resultou.
Antoine François de Fourcroy, que foi deputado à Convenção e depois ministro de Napoleão, resgatou a medicina desses delírios: refundou os hospitais e, de passagem, reformou o ensino médico. Ao estudante de medicina passou a recomendar-se que “lesse pouco, visse muito, fizesse muito”. A evidência empírica, o conhecimento da química e a prática clínica à cabeceira do doente substituíram-se ao tradicional ensino livresco. Em parte por influência da cirurgia de guerra, a doença foi pensada como lesão: uma alteração patológica visível e localizada. O exame físico, que inclui a inspecção, palpação, percussão e auscultação, tornou-se rotineiro e abriu caminho à classificação sistemática das doenças. Seguiram-se a anatomia de Bichat, a proteinúria de Bright, os processos químicos de von Liebig, os germes e as vacinas de Pasteur, o microscópio de Virchow. Os antibióticos. A pílula. Os transplantes renais e cardíacos. A erradicação da varíola.
As medicinas “alternativas” que agora reclamam direito de cidade não têm nada a ver com esta história. Umas não passam de sobrevivências anacrónicas da medicina ocidental pré-científica (a homeopatia). Outras vivem do nosso fascínio pelo “exótico” (a medicina tradicional chinesa). E ainda há, claro, os bons e velhos curandeiros, que existem desde sempre e se valem sobretudo de conversa e ilusões. Há pelo meio matéria útil (que a medicina tem incorporado depois de submetida à mesma avaliação exigente que é reservada a tudo, fármacos ou técnicas cirúrgicas). Mas a maior parte é instalação e performance.
Nas suas várias formas, estas “medicinas” pouco mais são do que um regresso à nossa medicina “convencional” como ela era há duzentos anos, antes da ciência. É para aí que nos querem devolver os ministros da Saúde e do Ensino Superior, que deviam ter vergonha.