“Conquistadores” não é só mais uma história dos Descobrimentos portugueses, esse é apenas o ponto de partida de um livro que procura dar uma nova explicação para o modelo adotado por Portugal na construção do primeiro império que se estendeu verdadeiramente por todo o mundo. O historiador e escritor, que entre nós já tinha lançado “Impérios do Mar”, em 2012, foca a narrativa no período que vai da passagem pelo Cabo da Boa Esperança, a caminho da Índia, em 1497, e a morte de Afonso de Albuquerque (1515), segundo vice-rei da Índia. O Observador esteve à conversa com Crowley, que passou por Portugal para apresentar o livro.
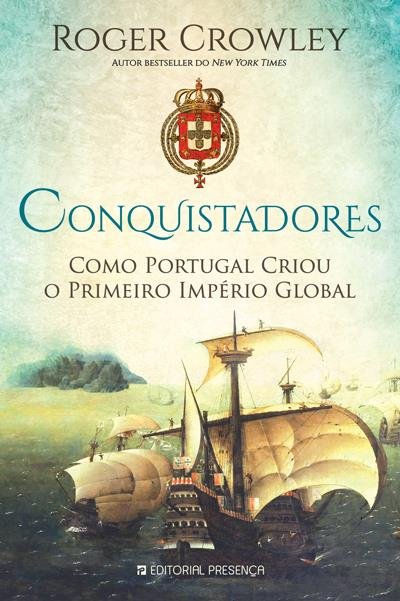
Como e porque se interessou tanto por Portugal e pela História de Portugal?
Tenho vindo a Portugal várias vezes e gosto muito do país. Tenho afeição por Portugal, mas não foi essa a razão porque escrevi o livro. O meu último livro tinha sido sobre Veneza e os venezianos e acabava pelos finais do ano de 1500, quando eles tomaram conhecimento da chegada dos portugueses à Índia, que lhes acabava com o monopólio das especiarias. Depois, Pero da Covilhã e a sua missão de espionagem no Oceano Índico tornaram-me mais curioso ainda sobre Portugal e os portugueses. Mas o que realmente me motivou foi o email que recebi de Pascal Monteiro de Barros, que é meu vizinho. Tinha lido os meus livros e achou que Portugal podia ser um assunto interessante para mim. Fui falar com ele e saí de lá com dois livros de História de Portugal em inglês (nessa altura ainda não lia português). Li-os e fiquei interessado. Já tinha escrito muito sobre o mundo mediterrânico, mas descobri que havia ali uma nova pista na História e um novo mundo para mim. Já tinha explorado a história marítima do Mediterrâneo mas a história do Atlântico e o tipo de navegação que ele exigia era muito diferente e fascinante.
O Atlântico e o Índico também, pois o objetivo final dos portugueses era chegar à Índia. E os portugueses fizeram do Oceano Índico uma espécie de “mare clausum”, durante talvez cerca de meio século. Gostei do seu livro porque está bem escrito e é uma excelente síntese deste período da nossa História. Como compara os impérios que são claramente marítimos, como o dos portugueses, o dos holandeses e o dos ingleses? (Os espanhóis, os franceses e os otomanos tiveram impérios mistos, continentais e marítimos, e os alemães e os russos são quase só continentais). Acha que os impérios marítimos têm características comuns?
Tenho a certeza que sim. Os ventos do ocidente requerem navios mais robustos e melhores técnicas de navegação. No Mediterrâneo navega-se perto das margens do Mediterrâneo, não há travessias aventureiras. Os recém-chegados ao Atlântico vinham de pequenos países com poucas terras cultiváveis – a maior parte do solo holandês é abaixo do nível do mar… Portanto, um ponto comum aqui é a falta de recursos naturais e saber que o que se propõem fazer exige uma navegação que implica uma técnica e uma perícia muito superior. Quem se quer fazer ao mundo e chegar a outras paragens tem de sair de onde está.
E não acha que há uma espécie de mentalidade comercial/burguesa nestes países marítimos e nas suas sociedades? Porque o comércio e o dinheiro tiveram aqui um papel importante. Os impérios continentais foram criados com desígnios predominantemente religiosos ou políticos.
É verdade. É uma questão interessante: porque é que os franceses não desenvolveram um império marítimo? Porque tinham um país grande e fértil e por isso não tinham necessidade de se expandir. Acho que o comércio traz consequências inevitáveis: viajar em navios, ir para outros lugares, encontrar-se e misturar-se com outras pessoas… ou lutar contra elas. De certo modo, D. Manuel I (a quem os franceses chamavam depreciativamente “o rei merceeiro”) tinha uma nova e radical ideia de realeza, que incluía esse lado “comercial”…
Um reino comercial também precisa de apoio idealístico e religioso, não é muito digno nem muito empolgante ser-se rei de comerciantes. E Henrique o Navegador estava realmente empenhado na Cruzada. Era muito sincera a sua ideia de Cruzada. As pessoas procuram uma razão para a Expansão – uma só razão ou uma só causa para as Descobertas; mas a História é muito mais complexa. Em Portugal, durante o Estado Novo, o discurso oficial sobre as navegações era que tudo tinha sido motivado pela Cruz e pela Espada, a religião, os missionários, a sede de glória e conquista. Quando a Esquerda chegou ao poder, em abril de 1974, veio dizer que tudo o que se fez foi por ganância, por sede de recursos materiais, com a mancha da escravidão. Mas como o Roger demonstra bem no seu livro, é uma mistura disto tudo. É sempre uma mistura de tudo. Nos navios iam pessoas que queriam salvar almas, outras que queriam conquistar terras, outras que iam para fazer negócios e ganhar dinheiro, outras que fugiam da justiça…
Sim, penso que eram esses os motivos. Os portugueses partiram como conquistadores, missionários, embaixadores, piratas, criminosos exilados, comerciantes, aventureiros… Todos estes motivos estiveram presentes, o que é fascinante. A diversidade de histórias e experiências que surgiram dessas expedições é extraordinária.
E talvez porque a sua visão seja a de um estrangeiro consegue focá-la, por vezes, melhor do que nós. Aprendi muito sobre Portugal e a sua História lendo livros de estrangeiros. Por vezes os estrangeiros veem coisas – boas e más – que nos passam ao lado. Fernando Pessoa diz que “analisar é ser estrangeiro”.
Sim, em relação à nossa própria história e a nós mesmos há sempre ângulos mortos, coisas que não vemos, e embora não tenhamos o conhecimento profundo da história alheia, vamos vendo outras coisas.
Escrevendo-se sobre os outros é-se menos tendencioso, ou é-se tendencioso de uma outra maneira…
Sim, também porque não estamos dentro do jogo. Seria diferente se eu estivesse a falar da História inglesa. Tive de me cingir a um período curto das Descobertas. Comecei por pensar que podia escrever sobre o período que vai de Ceuta a Alcácer Quibir. Passei muito tempo no século XV, a viajar com os portugueses na Costa Oeste de África, lendo muito e desenhando os meus próprios mapas. Depois de um ano de leituras e de 30.000 palavras escritas, pensei: tudo isto é muito interessante, mas por este caminho nunca mais chego à Índia. Portanto tive de me concentrar num período mais curto. Demorei muito tempo a perceber o sentido e a apanhar o ritmo desta história até poder escolher onde me havia de centrar. Centrei-me então no período que vai de D. João II até à morte de D. Manuel I, o período em que os portugueses chegaram à Índia e aí se estabeleceram.
Sabemos pouco sobre a mentalidade de algumas destas pessoas. Sabemos o que fizeram, mas não existem diários, nem muitos documentos pessoais, quotidianos. A pessoa de Henrique o Navegador é um completo mistério. Não tinha mulher nem filhos, sabemos alguma coisa da sua vida mas não conhecemos as suas rotinas diárias…
Penso que o terramoto destruiu muito do que haveria de provas, deixando grandes lacunas. A História portuguesa está cheia de mistérios e silêncios.
Acha que a brutalidade ou selvajaria que lemos em algumas crónicas – principalmente na Índia – é mais ou menos parecida em todos os impérios da História europeia? (Os espanhóis talvez fossem mais duros ou até mais ferozes). Poderá isso explicar-se pelo facto de termos pequenos exércitos com falta de recursos e de homens e que tiveram de usar o terror para poderem vencer? Isso pode tê-los levado à brutalidade, à crueldade, à falta de ter compaixão… Pensa que isso faz parte da natureza humana ou foi uma necessidade imperial, uma tática?
É uma pergunta interessante. Penso que foi um pouco das duas coisas. Os portugueses, provavelmente pela sua experiência no Norte de África, sabiam muito bem como usar a violência. Todos os conquistadores, desde o Império Mongol, compreendiam o papel do terror na submissão forçada. De certa maneira, foi uma tática. Os portugueses sabiam que, por serem poucos, a psicologia do terror e da intimidação podia ser um instrumento de domínio.
Sim eram muito poucos. Por vezes tinham tropas auxiliares, mas olhando para os números seriam, mesmo nas grandes expedições, umas centenas, no máximo.
Absolutamente! Ainda hoje nos é difícil perceber isso, entrar na mentalidade de então, vestirmos essa pele. Veja-se, por exemplo, Albuquerque, imobilizado no meio do rio em Goa, no tempo das monções, bombardeado de ambas as margens durante 77 dias. Várias vezes o Shah de Goa se ofereceu para o libertar. A sua resposta foi sempre “não, não saímos até que nos tragam as chaves de Goa”. Acho que até os seus próprios homens, a dada altura, devem ter pensado que ele era louco.

O autor inglês Roger Crowley nasceu em 1951
E já não era novo na altura, tinha mais de 50 anos!
Cheguei à conclusão de que ele não tinha o conceito “fidalgo” de glória individual, de glória militar individual. Não o tinha. Era um tático e um estratega. E ficava surpreendido com os guerreiros que só queriam ser os primeiros a chegar ao topo das fortalezas. Isso criou um conflito entre ele e muitos nobres, quando tentou formar as “ordenanças”, um coletivo de homens treinados para a luta, num sistema de guerra regimental e tática. Por que é que haviam de ser massacrados na guerra a troco de uma pequena quota de glória pessoal, quando podiam ter um regimento organizado e treinado segundo modelos e táticas dos suíços, e assim ganhar as batalhas? Com isto, Albuquerque minava ou punha em causa a própria razão de ser dos fidalgos, da nobreza – a glória individual, as pilhagens…
As famosas razões e motivos da “ação humana”, referidas por Tucídides: medo, glória e ganância.
Medo, glória e ganância. O exemplo perfeito da estupidez total é a batalha naval de Chaul em 1508. Lourenço de Almeida ouviu o seguinte da boca do artilheiro-mestre flamengo: “Vejam só, eu posso bem rebentar com os navios deles sem perder um único homem”. Mas os comandantes recusaram a oferta porque tiveram medo de serem considerados cobardes e de serem acusados de não terem obtido despojos…
Mudando de assunto: a Índia surpreendeu os portugueses. Lembro-me de uma cena de Vasco da Gama e dos presentes que levava para o Samorim, presentes que ele desdenhou. Se olharmos para as nossas anteriores experiências em África, só Marrocos foi diferente; Marrocos era já um espelho do mundo oriental e islâmico. Os marroquinos tinham comércio, tinham ouro, tinham coisas sofisticadas, trazidas pelas caravanas, enquanto a Costa Oeste de África era extremamente pobre. Portanto, quando, na primeira visita do Gama à Índia, os portugueses chegaram com as oferendas que costumavam levar para África – e o Roger mostra isso muito bem – eram eles os selvagens, os bárbaros, em relação aos povos mais “civilizados” que encontravam.
Em termos de choque cultural nada deva haver de mais desconcertante: fazer toda a carreira da Índia, desembarcar, ser recebido pelos “nativos” em bom “castelhano” e sentir-se do outro lado do telescópio…
O “século português” começa com a conquista de Ceuta em 1415 e acaba, cem anos depois, com a morte de Albuquerque. Albuquerque é, simultaneamente, o auge do Império e o seu fim, o cume e o começo da queda…
Sim, no momento em que a ambição começa a mudar.
Desde a queda do império da Índia, da perda do Brasil e do fim do Império africano em 1975 – porque a decadência é também causada pela ascensão de outros – que os portugueses têm tido uma má relação com a sua História. A direita fala das glórias passadas e tende a desprezar o presente. E a esquerda quer denegrir essas glórias, reduzindo-as ao seu lado negro – a violência, o colonialismo, a escravatura. Do seu ponto de vista, que lições positivas podemos nós, portugueses, tirar da nossa História?
Os impérios vêm e vão. Acho que a lição a tirar dos feitos dos portugueses é muito mais subtil do que o momento da Conquista propriamente dita, apesar da conquista ser por si só extraordinária. Quando tudo estava já estabilizado e os portugueses perceberam que não eram os únicos atores no Oceano Índico, criaram aquilo a que um historiador inglês chamou o “império sombra”: o império do comércio com a China e com o Extremo-Oriente.
Sim, a leste do Estreito de Malaca, tínhamos um também chamado “império informal”. Não havia um envolvimento oficial do Estado nem do poder político da Coroa. Eram os comerciantes, os privados, os piratas, os mercenários…
Penso que os feitos ocultos deste império mais informal e comercial são de um interesse enorme em termos da influência profunda e duradoura que tiveram em todo o mundo, a nível do comércio e das troca de conhecimentos técnicos e científicos.
Descobertas, até, de alimentos. Um amigo meu, o Prof. Henrique Leitão, historiador da Ciência, organizou na Fundação Gulbenkian uma exposição interessantíssima sobre tudo o que os portugueses (e também os espanhóis) descobriram a nível da Geografia, de novas plantas, novos animais e em termos da divulgação e do uso comum da ciência, dos instrumentos científicos, dos cálculos, das medições…
Sim, por exemplo a introdução do milho e da mandioca vindos das Américas levou a um aumento da população em África. Todo este tipo de desenvolvimento, de disseminação de tecnologias, como o levar a pólvora para o Japão, instrumentos astronómicos para a China, movimentando barras de ouro ou prata pelo mundo inteiro… Os portugueses, por exemplo, foram os principais mercadores de prata espanhola para a China – a China apreciava bastante mais a prata que o ouro. A eles se deveu que povos de diferentes cantos do mundo se conhecessem uns aos outros através de obras de arte: por exemplo, os europeus vistos pelos olhos dos japoneses ou pelos escultores de marfim na China, ou pelos artesãos do cristal de rocha do Sri Lanka e dos bronzes do Benim. Tudo isto maravilhou a Europa. Dürer ficou estupefacto com a qualidade de algumas destas obras de arte não-europeias. “Nunca na minha vida vi uma coisa assim”, disse ele. Tudo isto foram negócios e intercâmbios iniciados pelos irrequietos portugueses. Há um livro excelente do historiador inglês John Russell-Wood, chamado The World on the Move, acerca deste aspeto dos Descobrimentos portugueses – não estudando simplesmente a sua História como colonizadores e ocupantes em determinadas zonas, mas olhando para a forma como movimentaram ideias, alimentos, plantas à volta do mundo. Claro que também há um lado negro – escravatura, doenças – mas penso que este mundo de intercâmbios foi a coisa mais extraordinária que os portugueses fizeram. É muito subtil e agora quase invisível. Neste processo foram também os criadores da miscigenação…
Angola é um espelho disso mesmo. É um grande país africano onde há uma verdadeira mistura de raças, muitos euro-africanos ou mestiços, que são importantes na vida social, cultural e política. Foi uma colonização muito feita por homens solteiros, ou que iam sozinhos e que aí constituíram família.
Acho que esta abertura aos outros povos é parte do génio dos Portugueses. Sendo muito poucos em número, foram obrigados a misturar-se com outros povos. Esta relação com os outros, vejo-a como resultado da posição geográfica de Portugal na costa atlântica. Qualquer pessoa que viesse ou fosse da Europa do Norte para o Mediterrâneo tinha que parar em Lisboa, o melhor porto da costa Atlântica. Assim, por aqui passavam todo o tipo de pessoas – desde os cruzados da segunda Cruzada a mercadores genoveses – o que criou uma abertura ao mundo, uma plasticidade única. Sei bem que todos os países têm as suas intolerâncias, mas vejo os portugueses como um povo que está normalmente à vontade com os outros povos. Não é um povo insular.
Um aspeto interessante na maior parte destes “descobridores” ou “conquistadores” era a sua enorme curiosidade. Não sei se ainda somos assim, hoje em dia… O Roger vem renovar uma corrente de ingleses – historiadores, viajantes, políticos – que de alguma maneira se interessaram por Portugal e escreveram livros muito interessantes sobre a História portuguesa. Em Portugal nunca nos demos muito bem com alianças e aliados (Churchill disse que a única coisa pior do que uma guerra com aliados era uma guerra sem aliados) mas tivemos desde os finais do século XIV, uma aliança com a Inglaterra. Sempre houve um debate doméstico sobre a Aliança britânica, com muitos a defenderem que seria preferível aliarmo-nos a potências continentais. Há muito quem diga que, com os Tratados de Methuen, vendemos a nossa economia aos ingleses. Mas foi um acordo claro: trocámos apoio político e militar por cedências económicas – e para aqueles que, como eu, preferem ser independentes a ser ricos… o Tratado fez sentido. Como é que do lado dos britânicos vêm este assunto da Aliança?
O inimigo natural da Grã-Bretanha sempre foi a França – e a Espanha Católica, também. Acho que vimos esta aliança com Portugal como um negócio mutuamente vantajoso. Identificamo-nos mais com povos pequenos, povos atlânticos…e o facto de não serem franceses nem espanhóis era muito importante. Havia uma empatia de parte a parte – não baseada na religião, evidentemente. Mais que uma conveniência política, havia uma espécie de identificação, de reconhecimento geográfico.

Vasco da Gama perante o Samorim de Calecute (1898), Veloso Salgado
Todos os pequenos países periféricos da Europa – a Dinamarca, a Holanda, Portugal, Nápoles – tiveram na Inglaterra uma aliada contra os grandes Estados continentais.
Somos sobretudo povos da orla atlântica e penso que isso facilita o entendimento.
Camões foi muito inspirado por esta épica imperial, mas escrevia já num tempo de decadência ou assombrado pela ideia de decadência. Se lermos Os Lusíadas, encontramos sempre esse lado “bom”, épico, das descobertas mas também o outro lado – o lado negro, baixo, corrompido. Já o vosso “grande bardo” da época, Shakespeare parece não dar conta de nada disto, do império marítimo, do Atlântico…se excluirmos, claro está, A Tempestade.
Isso é interessante. Mas se percorrermos as páginas de Shakespeare, vemos que há alguma noção desse mundo mais alargado. Por volta do ano de 1600, Richard Hakluyt e Samuel Purchas traduziram para inglês as viagens dos portugueses, mas já devem ter chegado tarde ao conhecimento de Shakespeare. Ainda não encontrei referências concretas em Shakespeare a esse mundo mais global, mas elas existem. E, claro, a sua companhia de teatro representava no The Globe! Acho que ele tinha a noção de um mundo mais vasto, de uma humanidade interior e exteriormente mais vasta e diversa mas concordo que o além-mar não é o tema dominante da sua obra.
Já Thomas Morus pôs um português, Rafael Hitlodeu, como narrador na Utopia, um homem com experiência de mundos diferentes.
Shakespeare, em A Tempestade, apresenta o novo mundo como um problema. Raças diferentes e as consequências do choque cultural…
Como é que este seu livro, Os Conquistadores, foi recebido em Inglaterra?
Foi bem recebido, com bastante interesse, quase como uma coisa nova, desconhecida, e por isso os comentários foram muito intrigantes. Recebi críticas de uma ou duas pessoas bem informadas – de que me tinha esquecido de algo, ou minimizado qualquer coisa. Mas a maior parte dos comentários não vieram propriamente de lusitanistas. Vieram de leitores comuns – e se há tempo histórico de que não se tem uma perceção informada é da época das Descobertas.
Hoje em dia, a maior parte dos comentários que ouvimos acerca de Portugal é de que somos uma “povo simpático”, um destino turístico de eleição, onde se come bem e se bebe melhor e onde tudo é bonito e barato… Esta imagem do nosso passado como um povo forte e agressivo, na sua ascensão e construção do Império, na sua luta pelo controlo dos mares, torna-se por isso mais desconcertante e mais importante.
Não tenho um grande conhecimento de alguns dos mais famosos construtores de impérios, como Pizarro ou Cortez, mas parece-me que Albuquerque não lhes ficava atrás – e é praticamente desconhecido fora de Portugal.
Salazar considerava que os quatro heróis de Portugal eram Nuno Álvares Pereira, Henrique o Navegador, Vasco da Gama e Afonso de Albuquerque. É interessante porque todos eles são desse período, do século e meio entre 1380 e 1520.
O que para mim é um mistério – provavelmente porque não percebo os bastidores da História de Portugal – é de onde é que veio esta energia de planear e desenvolver os Descobrimentos de forma consequente.
O que se vê na História de Portugal é que tudo isto foi feito sob um comando central, o comando político da Coroa. Por isso é que nunca fomos pelo caminho da violência, da pilhagem e dos massacres caóticos. Não nos podemos comparar com os espanhóis, que eram muito mais independentes nos seus empreendimentos. Pessoas como Pizarro, Cortez, Almagro, eram aventureiros, foram pela aventura e para fazer fortuna. A maior parte dos seus expedicionários nem sequer tinha tido experiência militar. A maior parte eram recrutas, escolhidos aleatoriamente entre os que procuravam o novo mundo para fazer fortuna. Por isso eram homens muito mais violentos, que podiam saquear à vontade. Os portugueses, não. A maior parte vinha da nobreza média ou média-alta; excluindo os Vice-Reis, que eram normalmente filhos segundos, sempre sujeitos a uma disciplina e à autoridade administrativa do Rei. Eram pessoas que tinham de prestar contas, de responder pelos seus atos. Não podiam pilhar à vontade ou matar à vontade. E isso é muito importante.
De resto, Francisco de Almeida e Afonso de Albuquerque eram homens incorruptíveis. Não enriqueceram.
Francisco de Almeida era de uma nobreza mais alta que Albuquerque. O que os movia era alcançar poder e a glória para o monarca e demonstrar ao Rei de Portugal e a si mesmos e perante Deus que tinham o sentido da honra e do valor. Os seus comandados, marinheiros, soldados, comerciantes, tal como os britânicos, eram gente simples com uma grande capacidade de adaptação. Em tendo bons comandantes davam ótimos soldados. Se quem os comandava desse o exemplo, se sentissem firmeza, equidade e justiça no mando, podia pedir-se-lhes o que quer que fosse. Ainda hoje é assim.

















