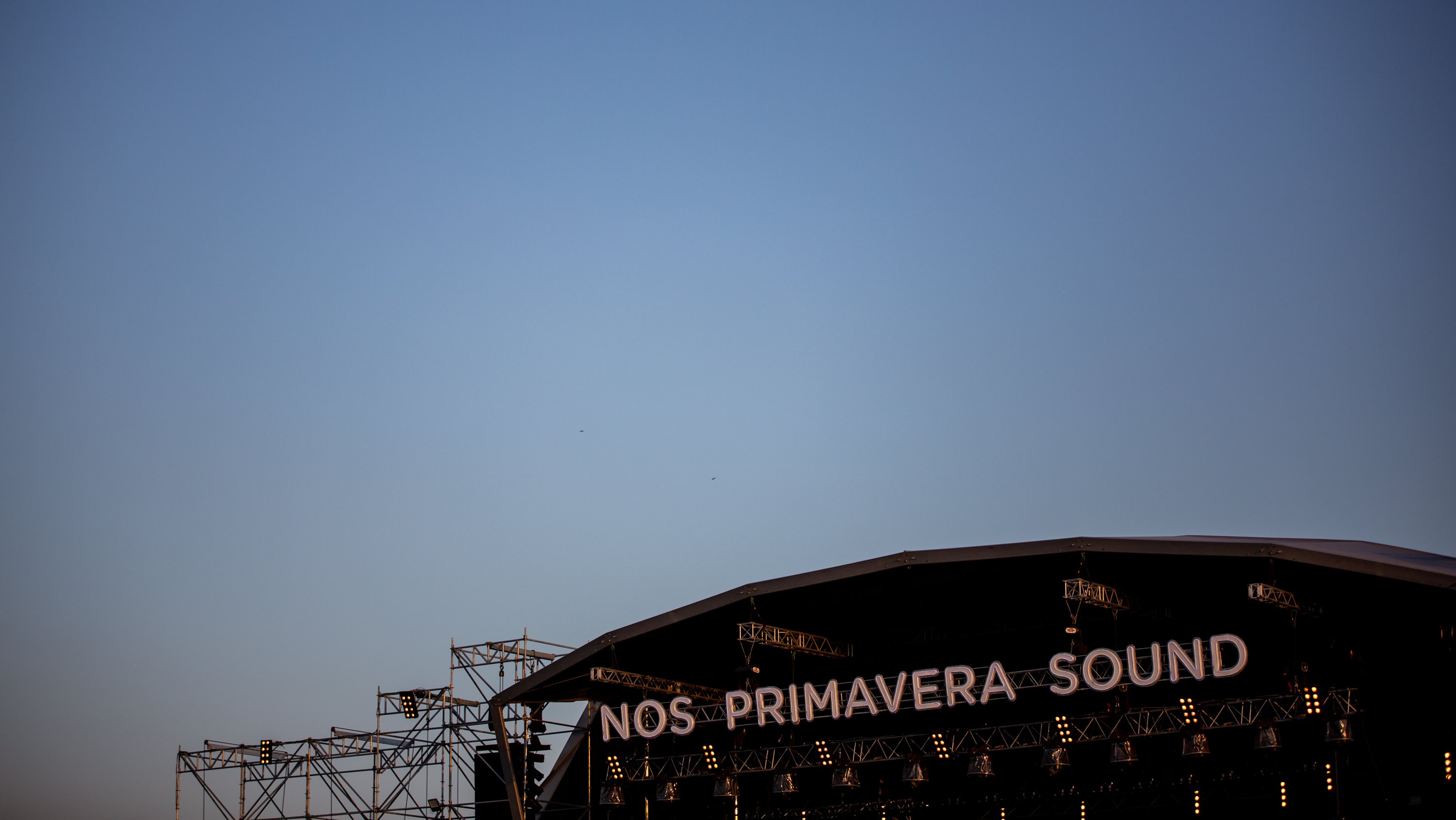O segundo dia da quarta edição do NOS Primavera Sound começou com céu limpo mas vento forte. Às 17h00 já havia muita gente deitada na relva, novos e menos novos, a guardar lugar na colina do Parque para um dos principais momentos da agenda do dia: a interpretação integral do álbum “Horses” de Patti Smith. Mas num dia com 20 atuações distribuídas por quatro palcos, houve muito para ver e ouvir — para quem teve pernas e energia para chegar a todas.
Coube ao coletivo luso-brasileiro Banda do Mar ser o primeiro. Abriram o palco principal para uma plateia com mais curiosos que fãs, o que não lhes retira o mérito. Com apenas um álbum homónimo editado o ano passado, são considerados um caso de sucesso. Marcelo Camelo, Mallu Magalhães e Fred Ferreira estiveram à altura, foram comunicativos e competentes. Meia-hora mais tarde, a libanesa Yasmine Hamdan inaugurou o palco ATP (All Tomorrow’s Parties). Entrou descalça, pose serena e descontraída, rapidamente cativou a assistência, que se chegou à frente do palco. Canta numa língua que ninguém entende mas isso não foi um problema, é tudo música, voz, bateria e baixo numa mistura de tonalidade eletrónica. Depois da surpresa, ficou o aviso: é um nome para seguir com atenção.

Às 17h55 Howe Gelb subiu ao palco Super Bock, acompanhado de mais cinco músicos, todos mais jovens. Eles de fato preto, ela de vestido com lantejoulas douradas, traje de gala a dar música às seis da tarde. Howe Gelb é o alicerce dos Giant Sand, uma banda norte-americana com importância e história, já com 30 anos de carreira. Entrou de microfone aberto com cumprimentos e voz grave. Entre temas, apresentou os músicos com delicadeza (norte-americanos, turcos e dinamarqueses) com o mesmo à vontade com que chamou pela Yasmine que se fazia ouvir ali, nos silêncios entre temas (devido ao vento forte). A audiência estava composta e gostou do country/rock, foi como uma espécie de aquecimento geracional para o espetáculo de Patti Smith. Um pouco mais tarde (18h45) e de volta ao ATP, havia muita gente para ver os canadianos Viet Cong. Matt Flegel começou por dizer que tinha acordado meia-hora antes, talvez o tenha feito para justificar a rouquidão. Rock gritado não é para todos e o vocalista não esteve propriamente bem. Excesso de expetativas, talvez.
Foi à hora certa (19h00) que se ligou a máquina do tempo. Patti Smith subiu ao palco principal para a segunda atuação no NOS Primavera Sound (no dia anterior atuou no palco Pitchfork) e uma multidão aguardava a apresentação integral do álbum de estreia da compositora norte-americana, “Horses” (1975). Música que continua a atravessar gerações, foram muitos os braços no ar de todas as idades, em resposta a uma cantora e compositora que, com 68 anos, mantém uma vitalidade física e vocal invejáveis. No decorrer da apresentação de “Horses”, e com uma folha na mão, leu com propriedade – o peso da idade carrega-lhe a voz com uma intensidade ímpar.
Foi uma oportunidade soberba para ver e ouvir um dos nomes mais importantes da história da música contemporânea, e um dos álbuns fundamentais do punk rock nova-iorquino. Uma lição viva de história, um dos espetáculos mais esperados, um dos grandes momentos do dia e, seguramente, dos mais importantes desta edição do NOS Primavera Sound. Talvez também, uma última oportunidade.

Os dias estão cada vez maiores e, ao contrário do dia anterior, o final da tarde teve direito a pôr do sol, a cor da luz que recebeu o sueco José González. Subiu sozinho ao palco para cantar “Crosses” (2003), um presente esmagador. Depois, percorreu os vários discos e versões. A de “Teardrop” dos Massive Attack é a mais conhecida, mas houve outro momento que ficou no ouvido, pela simplicidade (e habilidade) da abordagem. “É uma canção muito antiga” e mais não disse. José González e a banda tocaram então “Hand on Your Heart”, um tema gravado em 1989 pela australiana Kylie Minogue, do qual sobrou a linha melódica do refrão. Foi fácil perceber a facilidade com que esgotou, com semanas de antecedência, o espetáculo no CCB em Lisboa, no passado mês de Fevereiro. Depois de Patti Smith, mereceu a segunda grande enchente do dia.
Em contraste, o punk rock dos históricos The Replacements, apesar de certinho, não foi suficientemente importante para desviar o público da hora de jantar (21h20). Para (não) ajudar, na outra ponta estavam os Electric Wizard (21h25). Rock pesado, muito pesado e escuro, ao ponto de não se conseguir obter uma fotografia sem flash. O barulho era muito, os pais aceleravam o passo com as crianças ao colo, ainda que com os protetores auditivos colocados (mas também se viram crianças sem eles). Com o passar do tempo o palco NOS foi ficando mais composto e os The Replacements ainda tocaram “20th Century Boy” dos britânicos T. Rex (1973), em jeito de homenagem a uma veia inspiradora da banda norte-americana.
Os Sun Kil Moon (21h45) levaram muito público à tenda Pitchfork. É uma das vertentes musicais de Mark Kozelek e a continuação lógica dos Red House Painters, argumentos mais que suficientes para justificar uma atuação concorrida. Kozelek andou de um lado para o outro à frente das duas baterias que enchiam o palco, enquanto cantava com voz forte o tema “Micheline”. Depois, apresentou Vasco Espinheira (guitarrista dos Blind Zero) que subiu ao palco para tocar um tema. Não se deixou fotografar mas, apesar disso, em Portugal resulta sempre.
Antes das onze da noite já se adivinhava a segunda enchente no palco Super Bock. Uma multidão esperava, paciente, pelos escoceses Belle & Sebastian, uma banda também popular em Portugal que não precisou de se esforçar muito para garantir que mais gente se juntasse, até para além dos limites da colina. Um vídeo de apresentação distraiu as atenções para a entrada em palco dos oito elementos, sincronizada com o vídeo. No ecrã, as palavras apareciam rigorosamente ao mesmo tempo da voz em “Nobody’s Empire”, o primeiro tema. Depois, juntaram-se mais cinco elementos, cordas e sopro, uma mini-orquestra pop nem sempre afinada. Fosse o ecrã maior e com melhor definição, talvez a experiência tivesse sido melhor. Mais uma aposta ganha.
00h15 e o Parque parou. Em bom rigor, a composição começou 15 minutos mais cedo, com a entrada das três dezenas de elementos da orquestra de suporte do britânico Antony Hegarty, mas foi à hora marcada que entrou em palco uma silhueta coberta de um manto branco (no palco todos vestiam uniforme branco, a cor da salvação e da vida), para uma curta e simples performance que marcou o início de uma longa instalação em que a música foi, apenas, uma das faces. Antony entrou em cena com muitas palmas, não olhou para além do piano, sentou-se e cantou. Bem, muito bem. Houve muitas queixas do público sobre o volume a que se ouvia a voz do cantor, em especial junto ao palco, mas de onde estávamos pareceu-nos clara e perfeitamente afinada em todos os tons. Goste-se ou não do timbre, Antony é um grande vocalista. Já intérprete, manteve-se direito e escondeu a cara. Começou por não autorizar a entrada de fotógrafos (por isso não apresentamos imagens) e no palco, a luz evitava a cara dele. A roupa branca serviu de tela de projeção de efeitos simples mas o foco de luz projetada não passava do peito. Antony foi uma voz sem rosto.
A orquestra introduziu um tonalidade solene, quase religiosa, a uma atuação que pedia um silêncio difícil de conseguir num festival. Coisa rara e até estranha, ver milhares de pessoas paradas, vidradas num palco, com os sentidos despertos em corpos parados. A quietude da atuação obrigou a uma pausa nos restantes palcos, talvez tenha sido uma imposição, mas foi necessária. Na assistência, algumas vozes mais acessas deram origem a muitos “shhhhh!” e a zaragatas eminentes. Foi bonito, mas tivesse sido outro o cenário, condições e comportamentos, a experiência teria sido completa.
Ao longo de toda a atuação – parte intrínseca da performance – correu na tela em fundo um filme japonês, sem interrupções perceptíveis. Nota negativa (outra vez) para os ecrãs de suporte nas laterais do palco, muito pequenos e com uma má definição de imagem, que diminuíram os esforços de produção desta e de outras atuações.
Depois de Antony, regressou a vida aos restantes palcos do Parque da Cidade. À 1h40 recomeçaram os outros: Jungle, Run The Jewels e Ariel Pink, três nomes de peso por razões distintas. Os Jungle (que estiveram num palco pequeno, no ano passado, no NOS Alive em Algés) mereceram um grande e provaram que, num ano, cresceram para o encher. Batidas fortes e vozes agudas, esta nova soul music é contagiante. A dupla Run The Jewels mostrou o peso que tem. El-P e Killer Mike produzem um hip hop musculado e foram muitos os braço no ar, yo! Ariel Pink há já algum tempo que deixou cair os Haunted Graffiti e apresentou-se ainda mais psicadélico. Teve muito pouca gente a assistir, não passou de uma nota de rodapé.
Esta sexta-feira estiveram 28 mil pessoas no Parque da Cidade no Porto. Mais logo espera-se nova enchente, no terceiro e último dia do NOS Primavera Sound que promete ser, outra vez, grande. Mais duas dezenas de bandas, haja pernas para tanta oferta, vai ser preciso critério e muita energia. E água, que vai estar mais calor. Lá estaremos. De caminho, siga-nos no Twitter.