O relacionamento entre a arte e a maldade é um tema cada vez mais carente de reflexão. “De um modo geral, as culturas pós-modernas, apesar do seu fascínio por mortos-vivos e vampiros, pouco têm a dizer sobre o mal”. A frase é do filósofo e crítico literário inglês Terry Eagleton (Sobre o mal), que, sem pruridos ou atenuantes, lamenta a gradual censura do mundo contemporâneo à representação artística do maléfico: no seu entendimento, o homem pós-moderno não tem a profundidade requerida pela verdadeira destrutividade. Talvez por isso já tenhamos estado mais longe de retirar o lobo mau da história do Capuchinho Vermelho.
Na frase citada, a referência a “mortos-vivos e vampiros” não é inócua, pois remete para o conceito de nojento. Na opinião do autor inglês, o nojento distingue-se do maléfico: o primeiro é visto como uma representação gratuita do mal, despida de sentido, típica da exibição nonsense e inconsequente de coisas como “mortos-vivos e vampiros”; o segundo, pelo seu lado, trata do frente a frente da arte com as dimensões mais profundamente aterradoras da natureza humana — como a morte, o crime, o pecado e a loucura —, um dedo na ferida que nos conduz às grandes questões da existência. Enquanto o nojento torna a representação do mal num exercício de gratuitidade, o maléfico pode transformá-la, entre o mais, em grande literatura.
O Diabo, terceiro volume das Mitologias de Gonçalo M. Tavares, é, no melhor dos sentidos e na mais resumida das definições, um livro maléfico.
Antes ainda do início da história, na página que antecede o primeiro capítulo, são dissipadas as dúvidas que pudessem existir acerca da identidade do protagonista: “o diabo, le diable, belzebu, anjo mau, tinhoso, lúcifer, canhoto, cão, cão-tinhoso, chifrudo, cornudo, demónio, mafarrico, maldito, maligno, malvado, mau, satã, satanás, serpente e tentador”. Esta espécie de inventário exaustivo de sinónimos atribuídos à figura demoníaca é um sinal da sua omnipresença ao longo dos vinte e seis capítulos do livro: o diabo começa por “rondar a casa” (p. 9) e vai, aos poucos, ganhando poder e autoridade numa sociedade violenta e distópica: “o diabo quer ordem e por isso inscreve em cada compartimento da casa as leis certas, exactas, no chão” (p. 105).
Mesmo nos momentos em que não é fisicamente clara, a presença do diabo é sempre pressentida através, por um lado, do controlo, medo e tortura que vai exercendo sobre outras personagens, e, por outro, da composição de diversos lugares aterradores.
Nesta sociedade legislada por belzebu, o leitor encontra excentricidades como uma professora que espanca alunos com o “diabo na mão” (p. 15); homens que são considerados loucos por defenderem e imporem “direitos humanos com um altifalante” (p. 48); um armazém onde um povo é preso e obrigado a dar o “salto moral” sobre a parte do chão onde constam “os dez mandamentos e algumas regras básicas” (p. 52); homens que pagam bilhete para assistir à trepanação do crânio de uma menina “inteligente” (p. 129), e muitos outros episódios reveladores de um mundo perverso e chocante, regulado pelo mal e hostil à inocência dos homens e das crianças, nomeadamente dos cinco meninos (Alexandre, Olga, Maria, Tatiana e Anastácia, filhos homónimos dos Romanov, presentes nos anteriores volumes desta série mitológica), sobre quem o diabo tenta, desde o início, concretizar a sua conquista — através de mecanismos de controlo, medo e tortura.
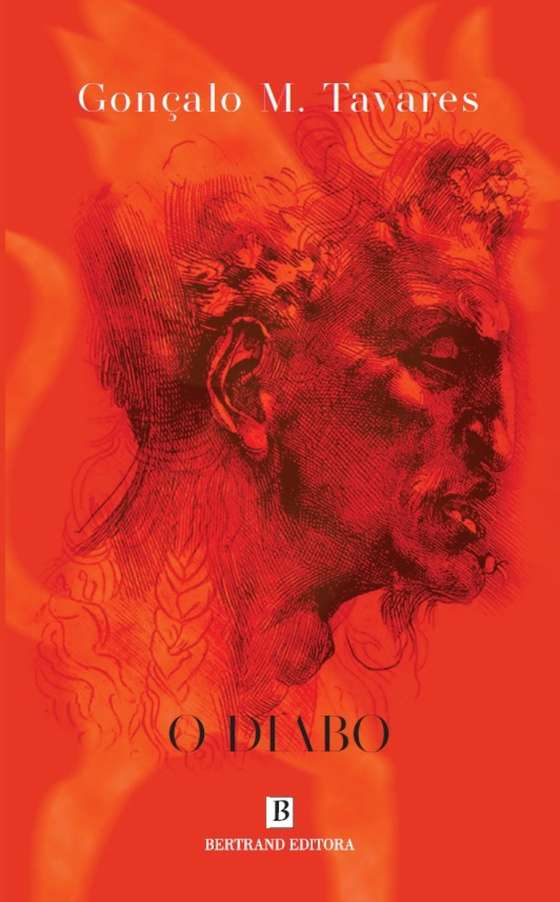
Título: “O Diabo”
Autor: Gonçalo M. Tavares
Editora: Bertrand Editora
Páginas: 200
Mas, afinal, por que razão é este um bom livro? Porque não o podemos definir como um exercício banal e gratuito de violência, semelhante a uma exibição nonsense de “mortos-vivos e vampiros”? Porque é que O Diabo é, enfim, um livro maléfico e não um livro nojento?
Vamos por partes: primeiro a forma, depois a substância.
Nesta série Mitologias, Gonçalo M. Tavares tem vindo a explorar os estilos mais tradicionais da arte narrativa. Ao contrário do que sucede, por exemplo, nos livros que compõem a série O Bairro — cujos pontos de partida são invariavelmente eruditos, ora inspirados ora comunicantes com outros escritores (Brecht, Valéry, Calvino, etc.) —, aqui a fonte reduz-se à simplicidade: estamos próximos de um conjunto de histórias ou contos ou lengalengas infantis que se sujeitam à distorção.
Para o efeito, o narrador afasta-se e conta a história na terceira pessoa, dispensando-se de elementos digressivos ou de elaboração e atribuindo à narrativa um estilo sucinto, que se demonstra conforme ao efeito violento e espantoso a que se propõe. O vocábulo espantoso é, aliás, um importante elemento para afirmar este ponto. No final do último capítulo — tal como sucede no primeiro volume de Mitologias —, o autor optou por citar o seguinte pensamento de Walter Benjamin: “todas as manhãs somos informados sobre o que de novo acontece à superfície da Terra. E, no entanto, somos cada vez mais pobres de histórias de espanto”. Neste livro não se encontra, pois, o consolo de qualquer explicação: quem narra a história não informa; apenas conta. O espanto é espoletado por frases curtas, sem palavras a mais: os advérbios são raros e os adjectivos contam-se pelos dedos; há apenas uma sucessão impressionista de eventos, onde as personagens, em vez de moldadas pela descrição, surgem caracterizadas pelas suas acções.
Neste estilo breve e lacónico, não há detalhes a mais nem detalhes inúteis, pois todos eles são operantes, susceptíveis de ligação com a História, a Filosofia e o mundo das ideias, embora nenhuma dessas realidades se encontre expressamente presente. Contar um mito pressupõe isso mesmo, o artifício do símbolo e da alegoria: quando se conta um episódio, o que se pretende é suscitar uma ligação. Este permanente empurrão para a ponte que une o espanto à ideia não será novidade para os leitores de Gonçalo M. Tavares.
No Atlas do Corpo e da Imaginação — um dos seus projectos mais próximos ao género do ensaio (embora seja arriscado falar de géneros literários quando se fala da escrita deste autor) —, podemos encontrar a seguinte chave de leitura para O Diabo: “não há ligações electivas, não há ligações boas e más”. Um leitor de Gonçalo M. Tavares é permanentemente estimulado a associar uma acção, narrada sem explicações, a uma ou a várias ideias.
Vista a forma, passemos à substância do livro.
Este O Diabo escandaliza e faz indagar sobre a origem, o estabelecimento e a banalização do mal numa sociedade, com várias alusões ao século XX (subtis mas compreensíveis, situadas no exacto ponto de equilíbrio entre o indecifrável e o evidente). Confrontado com o espanto de cada um dos episódios, o leitor é levado, por exemplo, à questão de saber se devemos ou não cumprir uma lei imoral redigida pelo diabo. Cumpri-la é o que faz uma das personagens centrais do livro: depois de ser educado com umas palas de cavalo, Alexandre torna-se num exemplo de obediência; só consegue olhar e seguir em frente, em linha recta, dizendo que “sim” com a cabeça, mesmo quando o diabo lhe ordena que meta uma menina no forno: “tem de ser”, diz Alexandre-Palas-de-Cavalo, são as regras (p. 99).
Trata-se, pois, de um livro maléfico, que nos choca fazendo uso do sentido e escusa da gratuidade: o dedo na ferida serve para questionar as várias dimensões do mal — como surge, como se estabelece, como se banaliza?
Numa das apresentações deste livro, aludindo à história do Capuchinho Vermelho, o autor começou por dizer que “a literatura vive do lobo”. Talvez este O Diabo sirva para explicar o ponto: “é bom, o susto, para as pessoas crescerem” (p. 116). O mal não é um mero artefacto medieval, mas um fenómeno real e palpável do nosso mundo contemporâneo: representá-lo é talvez um bom primeiro passo para que o possamos compreender, sem “palas de cavalo”.
O poder da fantasia de Gonçalo M. Tavares reside, entre outras coisas, no virtuosismo da parábola, o que em parte pode explicar a comparação que amiúde é feita entre a sua escrita e a de Kafka. Em termos que poderão, quem sabe, servir uma descrição sobre o escritor português, Harold Bloom (Cânone Ocidental) escreve o seguinte sobre o escritor checo: “tem algo que está perto de uma força demoníaca, e recorda-nos que o autenticamente demoníaco, ou o inquietadoramente estranho, consegue sempre o estatuto canónico”.
A grande literatura vive do mal. Este O Diabo, de Gonçalo M. Tavares, é um bom exemplo disso.

















