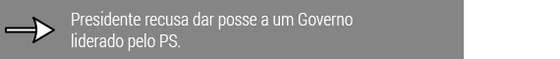É o cenário central das sondagens e aquele sobre o qual mais pistas têm sido dadas. Vamos a hipóteses:
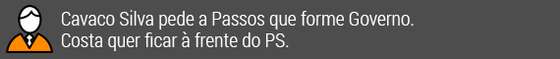

Para formar Governo conjunto ou de apoio na AR para os principais diplomas (o que é chamado na política de “Acordo de incidência parlamentar”). Conseguindo esse acordo, tudo resolvido – haverá estabilidade mínima e só a prazo poderá voltar um cenário de eleições antecipadas.

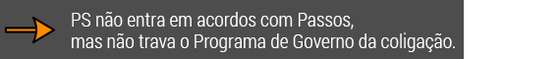
Este programa tem de ser discutido na Assembleia 10 dias depois da posse do Governo – e qualquer partido pode propor a sua rejeição. Neste cenário (vitória curta da coligação), há mais deputados à esquerda (somados os lugares de cada partido) do que à direita, mas os votos do PS são decisivos para o programa passar e o Governo entrar em funções, sem qualquer limitação.
Neste cenário, porém, Costa já avisou: vai votar contra o próximo Orçamento do Estado, que virá dois/três meses depois. O que significa que, se Costa se mantiver à frente do PS, a crise política só é adiada. Nota extra: para que este cenário se concretize, é preciso que Cavaco Silva aceite dar posse a um Governo de minoria (tal como no ponto seguinte).
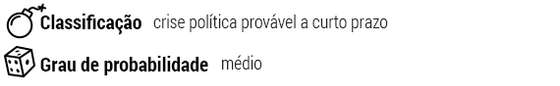
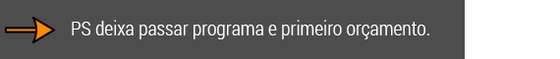
Seria um recuo de António Costa face ao que disse na campanha, mas o cenário menos mau para a coligação, mas o que mais vezes aconteceu: “O partido que ganha, governa”, lembrou António Vitorino na SIC-Notícias. O Governo Passos-Portas, mesmo sem maioria absoluta na Assembleia, tinha pelo menos um ano para governar – embora forçado a negociar legislação com o PS. Mesmo assim, em outubro do próximo ano, com o Orçamento para 2017 a chegar à AR, continuaria nas mãos do PS – único partido que pode, em tese, viabilizar a sua continuidade (nota: a aprovação de uma moção de censura é, à partida, a maneira mais fácil de a oposição fazer cair o Governo, a não-aprovação do Orçamento cria um impasse).
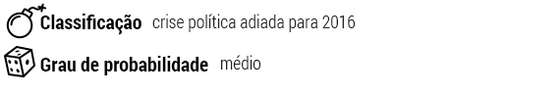
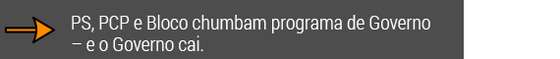
Há muitos anos que não acontece por cá, mas já tem precedente. Em agosto de 1978, quando o Governo PS-CDS de Mário Soares e Freitas do Amaral caiu, o então Presidente da República (Ramalho Eanes) deu posse a um governo de iniciativa presidencial, presidido por alguém que não era líder de nenhum dos partidos – Alfredo Nobre da Costa. Mas esse Governo foi chumbado pelos partidos logo na votação do programa de Governo, levando à convocação de eleições (com uma diferença – o de Nobre da Costa tinha sido nomeado e não eleito). Se se repetisse o cenário, porém, Cavaco Silva não poderia fazer o mesmo – nos últimos seis meses do seu mandato, o PR está impedido de convocar eleições.
Dito de outra forma: se agora PS, PCP e BE se juntarem para chumbar o Programa da coligação, o Governo cai e Cavaco entra em modo de gestão de uma crise política, sem poder haver eleições a não ser lá para maio de 2016, depois da posse do novo Presidente.
Neste caso, de um chumbo do programa da direita, o que é que ainda podia acontecer?
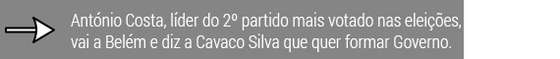
– tendo garantido apoio do PCP ou do Bloco (se este chegar para fazer 116 deputados com o PS). Com isto garante que o Programa de Governo e o 1º Orçamento do PS passem na Assembleia.
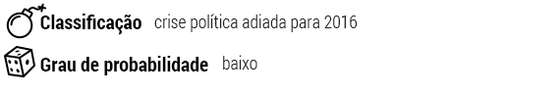
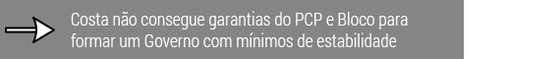
(para saber o que acontece, siga para último cenário – o número 8).
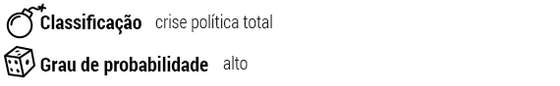
Tendo em conta a impossibilidade de um Governo estável e a sua fraca legitimidade eleitoral. Uma vez mais, há um precedente neste caso: quando em 1987 a oposição derrubou o Governo minoritário do PSD (Cavaco Silva), o PS de Vítor Constâncio foi ao Presidente Soares dizer que podia formar um governo com apoio do PRD e CDU. Mas Soares recusou e convocou eleições, que resultaram na primeira maioria absoluta de Cavaco (para saber o que acontece aqui, siga para último cenário – o número 8).
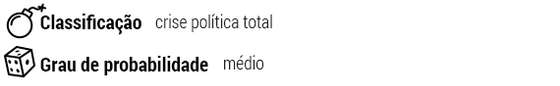
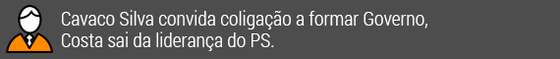
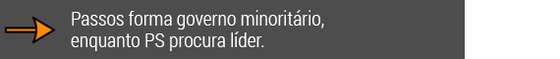
Com Costa demissionário, e o PS sem líder, os socialistas deixam passar o Programa do Governo e o primeiro Orçamento. Só mais tarde, consoante o líder eleito e a sua estratégia, se perceberá até que ponto a coligação vai ter ‘paz’ nos primeiros tempos ou se o cenário de instabilidade política volta no outono de 2016, com o Orçamento seguinte. Foi, de resto, o que aconteceu em 2009, mas com papéis trocados: Ferreira Leite tinha perdido para Sócrates, estava de saída do PSD mas viabilizou o orçamento sem negociar.
Para que este cenário se concretize, é preciso que Cavaco Silva aceite dar posse a um Governo de minoria.
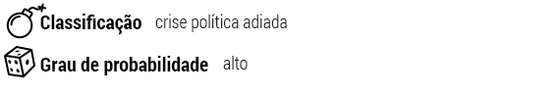
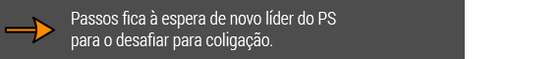
O desejo do Presidente de só dar posse a um Governo com apoio maioritário na Assembleia pode empurrar Passos para um stand-by, na expetativa que a nova liderança socialista se disponha a dialogar (e a fazer um acordo de Governo ou na AR). O cenário tem um problema: atiraria o orçamento de 2016 para mais tarde, deixando o país em duodécimos – leia-se, em dificuldades orçamentais. O atual Governo continuaria, assim, a governar em gestão.
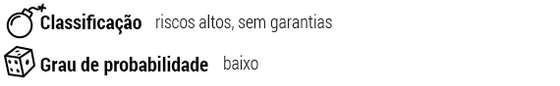


Ficando longe da coligação, António Costa não tem a opção de tentar manter-se à frente do seu partido. E com uma crise interna aberta (que se adivinha profunda) o PS acabará por dar espaço ao Governo, mesmo estando em minoria. Pelo menos no primeiro ano. O resto dependerá sempre do novo líder e da sua estratégia (sempre sabendo que a da confrontação falhou nas urnas).
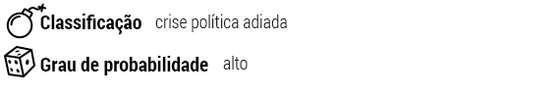
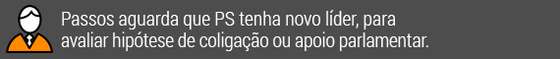
Tal como vimos no Cenário 1, Passos pode tentar formar uma coligação/acordo com o próximo líder do PS. Mas no cenário de uma vitória confortável pode até fazer o convite já com o Governo formado. Um acordo de incidência parlamentar (ou seja, sem o PS ir para o Governo) seria o cenário com maior probabilidade de sucesso.
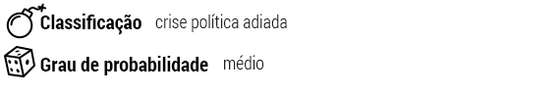


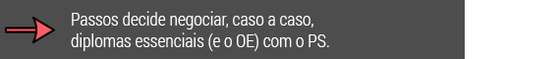
Mas recusa acordo (de governo ou de apoio parlamentar). O que Passos disse na campanha permitem antever que Passos estaria disponível para se sentar com António Costa e negociar diplomas e reformas mais sensíveis, do Orçamento do Estado à reforma da Segurança Social. A questão seria sempre até onde cada um dos líderes estaria disposto a ceder, com questões sensíveis como a redução da TSU (proposta pelo PS) em cima da mesa.
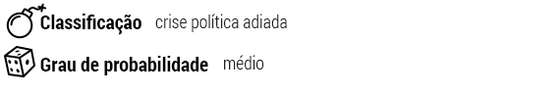

O cenário já aberto, esta terça-feira, por António Vitorino: Costa fazer como fez Guterres em 1995, negociando com Manuel Monteiro o primeiro Orçamento. Muito dependeria, claro, da situação dos centristas – se Portas seria ainda líder ou não. Uma nota mais: a única vez que o CDS esteve no Governo com os socialistas foi em 1978, quando os centristas procuravam credibilização e um lugar no eixo da governabilidade. As vezes seguintes em que ajudaram o PS a aprovar orçamentos foram de difícil digestão interna, para um partido com eleitorado conservador (caso dos Orçamentos aprovados por Daniel Campelo, o deputado ‘limiano’).
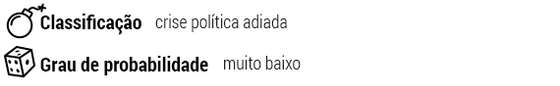
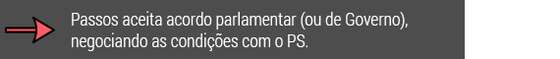
É o cenário alemão – ou seja, o que acabou por juntar até hoje a CDU de Merkel e o SPD de Sigmar Gabriel, numa “grande coligação”. Demorou três meses a negociar, mas permanece estável até hoje. É, dizem alguns, o cenário preferido do Presidente se não houver uma maioria absoluta, que gostaria de sair de Belém com um Governo estável. As diferenças programáticas entre os dois partidos não são insuperáveis, mas o que se disse na campanha (Passos nunca excluiu totalmente, mas avisou sempre que os partidos são inconciliáveis) e a falta de hábito negocial em Portugal não o colocam como um cenário provável.
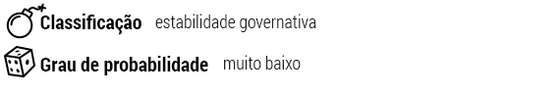
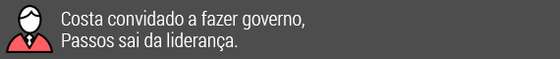

É o inverso do descrito no cenário 1: António Costa faz um compasso de espera, pressionado pela vontade do Presidente de se conseguir um Governo com apoio no Parlamento. A melhor hipótese que teria era a chegada ao PSD de um líder com o perfil de Rui Rio, com quem tem boas relações. Mas o histórico da democracia portuguesa não é farto em líderes que chegam com disponibilidade para apoiar um Governo – embora Marcelo Rebelo de Sousa tenha usado a adesão ao euro, de 1996 a 1999, para aprovar três orçamentos de Guterres. Problema prático: a espera pode demorar três meses e adiar, com isso, a entrada em funções do Governo e o primeiro orçamento.
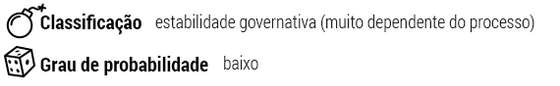

Repete-se o ponto descrito acima: o CDS é uma opção possível, porque deve ter deputados suficientes para fazer uma maioria com o PS. Mas é um parceiro incerto (e até com anticorpos no PS).
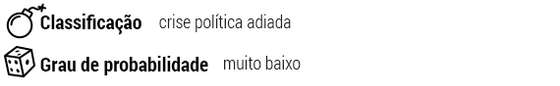

Em mais de 40 anos de democracia, só por uma vez o PS tentou esta hipótese, como se disse acima: quando Vítor Constâncio (então líder socialista) levou a proposta de Governo PS/CDU/PRD a Mário Soares e este rejeitou. O tom da campanha eleitoral e as enormes diferenças programáticas que separam PS, CDU e Bloco (sobretudo os dois primeiros) tornam este cenário muito difícil – sobretudo pelas políticas europeias, orçamentais e sociais – que são, hoje em dia, quase tudo. Mas havendo acordo, o Presidente não o podia recusar.
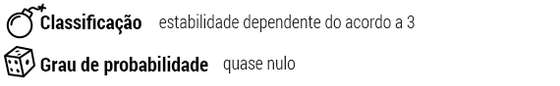
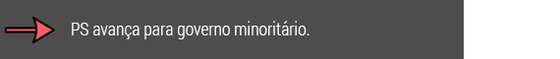
Sem outras hipóteses, Costa levará um governo de minoria a Belém, garantindo a Cavaco que está em boa posição para dialogar com partidos à direita e à esquerda (o que tem dito na campanha). O primeiro obstáculo pode estar em Cavaco, que tentará puxar por um acordo mais estável (à direita). O segundo obstáculo é fazer passar o 1º Orçamento. Mas aqui a vida é mais fácil para Costa do que seria para Passos, visto que a direita se tem mostrado aberta a negociar tudo o que for essencial para a estabilidade.
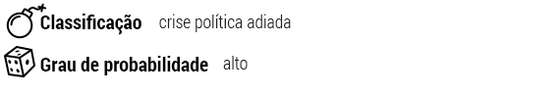
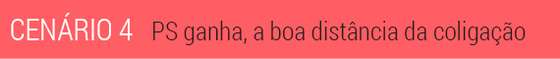
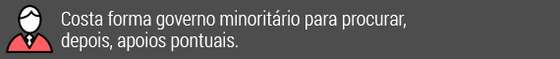
Com um bom resultado (que seria, nesta fase, surpreendente), Costa ganharia espaço para propor a Cavaco um Governo de minoria. Garantias de estabilidade: a capacidade de diálogo à esquerda e direita, a saída certa de Passos (que levaria o PSD a uma difícil procura de novo líder) e a disponibilidade à direita – dita durante a campanha – para negociar o que fosse importante. Tudo poderia funcionar pelo menos no primeiro ano, dependendo o resto da legislatura dos novos líderes do PSD e CDS.
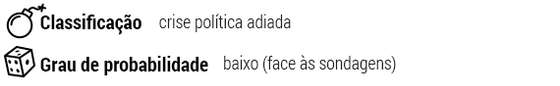
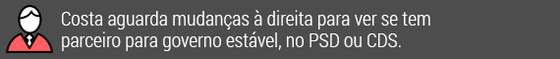
Tal como vimos no Cenário 1, Costa pode tentar formar uma coligação/ acordo com um dos próximos líderes à direita – provavelmente só depois de estes serem eleitos.
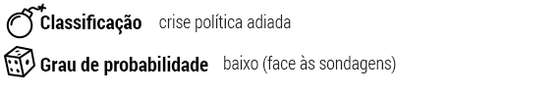
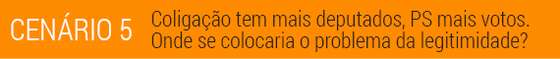

Neste cenário, Cavaco deve dar prioridade a quem tem mais deputados, convidando a coligação a formar Governo. Mas a disponibilidade do PS para entrar em negociações será muito reduzida, ancorando-se na legitimidade de ter mais votos (e de a esquerda ser maioritária na AR). O perigo de uma crise política seria iminente – logo no primeiro orçamento da direita minoritária, que Costa já ameaçou chumbar.
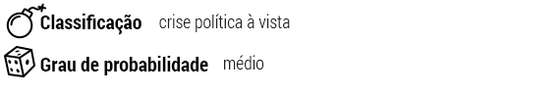
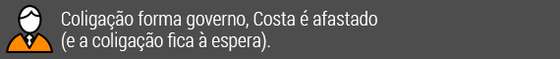
Se Costa sair do PS, pelo próprio pé ou afastado, a coligação ganha tempo – mas não a paz. O líder que se seguisse nos socialistas sabia que podia escolher o timing de uma crise política, derrubando o Governo num Orçamento (a partir de 2016) ou através de uma moção de censura.
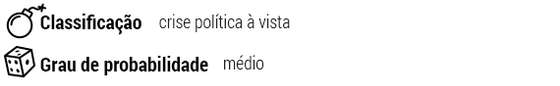
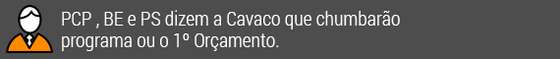

E faz com que o ónus da instabilidade política fique com os partidos à esquerda, avaliando depois se Costa tem uma proposta de Governo com mínimos de estabilidade – o que implicava um acordo com o Bloco de Esquerda (mais provável do que com o PCP, apesar das enormes diferenças entre os partidos e a natural indisposição do Bloco para entrar num Governo). Caso falhasse, teríamos que passar para o último cenário deste trabalho.
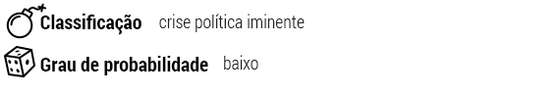
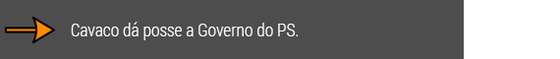
(Se tiver garantias à esquerda de que Programa do Governo passa e 1º OE também). A direita ficaria a clamar contra o golpe da esquerda e, com isso, menos predisposta a cumprir o desígnio da campanha de viabilizar o primeiro orçamento. Mas PSD e CDS não teriam, juntos, deputados suficientes para derrubar o Governo, nem orçamentos.
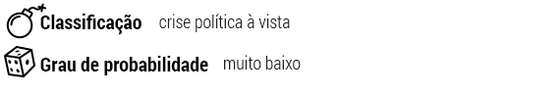


Os resultados de domingo colocariam Coligação e PS separados por três ou menos deputados – forçando os líderes e o Presidente a esperar que sejam enviados para Portugal os votos dos emigrantes espalhados pelo mundo. Como esses resultados podem chegar apenas até dia 14 de outubro, isto deixaria os partidos em ebulição – e sem certezas quanto a quem será convidado a governar. O cenário central, aqui, favorece a coligação: diz o histórico que é costume ganhar por 3-1 (mas em 1999 foi o PS a vencer por esse resultado).


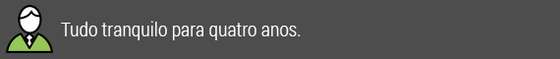
O primeiro-ministro eleito com maioria consegue formar Governo e preparar as medidas necessárias. O líder do maior partido da oposição (e até dos pequenos) vai para casa. Uma crise política só aconteceria por motivos extraordinários e imprevisíveis.
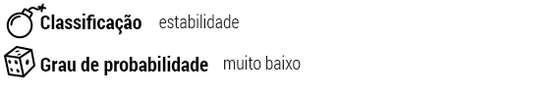

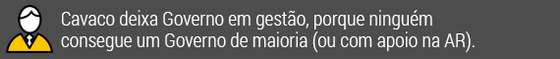
Há meses que o Presidente alerta para a necessidade de se garantir estabilidade. Mas a opção de deixar Passos e Portas em gestão até depois das presidenciais (altura em que podem ser convocadas novas legislativas), é muito arriscada: sem poderes por exemplo para aprovar um Orçamento, sem a legitimidade de um Governo saído das urnas, poderia arrastar o país para um problema complicado, face à desconfiança dos investidores.

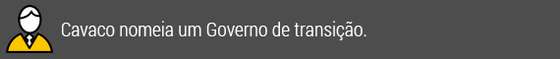
O Governo de transição serviria para que, com plenos poderes, pudesse conduzir a governação até depois das presidenciais, quando se puderem marcar eleições outra vez. Será o cenário mais estranho, mas não há nada na Constituição que o impeça formalmente. Em Portugal, de resto, isto já aconteceu uma vez: em julho de 1979, Maria de Lurdes Pintassilgo foi encarregue de chefiar um Governo de curta duração até às eleições que levaram a AD de Sá Carneiro ao poder. Mesmo assim, esse governo precisava de ter a bênção da maioria dos deputados na AR – leia-se, dos maiores partidos.
Já agora, mais dois problemas neste cenário: há constitucionalistas que contestam a possibilidade de o Presidente tomar tal iniciativa; e Cavaco Silva tem sempre recusado qualquer opção que não venha dos partidos (nem na crise política de 2013 o fez).

Grafismo: Andreia Reisinho Costa