Numa altura em que assistimos à “maior migração da história”— em 2050, dois terços da humanidade estarão a viver em cidades —, o historiador Ben Wilson dedica-se ao estudo intensivo dos ambientes urbanos que, em tempos de pandemia, contribuíram para o espalhar “veloz” da Covid-19, com os sucessivos confinamentos a ilegalizarem “as vantagens das cidades”, incluindo “os encontros casuais” outrora dados como garantidos.
Wilson, formado em História, consultor de vários programas de televisão e presença assídua nos media, esteve em Lisboa a promover “Metrópoles. A história da cidade, a maior criação da civilização” (Edições Desassossego). Um livro que recua sete milénios no tempo até Uruk, “a primeira cidade do mundo”, e viaja por diferentes épocas e destinos, incluindo Lisboa do século XV, para desenhar o trilho da urbanização até aos dias de hoje.
Em entrevista ao Observador, Wilson comenta que, tradicionalmente, as cidades não fizeram muito pela saúde mental das populações, ainda que o tema esteja, muito provavelmente, em agenda num futuro próximo: a pandemia inverteu a existência citadina e fez muitos de nós questionar modos de vida e virar a atenção para o campo. Se os meios urbanizados podem contribuir para problemas como a ansiedade e a solidão, eles conseguem também “suportar muita dor” e ser muito “resistentes”. Afinal, as cidades “não são os edifícios — eles podem ser destruídos por bombas —, mas sim as pessoas que lá vivem e que estão preparadas para fazê-las funcionar”.
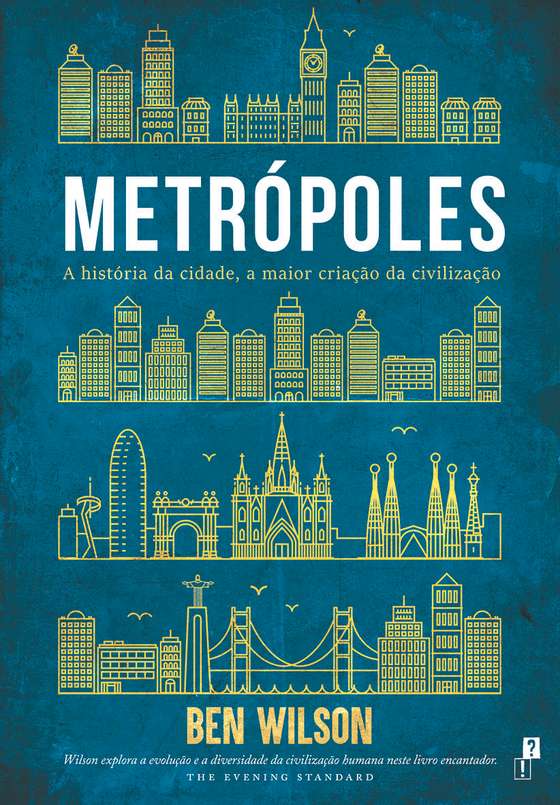
O livro está à venda por 22,20 euros desde o dia 28 de outubro
O que é que faz da cidade uma cidade?
Essa é uma pergunta muito difícil. Já tinham existido assentamentos, mas Uruk [a primeira cidade do mundo] é diferente no sentido em que há uma organização em redor de um lugar sagrado, há densidade e especialização das pessoas que lá vivem — não são apenas agricultores ou pessoas envolvidas numa atividade específica, existe diferenciação de capacidades —, mas há também burocratas, o que leva à criação de hierarquias, e ainda uma forma de registar essa informação. Soa mais técnico do que é, mas estou a tentar diferenciar em relação a tudo o que veio antes. Se tivesse de escolher apenas uma palavra, seria complexidade.
No início do livro refere-se à Epopeia de Gilgamés, “a mais antiga obra literária sobrevivente da Humanidade”. Nela é relatado o dilema entre a natureza e a cidade. O homem ganhou muito com as cidades, mas o que é que perdeu?
A cidade é demasiado limitadora para Gilgamés… E isso é um ponto de vista muito moderno, mas penso que a história está cheia dessas tensões. Fazemos sacrifícios para viver nas cidades, pelo que obviamente há um lado bom: são lugares de enorme riqueza e também de doença, mas faz parte da lotaria de viver nela. Talvez tenhamos perdido [algo] mais cedo, com a revolução agrícola. Perdemos o estilo de vida nómada dos caçadores coletores. Se agora atribuímos glamour a isso é porque é o oposto de como vivemos e é [um estilo de vida] mais sustentável — a projeção no passado reflete as nossas ansiedades.
Diria que ganhámos muito enquanto espécie em termos de maximizar o nosso poder cerebral coletivo. Numa escala macro, a cidade permitiu o aumento da população, do conhecimento e da invenção — nada disso vem sem um preço e é assim que devemos olhar para as coisas. No grande esquema das coisas, o progresso da civilização é possibilitado pelas cidades. O que sentimos sobre a civilização, se esse foi ou não um bom passo, é uma pergunta impossível de responder porque sabemos muito pouco. Mas sabemos, sim, que sem a cidade não estaríamos aqui e muitas pessoas pagaram o preço por isso — a cidade extraiu o sangue e suor de muitos e deixou uma pegada enorme no ecossistema.
É uma ideia contínua, aquela de que podemos aperfeiçoar as cidades?
Sim. Por muito que celebremos [as cidades], também as tememos pelo que elas nos fazem enquanto pessoas, como elas mudam a nossa natureza. Estamos constantemente à procura de respostas para a cidade — já houve tantas versões diferentes de cidades. Muitos pensadores, ao longo da história, têm colocado a pergunta “O que estamos a fazer de errado?” ao invés de verem [a cidade] como um reflexo de nós. Temos falhas e a cidade é apenas um reflexo de nós, mas [há] esta ideia de aperfeiçoamento quase como se ela fosse uma máquina — se fizermos uma máquina melhor, como resultado, as pessoas serão melhores. Mas essa é uma ideia perigosa, no sentido de tentar criar ou impor uma ideia do que seria bom para os seres humanos. Ainda há muitos sítios no mundo em que a cidade ideal está a ser construída, como na China ou na Coreia do Sul.

▲ O autor Ben Wilson fotografado na varanda do Hotel Florida, junto à Avenida da Liberdade
FILIPE AMORIM/OBSERVADOR
Ao longo dos tempos, parece que há duas formas díspares de se falar nas cidades: por um lado são “confusas, desordeiras e sem senso”, por outro, “hipermodernas e reluzentes”. Vai sempre existir esta dicotomia?
Sim, penso que sim. Acho que está profundamente implantada na nossa cultura, na nossa forma de ver as coisas. Vivemos numa altura em que a urbanização é uma forma de modernização e de transformação económica. O urbanismo orientado para o crescimento económico — que era um modelo chinês e está a ser exportado para África — é um tipo muito particular de urbanismo, é muito sobre destruir bairros para criar o “look and feel” de uma cidade moderna. É muito diferente do modelo japonês, por exemplo, que é crescente e que tende a ser visto nas cidades que conhecemos e gostamos de visitar, incluindo Nova Iorque — não deixam de ser cidades que cresceram em cima umas das outras, que revelam os traços da sua história.
Olhando para Songdo, na Coreia do Sul, as cidades do futuro serão por encomenda?
[No sentido de] podermos comprá-las diretamente da prateleira? Sim e não. Sim, no sentido em que vemos isso, por exemplo, em Lagos, na cidade Eko Atlantic, que é uma espécie de Dubai — é como uma cidade instantânea que podemos encomendar, mas apenas para os ricos. Não, porque muita da urbanização não é planeada e acontece mais depressa do que o que as infraestruturas conseguem suportar. Sim, podemos acabar por ficar com um misto dos dois se não tivermos cuidado — seria desastroso porque não seria apenas uma dicotomia metafórica, mas sim real, aplicada a cidades verdadeiras. Mais do que uma hierarquia, poderia até criar uma divisão óbvia, duas cidades dentro de uma.
Parece um cenário muito distópico…
Sim, mas no Google Earth conseguimos ver favelas ao lado de arranha-céus — está a tornar-se algo muito característico. Isso não é diferente da Nova Iorque ou de Berlim do século XIX, cidades que estavam a crescer de forma mais rápida do que a resposta habitacional. Muitas das favelas ou morros, o que quisermos chamar, estão nos sítios que mais vão ser impactados pelas alterações climáticas — há aí uma óbvia desigualdade [além do resto].
Mas o objetivo de sítios como Songdo é criar espaços para uma elite global muito rica ao nível de investimentos, elite essa que encara as cidades como um bom sítio para investir dinheiro, mas é preciso que tenha o tal “look and feel” de uma cidade global. E agora há o problema do tipo de cidade produzida em massa que vemos em todo o mundo desde os anos 1990 em reação e inspirado no urbanização chinesa, de cidades que querem o horizonte citadino, que crescem em altura mas sem qualquer tipo de propósito, com um efeito determinante na cidade em si. A não ser que estejam muito bem desenhadas, estas cidades criam muitas zonas mortas, no sentido em que a vida de rua é assassinada. Acredito que a vida de rua é o pulsar, a alma de uma cidade. Quando olhamos para o horizonte de Xangai vemos que ele está cheio de arranha-céus, é bastante bonito, mas a distância entre esses arranha-céus cria zonas muito estéreis.
A vida nos subúrbios também está a mudar: estas zonas estão cada vez mais integradas na cidade?
Acho que ainda está no processo de acontecer, mas as cidades estão sempre a mudar, acho que é isso que é fascinante nelas. Os subúrbios, especialmente no universo anglo-saxónico, eram muito convencionais, aborrecidos. Os subúrbios mudaram. Em Londres como em Los Angeles mudaram de um lugar muito conservador, restritivo e dominado por caucasianos para sítios que começam a refletir a “cidade interna”, com o bom e o mau. Tornam-se sítios mais cosmopolitas, onde as pessoas vêm construir vidas. Uma das coisas interessantes sobre as cidades é que visitá-las não é necessariamente ir ao seu centro, mas explorar as partes menos conhecidas porque a história está a acontecer ali.
A expansão das cidades é uma coisa que o preocupa?
Acho que temos de ter cuidado em relação à expansão das cidades porque traz danos ecológicos. As cidades baseam-se sempre nos meios de transportes predominantes e os carros são muito perigosos para elas. Os carros destroem cidades e a quantidade de espaço que lhes damos é enorme, fazem a vida de rua muito difícil. Viver numa densidade razoável deixa mais espaço para a natureza, o que é naturalmente uma coisa boa, não nos podemos expandir indefinidamente — as cidades são o maior emissor de carbono. Fazer cidades mais eficientes é bom para todos nós. As cidades são sítios adaptáveis.
Acho que as cidades do futuro não vão ser estas superestrelas globais, mas sim ser cidades onde as pessoas querem viver. Até porque estamos a ficar mais acostumados à ideia de trabalhar a partir de casa — talvez não tenhamos de viver em caixas de sapatos em cidades globais, talvez haja uma distribuição mais igualitária de funções e finanças.

▲ Ben Wilson estudou na Pembroke College, em Cambridge, onde se formou em História
FILIPE AMORIM/OBSERVADOR
As alterações climáticas são uma das grandes questões para o futuro das cidades, mas, a curto prazo, temos a pandemia. Depois da pandemia ascendem as questões da saúde mental. Como é que a cidade se vai adaptar a isso?
Tradicionalmente, as cidades não fizeram muito pela saúde mental das populações, não [é um tema que] tem estado na agenda, mas acho que provavelmente vai estar. Isso é, de certa forma, provisão de serviços. Noutro, há formas em como as cidades se podem adaptar para se tornarem mais verdes. Isso vai resolver o problema da saúde mental? Não completamente, mas é parte de como uma cidade se pode adaptar em torno disso — sabemos que há uma série de estudos que fazem a conexão entre o acesso à natureza e uma melhoria ao nível da saúde mental. A cidade também é parte do problema, através da ansiedade e da solidão [que promove]. As cidades tornaram-se em sítios mais solitários. Até muito recentemente, tínhamos de estar em público a toda a hora, as casas eram más, não tínhamos cozinhas equipadas e não tínhamos o entretenimento em casa que temos hoje. Antes, as pessoas não conseguiam existir numa sociedade sem serem sociais, agora já não vivemos as nossas vidas assim.
Durante o confinamento muitas das vantagens das cidades — a comunidade, os encontros casuais com as pessoas — tornaram-se, de repente, ilegais. O que sobra se não houver uma rede de contactos ou tecnologia? Acho que as cidades enfrentam estas crises periodicamente. Elas conseguem absorver muita dor, conseguem ser resilientes. É surpreendente como no passado elas conseguiram superar [desafios diferentes], acho que tem que ver com a solidariedade das comunidades. As cidades não são os edifícios — eles podem ser destruídos por bombas —, mas sim as pessoas que lá vivem e que estão preparadas para fazê-las funcionar.
As cidades vão durar para sempre?Acho que estamos a começar a perceber o quão insustentáveis são. O problema atual é que as cidades consomem mais e mais, e criam muito lixo — para onde vai o lixo? Muitas cidades no mundo são costeiras e correm riscos com o aumento do nível das águas e com as inundações. As cidades contribuem para a degradação de ecossistemas. Se vão ser capaz de parar as alterações climáticas a nível global e os seus efeitos? Temos de pensar com muito cuidado se queremos que elas sobrevivam — de onde vem a sua comida e a energia e para onde vai o lixo. Até estarmos preparados para fazê-lo, duvido que as cidades sejam sustentáveis a longo prazo.
A pandemia inverteu a vida citadina: a cidade corre o risco de ser trocada pelo campo?
Tem muita sorte quem pode tomar essa decisão. Pelo menos foi o que pensei quando ouvi isso durante o início da pandemia, como se tivéssemos uma escolha. Mas para ir para o campo é preciso ser-se muito rico, para começar. No mundo desenvolvido, as pessoas vão para a cidade porque têm de ir para a cidade, onde estão os meios para uma pessoa ganhar a vida de uma maneira que fica cada vez mais difícil no campo, à medida que menos pessoas arranjam trabalho na agricultura. Há uma grande mudança no mundo na forma como as pessoas estão empregadas e isso significa que é preciso mudarmo-nos para a cidade, quer queiramos quer não. Há uma quantidade limitada de campo para as pessoas se mudarem — e as pessoas só vão replicar a cidade noutro lugar.
Se as pessoas querem sair da cidade, talvez [a pandemia] tenha acelerado o que elas fazem naturalmente no decorrer da vida. Acho que os jovens têm de estar na cidade e isso é desejado que aconteça porque os expõe a uma gama de experiências de vida, à diversidade, a diferentes formas de viver e de experimentar… que simplesmente não estão disponíveis no campo.
Mas a cidade também pode ser encarada como uma prisão porque essas experiências culturais e sociais não estão reservadas ao campo…
Isso é verdade. Mas é ao concentrar as coisas que temos… não poderíamos distribuir museus, bibliotecas ou óperas pelo campo… não acho que isso fosse resolver o problema. Existe mais eficiência quando há a concentração dessas coisas. A densidade também promove encontros casuais. A cidade maximiza essas hipóteses — não acredito que a cidade esteja a roubar algo ao campo, acho é que há maneiras muito diferentes de viver.
Está na moda o preconceito contra a cidade em detrimento do campo? Concorda que parece existir essa tendência?
Sim, acho que existe. Às vezes dá muito prazer estar nas cidades e ver o mundo desenrolar-se. Ainda ontem à noite o fiz, assim que cheguei a Lisboa. [É prazeroso] sobretudo depois da pandemia: esta pode ser uma altura muito boa para se estar na cidade, sobretudo se somos novos. Os regressos são muito bons. As coisas mudam, a pandemia foi um grande choque psicológico e o perigo é pensar que isto é para sempre.
Acho que o meu livro, de certa forma, é muito sobre como no passado rejeitámos cidades e a vida urbana por causa de erros que cometemos. Mas voltamos sempre a esta ideia de que ter cidades progressivas, saudáveis e viáveis é, no final de contas, a melhor coisa. A questão não é se a cidade vai regressar, mas que cidade vai regressar – existem muitas versões de uma cidade.
















