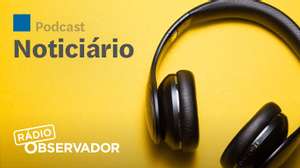Ao longo das últimas décadas, a taxa de abstenção subiu de forma generalizada em muitos países europeus, com especial incidência nas eleições europeias. As causas da abstenção são muito discutidas entre académicos. Uma das hipóteses levantadas é o enfraquecimento de organizações que tradicionalmente integravam os cidadãos na sociedade e na política, tais como os sindicatos e a Igreja. Face a esse enfraquecimento, não surgiu ainda nenhum novo tipo de organização que cumpra o mesmo papel. Outra causa possível da abstenção é o afastamento dos partidos políticos da sociedade civil. Os partidos políticos continuam a ter muito poder nos órgãos do Estado e na política, onde se instalaram, mas as suas ligações aos cidadãos e às comunidades enfraqueceram. O seu papel social desvaneceu-se. Uma das potenciais consequências desse afastamento é o declínio da confiança dos cidadãos nos partidos políticos tradicionais, levando ao aumento da abstenção. Neste aspecto, e sendo verdade que Portugal demonstra elevada desconfiança nos partidos políticos tradicionais (no final de 2018, apenas 17% dos cidadãos tendeu a confiar nos partidos políticos), também é verdade que nestes indicadores Portugal não difere muito de outros países da Europa, como a Espanha, a Itália, a Grécia e a França. Em todos estes países, nos últimos anos, o nível de confiança nos partidos tem sido igual ou inferior a Portugal. Todavia, em todos estes países, a abstenção é habitualmente inferior à Portuguesa e foi-o também nas últimas eleições europeias. Portanto, apesar de tantas vezes ser o principal alvo do debate público, a desconfiança nos partidos políticos não é o único determinante para explicar a abstenção.
Nas eleições europeias de domingo passado, a abstenção diminuiu na maioria dos países Europeus. Em França, a participação eleitoral aumentou significativamente, quando comparada com a das últimas europeias, tal como na Alemanha, na Áustria, na Dinamarca, na Hungria, na Polónia e na República Checa. Em média, a participação eleitoral nestas eleições europeias aumentou mais de 8 pontos percentuais. Em Portugal, em contraciclo, a abstenção eleitoral ficou em níveis semelhantes (e muito elevados) aos das últimas eleições europeias. Porquê?
O caso da abstenção em Portugal merece duas notas prévias. Primeiro, importa sublinhar que a abstenção real em Portugal é inferior aos números oficiais normalmente divulgados. Como é sabido, o número de eleitores recenseados em Portugal estará provavelmente inflacionado pela dificuldade de actualização dos cadernos eleitorais. No entanto, para colmatar esta falha, é possível estimar a participação eleitoral real, utilizando o número absoluto de votos registados numa determinada eleição e o número de cidadãos portugueses com idade superior a 18 anos (isto é, que cumprem os requisitos para votar). O instituto IDEA dispõe de uma base de dados onde calcula, para muitos países em todo o mundo, aquilo a que designa VAP Turnout (taxa de participação entre a população com idade para votar – Voting Age Population). Observando essa taxa, que fica corrigida para eventuais problemas com os cadernos eleitorais, podemos verificar que Portugal tem uma taxa de participação em eleições legislativas bastante baixa (61.75% em 2015), o que corresponde à abstenção de cerca de 40% da população portuguesa, uma das mais elevadas da Europa Ocidental.Nestas últimas eleições europeias, uma nova polémica surgiu quando foram divulgados os números oficiais da abstenção, que seriam os mais elevados de sempre – os números divulgados apontaram para 68.64% de abstenção. No entanto, muitos comentadores apressaram-se a relembrar que este número foi drasticamente inflacionado devido ao recenseamento automático dos emigrantes, que trouxe cerca de 1.1 milhões de novos votantes aos cadernos eleitorais (mas que permitiu cerca de 10.000 novos votantes entre aqueles que se encontravam fora do país). Não obstante, o Observador calculou a taxa de abstenção em território nacional, que não foi afectada nem inflacionada por tal mudança, e chegou a uma taxa de abstenção de 64.68%, comparada com a de 65.34% de 2014 (depois ainda teremos de corrigir estes números de acordo com o mecanismo descrito acima, o que deverá colocar a abstenção real em cerca de 62% em ambos os actos eleitorais). Isto é, ao contrário do que tem sido difundido, a abstenção não se agravou, mas manteve-se entre 2014 e 2019. Boa notícia? Nem por isso: este valor coloca Portugal com uma das mais elevadas taxas de abstenção da União Europeia e num contraciclo com muitos outros países, cuja abstenção diminuiu.
Ora, em Portugal, na noite eleitoral e nos dias seguintes, as elites políticas, assim como os comentadores, dedicaram-se a especular sobre as causas da abstenção nas eleições europeias. Para além disso, face a números historicamente elevados, da esquerda à direita, parece consensual a necessidade urgente de tomar medidas para aumentar a participação eleitoral dos portugueses. O que podemos fazer para reduzir a abstenção? O que podemos aprender com a experiência de países similares a Portugal, mas cujos níveis de participação eleitoral são mais elevados? A ciência política moderna tem uma vasta literatura sobre os motivos e, acima de tudo, boas ideias para combater a abstenção.
A abstenção é um problema porquê?
São frequentes os apelos de partidos políticos e chefes de Estado para que os cidadãos portugueses tenham maior participação eleitoral. Mas porque é que a abstenção elevada é algo negativo? Esta pergunta é fundamental e não tem uma resposta definitiva.
Em 1957, o economista Anthony Downs notou o aparente paradoxo do acto de votar. É extremamente improvável ser o nosso voto a decidir a eleição e, no entanto, milhões de pessoas estão dispostas a gastar o seu tempo a informarem-se, deslocaram-se, ir para as filas e votar. Após estabelecido o paradoxo de Downs, alguns politólogos tentaram perceber melhor o que motivava as pessoas a deslocarem-se às urnas. E, de facto, descobriram que o que motiva as pessoas a ir às urnas não é o potencial benefício objectivo e limitado do seu voto singular, mas sim um benefício pessoal mais subjectivo: a sensação positiva de responsabilidade cívica cumprida, de participar activamente na democracia em que vivem, de expressar a sua preferência ideológica ou partidária, ou apenas de cumprir uma actividade socialmente louvada. Ora, talvez o problema da abstenção em Portugal seja simplesmente que muitos portugueses tenham deixado de sentir qualquer prazer em participar no nosso sistema político ou de expressar o seu apoio a um partido.
Em geral, é difícil de interpretar o que significa ao certo o número da abstenção, uma vez que a decisão de não ir votar poderá ter na sua base motivações muito diferentes (que provavelmente coexistem entre os vários eleitores abstencionistas). Uma interpretação benigna da abstenção vê a decisão de não ir votar como uma demonstração de que o cidadão não se sente demasiado descontente nem preocupado com o funcionamento da democracia, pelo que não tem necessidade de se envolver nos conflitos sociais e políticos existentes. Em geral, a existência de conflitos e clivagens muito salientes na sociedade leva os eleitores às urnas, uma vez que o que está em jogo é importante. Por exemplo, as primeiras duas eleições legislativas portuguesas após o 25 de Abril tiveram taxas de participação muito elevadas, o que poderá ser em parte atribuído à “novidade” da democracia, mas também aos níveis de conflito existentes na sociedade portuguesa (principalmente entre pró-comunistas e anticomunistas).
Este aspecto parece também consistente com o actual aumento da participação por toda a Europa, numa altura em que novos conflitos sociais e políticos se intensificaram, novos partidos políticos ganharam força e a importância e competitividade das eleições aumentaram. Como resultado, o tema da construção europeia também se tornou, por toda Europa, muito mais debatido e saliente, tendência que não se verificou no nosso país. Podemos gostar do facto de muitos destes conflitos não serem salientes em Portugal. No entanto, a ausência de mobilização pelo conflito político também pode significar que a maioria dos portugueses não considera os actuais actores e instituições políticos muito relevantes para sua vida. Isto indiciaria uma grave falha de representatividade do sistema partidário e político português. Os temas e as clivagens que os partidos políticos escolhem activar não mobilizam os cidadãos. Essa seria a interpretação mais negativa da abstenção e, se assim for, obriga a pôr em causa a legitimidade atribuída aos eleitos na nossa democracia.
Diga-se que, em certa medida, a intuição dos eleitores sobre a falta de importância do Parlamento Europeu e das eleições europeias é correcta. Ao contrário dos parlamentos clássicos, esta instituição não tem poder de iniciativa legislativa, nem tem capacidade de formar e derrubar governos. E, como tal, é expectável que as eleições europeias tenham uma abstenção maior do que as eleições legislativas. A título de exemplo, veja-se a forma como, depois de uma campanha eleitoral em que Manfred Weber era apresentado como o candidato do PPE à presidência da Comissão Europeia, o seu nome foi rapidamente posto de lado na reunião do Conselho Europeu da terça-feira passada. Por mais que a retórica da máquina europeia sublinhe a importância do Parlamento Europeu, o poder real continua nos governos e nas suas negociações.
Não obstante as deficiências institucionais da construção europeia, a abstenção é um fenómeno que importa compreender. E, na medida do possível, contrariar – independentemente das leituras, há uma certeza inquestionável: serão sempre mais saudáveis e representativos os sistemas políticos legitimados por elevadas participações eleitorais. Mas como fazê-lo?
Medidas técnicas de combate à abstenção
A abstenção eleitoral é um desafio das democracias representativas que, com maior ou menor incidência, atinge uma grande variedade de países. Como tal, por todo o mundo, soluções têm sido testadas e produzido resultados interessantes para orientar a discussão à volta de um caso mais grave, como é o português. Vejamos algumas dessas soluções – e, embora nenhuma seja infalível, todas têm provas dadas de alguma eficácia.
Solução n.º 1: coincidência temporal de eleições menos participadas com eleições mais participadas e mediatizadas. Esta é uma maneira relativamente fácil de aumentar a participação eleitoral nas eleições europeias. Adaptando a Portugal, bastaria realizá-las no mesmo dia em que se realizam as eleições legislativas ou autárquicas, que levam bastantes mais eleitores às urnas. Em Espanha, por exemplo, as eleições europeias de 2014 tiveram uma abstenção de 56.19%. Este ano, tendo sido realizadas em simultâneo com eleições regionais, a abstenção desceu para 35.7%. Nos Estados Unidos, há muito que se sabe que as eleições para o Senado e para a Câmara dos Representantes tendem a ser muito mais participadas em anos em que coincidem também com a eleição do Presidente – muito mais do que em anos intermédios. O princípio é o mesmo: a eleição mais mediatizada e participada conduz os eleitores a prestarem mais atenção no período de campanha e leva-os em maior número às urnas. E estes, uma vez lá, votam também na eleição menos participada.
Há, no entanto, uma potencial desvantagem em utilizar este método. As eleições europeias poderiam ficar ofuscadas pela campanha e temas das outras eleições e muitos eleitores poderiam simplesmente votar da mesma maneira em ambas, apenas motivados pela eleição mais importante. Esta preocupação é válida e deve ser tida em conta. Mas, assinale-se, parece de somenos em Portugal, uma vez que o próprio primeiro-ministro apresentou estas últimas europeias como um plebiscito ao governo. Para além disso, em grande medida e no fundamental, a campanha para as europeias foca-se maioritariamente nos temas nacionais. Neste contexto, juntar as eleições europeias com eleições legislativas ou autárquicas aumentaria a participação e, consequentemente, a legitimidade política dos deputados ao parlamento europeu.
Solução n.º 2: voto antecipado. O voto antecipado consiste em permitir que os eleitores se dirijam a um ou mais locais designados, sem qualquer requerimento excepcional, onde as urnas estão abertas nas semanas anteriores ao dia oficial das eleições. Um cidadão pode simplesmente deslocar-se às urnas num qualquer dia e hora do período designado como de voto antecipado e votar normalmente, exactamente como no dia das eleições. Implementado na Noruega há vários anos, este modelo mitiga as consequências dos impedimentos geográficos e de tempo dos eleitores. Em Portugal, pela primeira vez este ano, os eleitores puderam votar antecipadamente sem necessidade de mostrar uma razão excepcional. Cerca de 20.000 pessoas responderam ao apelo. Para além da necessidade de um requerimento formal, obstáculo que as boas práticas mostram que deveria ainda ser eliminado, a preparação logística não foi bem conseguida: as televisões mostraram longas filas em Lisboa e no Porto para o voto antecipado, desencorajando, assim, os eleitores a optarem por esta modalidade.
Os estudos existentes demonstram, todavia, que este mecanismo tende a levar às urnas cidadãos que têm propensão para votar e com um interesse pela política acima da média, mas que têm algum compromisso que não lhes permite ir às urnas no dia oficial das eleições. Ou seja, sendo útil, este mecanismo não tem a capacidade de mobilizar abstencionistas crónicos.
Solução n.º 3: voto postal. Este método consiste em enviar a todos os eleitores um boletim de voto pelo correio, algumas semanas antes das eleições, e não apenas àqueles que se encontram ausentes do país e que assim o solicitem. Depois de distribuídos os votos, os cidadãos podem devolvê-los também pelo correio, o que pode aumentar a conveniência do voto para muitos, nomeadamente os mais velhos, os deficientes e acamados/hospitalizados, os que residem em lugares isolados ou aqueles que não se podem deslocar no dia (ou dias) das eleições, por algum compromisso profissional ou pessoal ou simplesmente por conveniência. No entanto, é importante realçar que este método é vulnerável a vários tipos de fraude eleitoral, pelo que o boletim de voto e método de preenchimento necessitariam de algum tipo de medida de segurança acrescida.
Solução n.º 4: aumento do número de locais onde se pode votar. Em conjugação com o voto antecipado, esta poderá ser uma medida interessante. Por exemplo, duas semanas antes das eleições poder-se-iam abrir secções de voto em universidades (para tentar aumentar a participação entre os jovens), lares e centros de dia, centros de saúde, lojas do cidadão, associações culturais e de bairro, e até mesmo em centros comerciais (muito frequentados pelos portugueses). Estamos apenas a dar exemplos, claro, mas a ideia seria abrir locais de voto em locais que as pessoas costumam frequentar com tempo em suas mãos e com proximidade às suas casas e locais de trabalho.
Solução n.º 5: voto online. Esta seria uma opção possivelmente muito atraente para os jovens, que em média são aqueles que têm menos propensão a votar. No entanto, a possibilidade de fraude pode também ser elevada. Actualmente, o país com um sistema mais avançado de voto online é a Estónia, onde 30 a 40% dos cidadãos votam desta forma. Na Estónia, o cartão de identificação é um smart card que possibilita a autenticação remota segura e assinatura digital. Os eleitores que desejem votar online devem comprar um pequeno equipamento que lê esse cartão (que custa cerca de 7 euros) e que se liga a um computador. Desta forma, é possível votar online no período designado antes das eleições. Em teoria, o cartão do cidadão actual em Portugal já é um smart card com estas funcionalidades. Assim, a implementação deste tipo de voto requereria apenas uma mudança na lei, o estabelecimento de um portal online e uma maior vulgarização dos pequenos equipamentos que lêem o cartão de cidadão. Há que realçar que uma potencial desvantagem deste método de voto, mesmo ultrapassadas todas as questões de potencial fraude eleitoral, reside na difusão do acto eleitoral no tempo e no espaço, o que retiraria uma certa componente ritual de identidade colectiva existente quando se realiza um acto eleitoral num só dia entre todos os cidadãos de um país.

MÁRIO CRUZ/LUSA
Solução n.º 6: voto obrigatório. Em algumas democracias, como a Austrália, o Brasil, a Bélgica, a Grécia ou o Luxemburgo, o voto é obrigatório para todos os cidadãos – que correm o risco de pagar uma pequena multa se não cumprirem com essa obrigatoriedade. Esta é, sem dúvida, a medida mais drástica (e também a mais eficaz). Mas o voto obrigatório é extremamente controverso por razões filosóficas. Muitos opositores consideram a medida uma violação da liberdade individual dos cidadãos, os quais devem ter o direito de não participar num sistema político no qual não se revêem. Os proponentes, por seu turno, argumentam que o voto não é apenas um direito do cidadão, mas também um dever e uma responsabilidade cívica. De facto, segundo essa argumentação, os cidadãos já têm de cumprir uma série de deveres cívicos, mesmo que não concordem com eles – tais como renovar o cartão do cidadão, pagar impostos ou cumprir o Código da Estrada, estejam ou não de acordo.
Há ainda outro efeito do voto obrigatório a considerar. Este mecanismo torna as eleições bastante mais representativas da população, o que poderá ser um efeito desejável, especialmente em países com elevadas desigualdades sociais, onde a propensão a votar está fortemente correlacionada com o rendimento ou outras variáveis. Por exemplo, este artigo científico mostra como a introdução do voto obrigatório nos vários estados Australianos entre 1914-1941 levou os cidadãos das classes mais pobres às urnas, aumentando significativamente os resultados eleitorais do Partido Trabalhista e levou a uma maior despesa em programas sociais, como pensões. Em Portugal, faz falta um estudo actual que investigue se a população que se abstém tende a ser diferente, de forma sistemática, da população que vota. Serão os Portugueses que se abstêm mais pobres ou menos instruídos do que aqueles que votam, levando, assim, a uma sobrerepresentação das preferências de camadas de população que já são os ganhadores da sociedade portuguesa? Não sabemos, porque não temos dados sistemáticos sobre o tema, mas esta é uma pergunta importante de responder numa democracia representativa.
De qualquer forma, independentemente de todas as controvérsias normativas e dos efeitos colaterais, o voto obrigatório aumenta a participação eleitoral em grande escala (algumas estimativas apontam para um aumento de 30 pontos percentuais). Na Bélgica, a participação eleitoral ronda os 90%, tal como na Austrália. Na Grécia, um país semelhante a Portugal em muitos indicadores, mas com voto obrigatório (embora apenas simbólico e sem sanções reais), a taxa de participação nas últimas eleições europeias rondou os 58.5% (comparados com os cerca de 35.3% no território nacional português).
Outras medidas, como alterar diferentes componentes do sistema eleitoral, poderiam, de acordo com alguns politólogos, aumentar a participação eleitoral. Em particular, a desproporcionalidade da conversão de votos em mandatos tende a ser um factor importante. Em países onde a desproporcionalidade é grande (tais como em sistemas maioritários, de círculos uninominais), a abstenção tende a ser mais elevada, uma vez que as pessoas sentem que o seu voto é “menos relevante”, principalmente no que toca à eleição de partidos fora do centro político. No entanto, este argumento não se aplica no caso das eleições europeias, uma vez que estas já se realizam utilizando apenas um único círculo nacional de considerável magnitude, tendo, assim, um elevado grau de proporcionalidade. A única forma de aumentar ainda mais a sua proporcionalidade seria substituir o método de Hondt por outras fórmulas mais proporcionais de conversão de votos em mandatos, como o método de Sainte-Lague – mas é improvável que isso tivesse um efeito significativo na participação eleitoral.
As medidas aqui listadas são, em grande medida, técnicas. Isto é, configuram um conjunto de mecanismos que diminuiriam os custos dos cidadãos em votar, na medida em que diminuem os custos do acto de votar. Em princípio, os estudos mostram-nos que a introdução de algumas destas medidas iria diminuir a abstenção em alguns pontos percentuais. Por esse motivo, consideramos que algumas destas medidas seriam bem-vindas em Portugal (em particular, as medidas 1, 2 e 4 parecem-nos interessantes). No entanto, existem motivos que nos levam a crer que, mais do que ajustamentos técnicos, são problemas estruturais na democracia portuguesa que devem ser discutidos. e que estão na origem do declínio continuado da participação eleitoral ao longo das últimas décadas.
O problema estrutural do sistema partidário
Naquele que foi o maior estudo realizado até à data sobre a abstenção eleitoral em Portugal, os politólogos Pedro Magalhães e André Freire mostram que a abstenção em Portugal não se deve tanto a factores sociodemográficos (com a excepção da idade, que continua a prever uma grande abstenção entre os mais jovens), mas sim a factores políticos. É certo que o estudo já tem alguns anos, mas não temos evidência que nos leve a crer que as suas principais conclusões estão desactualizadas. Em particular, afirmam os autores, os abstencionistas tendem a ser cidadãos com menos interesse na política, menos simpatia por qualquer um dos partidos e menos confiança nas instituições democráticas. Assim, concluem os autores, a abstenção deve-se a “uma desadequação entre a oferta (partidária) e a procura (desidentificação dos eleitores com os partidos políticos)” (p. 158). Dito de outra forma, a elevada abstenção de muitos portugueses deve-se ao facto de estes não se reverem em nenhum dos partidos.
Esta conclusão pode parecer paradoxal numa eleição à qual concorreram 17 partidos políticos. Parece fácil argumentar que não é por falta de oferta política diferenciada que os portugueses não acorrem às urnas. Mas convém estabelecer que, apesar de os partidos concorrerem às eleições em pé de igualdade, as suas realidades são muito desiguais. Não basta estar oficialmente registado como partido e ter as listas aprovadas para ser verdadeiramente competitivo. Para serem competitivos e constituírem uma alternativa nas eleições e mobilizarem votantes, os partidos políticos necessitam de mecanismos de organização e de acesso aos media. Se o eleitor médio não conhece a maioria dos novos partidos, nem as suas propostas, a mobilização eleitoral também não aumentará.
Nesse sentido, o sistema partidário português continua a funcionar como um cartel, que cria condições que impedem a entrada de novos concorrentes. Vejamos dois pontos fundamentais. Em primeiro lugar, os partidos políticos sem assento na Assembleia da República ou no Parlamento Europeu tem extrema dificuldade em aceder ao espaço mediático. Os principais debates nas televisões tiveram como critério editorial os resultados da eleição anterior. Não é forçoso ser assim. Nos Estados Unidos, as televisões usam como critério os resultados das sondagens existentes para apurarem os candidatos com viabilidade eleitoral. Mais, estranha-se que, em larga medida, os critérios editoriais de acesso aos media sejam ditados pela lei. Numa democracia forte e saudável, os media podem, e devem, ter total liberdade para seleccionar os candidatos que entendem ser os mais interessantes ou os mais fortes. Apesar de terem um grau de articulação e profundidade políticas muitíssimo superiores, partidos como o Livre, o Aliança, o Iniciativa Liberal ou o PAN foram tratados da mesma forma do que partidos como o PTP, o PRUP, ou o Basta!. Seria, portanto, uma mudança positiva se os media se autonomizassem do Estado, assumindo as suas escolhas editoriais.
Em segundo lugar, as redes sociais são mecanismos que permitem diminuir os custos de transmissão de informação e ajudar candidatos menos conhecidos a entrar num circuito político e mediático fechado. Na esmagadora maioria dos países europeus, o Facebook e o Twitter são plataformas para os novos partidos fazerem campanha eleitoral. Em Portugal, a Comissão Nacional de Eleições proíbe explicitamente a utilização de anúncios pagos nas redes sociais, os quais permitem fazer um micro-targeting de grupos eleitorais – ou seja, um direccionamento específico de cada publicidade para um determinado segmento da população. Apesar das cautelas necessárias à utilização de redes sociais como ferramentas eleitorais, a proibição de anúncios pagos (os quais custam muito menos do que nos media tradicionais e, por vezes, são mais eficazes) visa unicamente proteger o cartel dos partidos já instalados.
Nos últimos anos, a resiliência do sistema partidário português à entrada de novos partidos (populistas ou outros) tem sido incensada por comentadores, politólogos, sociólogos e políticos como algo de virtuoso. Uma interpretação possível consiste na imunidade de Portugal ao ciclo europeu de transformação dos sistemas partidários. Pelo contrário, em nossa opinião, a imutabilidade do sistema partidário português é um péssimo sinal. A ausência de mudança não resulta da falta de necessidade/vontade de mudar ou da inexistência de mudança na própria sociedade portuguesa nos últimos 30 anos. Também não resulta da ausência de problemas gritantes na nossa sociedade. Ao contrário de outros países, os sucessivos escândalos políticos e de corrupção, e da pesada crise económica e financeira, não conduziram a novos partidos, como em Espanha ou a Grécia. O que nos torna diferentes? O que explica que, face a problemas políticos e sociais similares, o nosso sistema partidário se mantenha intacto? Para alguns, parece que o statu quo funciona bem. Importa sublinhar que, a nosso ver, a mudança do sistema partidário não quer dizer necessariamente a entrada de actores populistas e extremistas. A nosso ver, a estabilidade do sistema partidário português é criada artificialmente por várias regras formais e informais que tornam extremamente difícil a novos partidos entrar no jogo, de igual para igual.
A nossa estabilidade poderá não ser sinal de que os portugueses se sentem representados pelo sistema actual, mas precisamente o oposto: os portugueses que não se sentem representados e que não vêem nenhuma alternativa efectiva decidem sair do sistema e engrossar as fileiras da abstenção. Se estiverem verdadeiramente interessados em diminuir a abstenção, os partidos políticos portugueses devem começar por fazer uma autocrítica. Ao contrário do que sugeriu o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quando 60% da população se abstém, alguma coisa está muito errada com o sistema e não com os cidadãos. Esses podem e devem continuar a manifestar-se e a mostrar o seu descontentamento. Mas se nada for alterado, a abstenção apenas continuará a aumentar – para benefício dos partidos instalados no sistema partidário português.
Jorge M. Fernandes é investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário Europeu de Florença.
Mafalda Pratas Fernandes é doutoranda em Ciência Política na Universidade de Harvard.